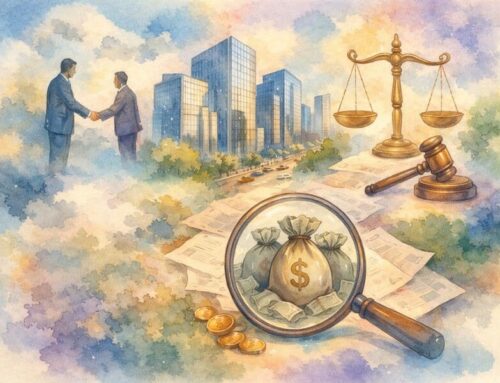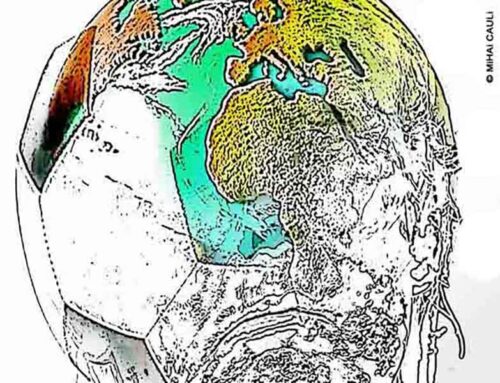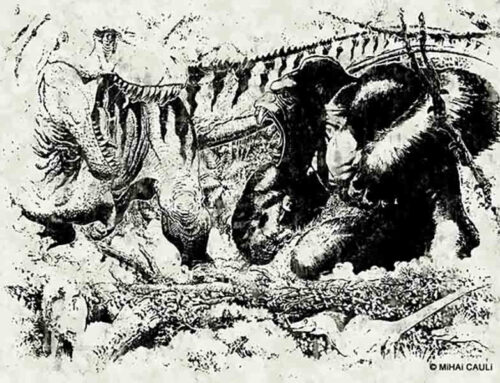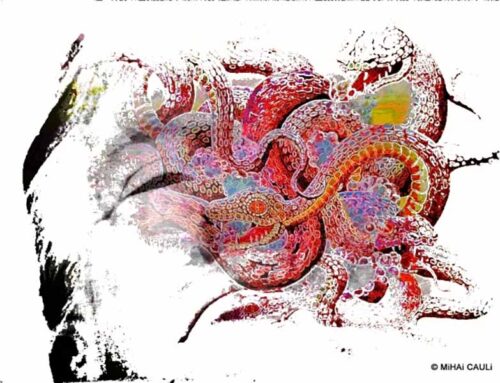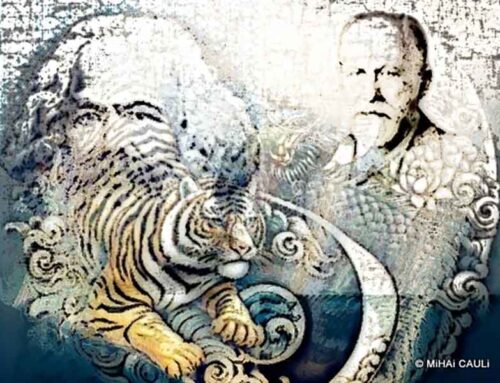Comentários sobre Via Ápia, de Geovani Martins
Para escrever sobre este livro, começo pedindo agô[1] ao Geovani e aos moradores da Rocinha, por me atrever a adentrar em um terreno sobre o qual pouco conheço. Sim, conheço a favela da Rocinha, subi algumas vezes, não como turista, sempre a trabalho, voltado para aspectos de saneamento básico em trechos das comunidades. Isso não quer dizer que a conheço de fato ou a seus moradores.
Tanto é verdade que, ao pensar no título "Via Ápia", as primeiras imagens que me vieram à cabeça foram da Via Ápia nos arredores de Roma – lugar histórico de "pegação", tendo consolidado essa fama quando do assassinato do cineasta Pier Paolo Pasolini – ou da Via Ápia de Jerusalém, a Via Dolorosa, caminho por onde Cristo passou carregando a cruz e por onde passam milhares de turistas a cada ano. A Via Ápia da Rocinha é o trajeto onde os moradores se cruzam, onde tudo acontece; é uma via de ligação entre a parte baixa, da entrada do bairro, alcançando a estrada da Gávea, sendo esta a principal (e única) avenida de distribuição que atravessa toda a favela, desde sua face leste, acima do Parque da Cidade, até sua face oeste, em São Conrado, percorrendo e serpenteando as encostas, passando por todos os seus bairros.
E porque pensei nas outras "vias Ápias" e não nesta, se, em mapa ela se localiza a pouco mais de 1 km da minha casa? Porque, por mais que possa querer dizer que sim, já andei por lá, conheço muitos moradores – sempre trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviço no meu bairro, no meu prédio, na minha casa, no asfalto, a verdade é que mesmo conversando com todos eles sobre suas realidades, trata-se de um outro universo de signos, linguagens e olhares sobre o mundo, tão próximo e tão diferente do meu. Não tenho o "lugar de fala da vivência", mas sou leitor, peço licença para expressar minha percepção sobre o livro.
É lugar comum lembrar da ideia de que, ao falar de sua aldeia ou de seu lugar, você fala do universal. Esse pensamento é atribuído a vários autores, entre eles Leon Tolstoi – "Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia" ; Isaac Bashevis Singer, que escrevia sobre os shteitel (as aldeias judaicas da Europa oriental); ao pintor Marc Chagall, que também pintava essas aldeias com imagens oníricas; mas já vi também esse conceito atribuído ao nosso poeta Ferreira Gullar e até ao amazonense Jorge Tufic. Geovani Martins é nascido em Bangu e morou em várias favelas, inclusive na Rocinha, portanto transita livremente por esse universo, das inúmeras favelas do Rio de Janeiro. Já comprovou no premiado "O Sol na Cabeça", no qual, em treze contos, percorre esses múltiplos cenários em retratos do cotidiano, permeados pela violência e discriminação racial.
Em Via Ápia, ele compõe esse quadro focado especificamente na favela da Rocinha, construindo um romance integral, formatado a partir de curtos capítulos que aparentemente se encerrariam em si mesmos, mas que vão se conectando na relação entre os personagens e com o enredo principal. Em cada capítulo, uma tensão subjacente que se resolve ou se dissipa, porém delineando traços que percorrerão todo o livro.
O que parece ser o pano de fundo, entendo que, na verdade, é o sujeito, o enredo principal: o cotidiano da favela antes da criação das UPPs no Rio de Janeiro; no momento de sua implantação na Rocinha, em 2012, e as transformações das relações sociais, da circulação e ocupação do espaço público a partir de uma nova correlação de forças entre os grupos dominantes do tráfico e a presença policial.
Com maestria, constrói o perfil e a trajetória dos cinco personagens principais, já entrando na vida adulta, com seus desafios, angústias, prazeres, sonhos e, principalmente, a consciência da limitação desses sonhos frente às oportunidades dos que pertencem ao asfalto. O que é mais comum no cotidiano entre os jovens do morro e do asfalto é o acesso e o consumo de drogas, especialmente a maconha e cocaína. Com a ressalva que o povo do asfalto tem acesso a drogas de melhor qualidade.
Geovani transita entre o uso da linguagem formal pelo narrador e os diálogos na linguagem da juventude das favelas e periferias urbanas do Rio de Janeiro. Trata-se de uma linguagem própria, quase um dialeto, com expressões específicas e também com apropriações de palavras e fonemas que são utilizadas cotidianamente pela população em geral e, quando transcritas, se apresentam da maneira "formal". Aqui se transcreve tal qual falado por esse grupo. Por exemplo, o verbo derramando, é escrito derramano. Fico me perguntando como poderá ser feita a tradução do livro para outras línguas…
Para o leitor desavisado ou com qualquer forma de preconceito, pode ser difícil percorrer os primeiros capítulos em função dessa linguagem e a força da narrativa, porém ao longo do percurso entende-se essa forma como a realmente utilizada pelos moradores. Sobre esse assunto, a linguística e os signos, muito pode-se discorrer, teórica ou praticamente. Há pouco tempo li um texto de um morador de lá (que infelizmente não guardei e não tenho como citar fonte) o qual alertava os jovens da favela que, a despeito de usarem essa linguagem no cotidiano, devem utilizar a linguagem "formal", "branca", em ambientes de trabalho, de circulação no asfalto e para serem aceitos em atividades não restritas a esse grupo. Qualquer trabalhador da área de serviços ou de manutenção etc, sabe que tem que falar o mais corretamente possível para dialogar com seus contratantes. Não se trata, então, de privilegiar uma linguagem em detrimento da outra, mas sim de poder transitar fluentemente entre os dialetos, dependendo do interlocutor. Algo que ocorre, por exemplo, na Catalunha, onde, por razões historicamente distintas ao cenário aqui mencionado, o espanhol e o catalão se misturam em meio a uma frase, à combinação de diferentes interlocutores. Porém vale perceber também como inúmeras expressões usadas pelos grupos das periferias já estão incorporadas à linguagem cotidiana do asfalto (por ex.: papo reto; caô; bora; coé; treta; mermão) e vice-versa. Mas raramente transcrita para textos formais. Também vale observar que, nas redes sociais e aplicativos de conversa, especialmente WhatsApp, essas linguagens, gírias, abreviações, cada vez mais se misturam.
Há alguns meses, tive a experiência de, no metrô, assistir à performance de um jovem violinista que deixou a mim e ao vagão como um todo boquiabertos: ele tocava a Primavera, das Quatro Estações de Vivaldi. Violino solo, usando arpejos e acordes que exigem técnica e brilhantismo. Além de recompensar sua bela execução com contribuição "via PIX", conversei com o rapaz, que me passou seu Instagram para segui-lo. Esperando ali encontrar outras belas execuções de seus solos, acabei encontrando muitas imagens e auto elegia de um jovem exibindo seu corpo dançando o funk e várias músicas, algumas delas de conteúdo extremamente machista e desrespeitoso com "as mina". Troquei algumas mensagens sobre isso com ele e reencontrando-o em outra ocasião, comentei da distância entre sua apresentação no metrô e sua imagem no Instagram, ele naturalmente me respondeu: são mundos diferentes nos quais eu transito e não posso trazer essa imagem "careta" para meu cotidiano com meus amigos… Esse meu questionamento a ele e sua resposta indicam quão distante estava meu próprio olhar da percepção de mundo e vivência cotidiana do jovem que transita entre universos tão distintos.
Se a ideia da "Cidade Partida", imagem criada por Zuenir Ventura, representa e conscientiza para a distância física entre a favela e o asfalto, especialmente em termos de acesso a equipamentos e serviços urbanos, induzindo a que os formuladores de políticas públicas trabalhem por reduzir tal distância, em Via Ápia essa diferenciação é um dado com o qual os personagens, assim como os moradores reais, são obrigados a lidar cotidianamente, quando saem para trabalhar e retornam a seu universo. E sim, adaptam ou fluem sua linguagem em cada um dos ambientes.
Mais do que tudo, percebe-se ao longo dos capítulos, o vigor da vida social e das atividades criativas, a luta pela sobrevivência diária na Rocinha e nas favelas em geral, que resistem aos desmandos e disputas entre tráfico, milícias, polícias e poder político, vigor tal capaz de gerar uma EXPO-FAVELA, como a que ocorrerá no próximo mês de julho na Cidade das Artes Bibi Ferreira. Não há qualquer visão onírica desse cotidiano ou qualquer elegia vista por um "outsider", mas há sim um sentido de pertencimento, de raízes, que não aponta para uma glamourização da vida no asfalto.
São muito interessantes os capítulos em que os jovens acessam pontos da geografia carioca, de praias e morros, para seu lazer, com o mesmo encantamento que qualquer jovem do asfalto ou aventureiro o faz. São espaços onde a dicotomia asfalto/favela se esvai, perde sua força.
Tendo evitado dar spoiler sobre a trama em si, posso registrar que Geovani Martins se firma como escritor de uma nova geração que explicita seu compromisso de desnudar e afirmar sua cultura sem submissão. Que, como em seu primeiro livro, venham as muitas traduções e premiações.
[1] Pedir agô é um termo utilizado nas religiões afro-brasileiras e Umbanda, que significa pedir licença ou permissão, em outros momentos este termo traduz perdão e proteção pelo que se está fazendo.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Clique aqui para ler artigos do autor.