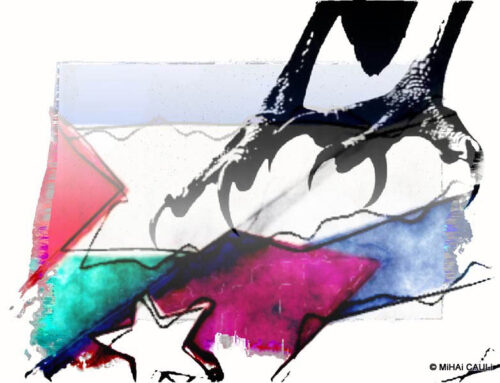Quando começo a escrever este texto, manhã de sexta-feira, 13 de outubro, já são tantos os relatos e as imagens das atrocidades emitidos desde Israel e os territórios palestinos (escolham a ordem que desejarem) que é difícil decidir por onde começar. Mas, apesar da vergonha provocada pelo massacre midiático sob o comando do Departamento de Estado americano, uma escolha tem que ser feita.
Comecemos então com a matéria levada ao ar pelo canal de notícias israelense i24 News, ligado ao ultradireitista Likud do primeiro ministro Benjamin Netanyahou. Pouco antes das quatro da tarde do último 10 de outubro, o i24 News iniciou uma emissão com a seguinte frase: "Os soldados se depararam com horrores inimagináveis ao removerem os corpos das vítimas, incluindo cerca de 40 bebés e crianças pequenas – algumas com as cabeças decepadas." Levado ao ar pela jornalista Nicole Zedeck o relato garantia que quarenta bebês tinham sido mortos e alguns decapitados pelo Hamas em Kfar Aza, uma comunidade agrícola israelense perto da Faixa de Gaza, no sábado, 7 de outubro. Como era de se esperar, a notícia foi dada como certa pelas agencias internacionais e logo se alastrou como um rastro de pólvora, publicada inclusive por midias em geral respeitadas como a BBC. Aqui na Espanha, pelo menos nove empresas jornalísticas (Antena3, El Mundo, ABC, La Vanguardia, La Razón, El Español, El Correo, e os esportivos Marca e Mundo Deportivo) repercutiram a informação. Nenhuma redação ou agência se preocupou em buscar sua origem ou em verificar a confiabilidade da fonte, citada pela repórter da i24 News: um suposto soldado israelense que "acredita que aconteceu, mas não tem certeza". Nem o NYT, quem primeiro teve autorização do exército israelense para entrar na aldeia que de fato sofreu um ataque naquele sábado, 7 de outubro, nem o diário israelense Haaretz, que também teve acesso à aldeia, se referem a qualquer barbaridade dessa natureza.
O manto protetor
A mim não agrada muito citar frases ou ditos usados ad infinitum e juntados às circunstancias de acordo com as conveniências, porque geralmente é a isso a que se prestam, e a não muito mais. Mas quem sabe batido pela exaustão moral, cedo à tentação – parece que, no final das contas, somos todos premidos pela necessidade de nos justificarmos e, mesmo quando não, é o que fazemos nessa imemorial defesa das fronteiras do ego e suas mais variadas dimensões… eu, meus filhos e minha esposa e minha família, minha tribo, bando ou torcida de futebol, minha aldeia ou cidade, minha pátria, desde o mais isolado dos indivíduos aos mais gigantescos ajuntamentos humanos, como os impérios. Repetida e repetida desde o final do século XIX, mas aparentemente ignorada, a frase anuncia, peremptória, que nas guerras a primeira vítima é sempre a verdade. Certo, mas a verdade é que já estamos ultrapassando em muito as fronteiras daquilo que até aqui conhecemos como os enxames de mentiras lançados na atmosfera para justificar as matanças e a barbárie antes mesmo que aconteçam.
Pelo menos por ora, a massiva campanha de propaganda pró-israelense está sendo executada como se por uma autêntica Filarmônica de Berlim sob a batuta afiada de um Furtwangler enfurecido. Pode ser que daqui a pouco, aqui e ali, surjam dissonâncias ou pequenas fissuras, mas que ninguém tenha grandes esperanças. O maestro é inclemente. Os palestinos são terroristas impiedosos, animais, e Israel a voz grave de Javé espargindo justiça cósmica e livrando a Terra dos pecadores. Essa ladainha diabólica a repetem (e ordenam que se repita) os comandantes das armadas ocidentais e seus porta-vozes semi-oficiais, a imprensa livre, tão imediatamente quanto é emitida desde Washington. É possível, sim, que vivamos submetidos às normas de estados laicos. Mas está virando hábito nos comportarmos como se fôramos parte de sociedades estritamente religiosas, dispostos a acreditar cegamente naquilo que nos ordenam os senhores da guerra e do capital (escolham a ordem que preferirem) e os meios de comunicação de massa a eles associados. Nesse sentido, não somos tão diferentes desses fanáticos religiosos, sejam de onde forem, que atormentam nossa encantadora civilização.
Os exemplos são tão fartos quanto um peiral bem cultivado.
Protegido por esse manto de informações orquestradas, o Estado de Israel tem atuado como se o genocídio cometido na Europa contra os judeus lhe desse um salvo-conduto perpétuo para o que lhe pareça conveniente e oportuno fazer, quando e onde lhe convier. E atua, em muitos aspectos, da mesma maneira como agiram os outros contra o povo judeu ao longo da história. Esse suposto salvo-conduto é, na prática, uma licença para matar. Sempre em nome do singular e místico slogan "Israel tem todo o direito de se defender", o Estado israelense se sente à vontade para se colocar acima da lei e das convenções internacionais que regulam ou tentam regular inclusive os conflitos armados – o que é precisamente uma das características do chamamos terrorismo.
Que o que virá tenha uma embocadura inédita é resultado da permissividade e dos apoios anteriores.
É evidente que Israel tem todo o direito de se defender e de defender a vida dos seus cidadãos. Como o tem o Zimbabwe ou o Cazaquistão, a Bolívia, a Noruega ou o Burundi. Mas à diferença dos demais países, e à semelhança dos seus padrinhos os norte-americanos, Israel se concede o direito de fazer (e faz) o que quer que julgue necessário em nome da sua autodefesa, sem outras considerações que não aquelas determinadas pelo juízo dos chefes militares e políticos (escolham a ordem…) do país.
Abdicando momentaneamente das matizações, é uma platitude dizer que as guerras são indecentes. Mas mesmo nas guerras deve haver um certo pudor e algumas regras mínimas são ou deveriam ser respeitadas. Para além dos famigerados efeitos colaterais, geralmente os bandos envolvidos num determinado conflito são chamados a não investirem sua belicosidade e sua fúria contra aqueles que não estão diretamente envolvidos no esforço de dar fim ao adversário. As leis que tentam regular a mortandade e em geral são respeitadas servem pelo menos para inibir nossa congênita sede de sangue. Assim, se as guerras são indecentes, matar civis, como o fez o Hamas é mais que indecente. É, sob qualquer ponto de vista, injustificável, beira o inominável (ainda que não devêssemos abdicar dessa capacidade e necessidade tão humanas de nominar as coisas). É óbvio, por simples lógica, que o que vale para o Hamas deveria valer também para o Estado de Israel. Mas não é assim, e não é difícil saber a razão. Nas guerras, como na política, as normas de natureza moral raramente são levadas em conta. Não há certo e errado, o que há são correlações de forças. Quem sabe não seja justamente devido à desproporção entre as forças que ao estado de Israel pouco importe que seus comandantes e porta-vozes se expressem desse modo tão franco e transparente que temos assistido.
Em algum ponto desse demencial rif-raf alguém provavelmente perguntará quem começou primeiro. Esse ponto de não retorno não costuma levar a qualquer outra geografia humana que não aquela a que chegam os personagens do livro Abril Despedaçado do escritor albanês Ismail Kadaré (transposto para o cinema e para a realidade do Brasil pelo diretor Walter Salles). Seus atos estão regidos por um centenário e não escrito código de honra, o Kanun. E nele se determina que o sangue retirado de um clã, pela morte de um dos seus, deve ser recobrado na morte de um membro do clã rival e assim sucessivamente. É bastante natural que essa sequência de assassinatos tenda a se repetir ad infinitum – tanto quanto os ditos que por vezes nos esclarecem sobre a natureza dos nossos atos e as mentiras às quais eles se referem.
Essa desinibição de ambos os bandos, no entanto, tem origens diferentes. O Hamas atua com os olhos voltados quase que exclusivamente para o público interno, aquela massa de miseráveis e excluídos que foi se acumulando ao longo das décadas e que não vê perspectiva que não a da rendição ao ódio contra os israelenses e ao terrorismo, e para a disputa política e ideológica com as organizações rivais. Estão se lixando para o que pensa o público ocidental, seus porta-vozes e os meios de comunicação de massa – é bem pouco provável que os jovens palestinos encurralados em Gaza levem em consideração a leitura diária do NYT ou as emissões da CNN. Israel, por sua parte, atua com o despudor orgiástico daqueles que não temem jamais que sua imagem seja maculada ou, ainda que seja, que o manto protetor se desfaça no ar.
A essa altura, no prelúdio da prometida represália contra o Hamas, ninguém sabe calcular a dimensão do que será levado a cabo pelo exército de Israel na faixa de Gaza – não que já não fosse mais que suficiente o ultimatum determinando que centenas de milhares de pessoas abandonem suas residências. O discurso das autoridades civis e militares do país anuncia algo nunca visto. O próprio Armagedon, quem sabe. Absolutamente nenhuma preocupação em manter as aparências. As mídias, após alguma condenação por eventuais exageros, se esconderão por detrás de uma já então inócua e patética equidistância para registrar a magnitude do desastre.
Sarajevo e a língua dos antepassados
Enquanto encerro este artigo, por mero acaso me encontro em Sarajevo. E contemplando a tarde outonal às margens do rio que corta a cidade ouço a voz grave de Benjamin Netanyahou, como certamente será a voz do próprio Javé, invadindo e ocupando o espaço vazio da paisagem. A voz e, logo, o espanto provocado pelo que pode estar contido na promessa proferida no hebraico claro do primeiro-ministro: "Isso é só o começo… Isso é só o começo". Não é tanto pela brutalidade da ameaça. Netanyahou é em grande parte responsável pelo recrudescimento ininterrupto das tensões na Palestina nas últimas três décadas e por esse ápice repugnante que afinal está se produzindo. O espanto, na verdade, é que esse homem fale alguma língua. Mesmo que essa língua seja a milenar língua da Bíblia dos seus antepassados.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Leia também "Israel e Hamas: onde está a verdadeira linha divisória?", de Slavoj Žižek.