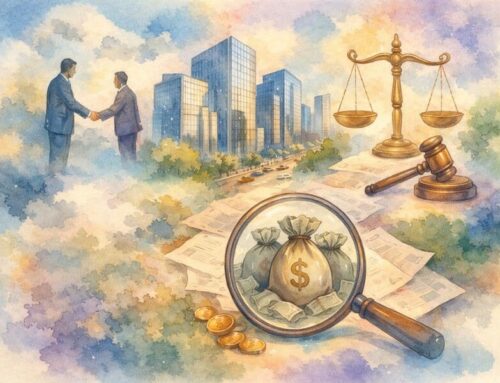Como outros psicanalistas, li alguns livros e assisti a muitos filmes através dos caminhos narrativos de meus pacientes. Isso significa que esses livros, filmes, peças de teatro e poesia (alguma) me chegaram primeiro de modo fragmentário, parcial e inevitavelmente amalgamado às histórias de vida das pessoas que eu atendo. Pela via da clínica, assisti a esses filmes no modo corte-e-recorte de vidas narradas, contadas às vezes em detalhes, no molde único de cada analisando e pela linha e agulha de seus sintomas.
Alguns desses filmes eu já havia assistido, outros, assistiria depois; ou mesmo não assistiria, ficando assim com uma "memória de filme" na qual há sempre duas assinaturas, a do diretor e a do paciente, cabendo a mim uma edição final provisória.
Mais recentemente, e por mais de uma pessoa, venho assistindo no consultório uma série relativamente feita para a televisão: Adolescência. Por agora, lamento cada novo spoiler trazido aqui, inevitáveis a partir deste ponto em diante.
Sem discutir o grau de qualidade artística da série, engrosso o caldo dos que "reagiram" com reflexões e sobressaltos a alguns de seus inumeráveis tópicos; aliás, talvez seja esse o maior mérito desta produção inglesa: apresentar ao expectador uma série de fios, ficando a cargo de cada um escolher alguns desses fios e pensá-los no registro de sua "bolha" e de suas afiliações teóricas.
Já no primeiro episódio – que gira quase todo em torno do encaminhamento policial do crime central – fui provocado pelo modo como o senso comum (olhar integralmente assumido pela série) toma as relações entre causas e efeitos psiquicamente adoecedores, como se evidencia pela articulação de certos elementos da vida do garoto e as suas "razões" para o assassinato da menina.
Pensando no contexto do qual emerge essa multiplicidade de questões, poderíamos começar pela própria definição de "adolescência", objeto de disputas entre campos do pensamento – da psiquiatria ao direito, com passagem pelo marketing – que por alguma razão outorgam às suas respectivas disciplinas o privilégio de serem chaves de entendimento para essa fase de nossas vidas.
Sob o viés da psicanálise, a ideia de que a adolescência é uma "fase normal do desenvolvimento" é problemática: primeiro porque a psicanálise toma como um dos seus temas mais importantes a delimitação de fronteiras entre o normal e o patológico; depois, porque a adolescência – como composição imaginária e simbólica de si-mesmo; do que somos e de como somos – é um conjunto mal costurado de ideais depositados sobre os filhos (como dobra das próprias expectativas narcísicas, que pais e mães alimentam), frustrações geradas pela comprovação empírica de que os filhos não se tornam aquilo que os pais imaginaram que se tornariam (ou o que as próprias crianças e adolescentes imaginaram que seriam e que, de saída, já não corresponde ponto a ponto ao que os pais idealizaram para eles). Tudo isso acrescido das marcações estruturais da cultura, que tornam possível aos adultos a grande aventura de ao mesmo tempo fantasiar a adolescência como um período de "descobertas e de liberdade" e, por outro lado, vigiar e punir (obrigado, Michel Foucault!) todo o comportamento e pensamento que faça desse "lugar de adolescente", uma região que – antes pura e casta – seja aqui e ali tentada pelo demônio e profanada pelo "mal".
A impressão é a de que prevalece entre os adultos um imaginário de adolescência que poderíamos chamar de "edênico", em uma citação libérrima às Visões do Paraíso, de Sergio Buarque de Holanda; um imaginário que reservasse alguma pureza infantil à adolescência, sabendo, no entanto, que neste Jardim do Éden, se assistirá à "queda". Queda esta – imagina o adulto – que surgirá na vida adolescente como algum desajuste, ao modo de um James Dean com as suas rebeldias sem causa. Quando, ao contrário disso, surge no adolescente um jeito, um comportamento ou uma ação que se reconheça como "monstruosa", recorre-se ao emaranhado oitocentista da criminologia, que combina a psiquiatria ao direito, em busca angustiada por uma "explicação" para aquilo que se concebe como anomalia desconcertante.
Talvez a melhor proposição de Freud sobre o tema seja negativa e não positiva (no sentido que a filosofia empresta a estes termos): a busca de uma "causa", traduzida na investigação de um trauma verdadeiro que pudesse ser o ponto de origem de um diagnóstico psiquiátrico para Jamie – nosso protagonista adolescente – não precisa ser abandonada, mas deverá ser colocada em outra paisagem.
A adolescência não "passa" (como se diria de uma espécie de crise entre a infância e a vida adulta). Ou melhor, passa; mas passa tanto quanto a infância e até mesmo a velhice passam: o sujeito sempre esteve lá, como composição subjetiva em trânsito; em outras palavras, não há toda essa descontinuidade imaginada entre a infância e a adolescência, e entre esta e a vida adulta.
Uma coisa é entender que somos todos produtos de condições muito específicas, que se particularizam em cada sujeito. Outra coisa é a investigação e captura – por parte de policiais, juízes, psiquiatras e psicólogos do "trauma"; isto é, do fator (ou de um conjunto deles) que uma vez isolado como vírus, pacificaria (sem eliminar todo o horror experimentado) os expectadores da série diante do adolescente "corrompido" e, por fim, capaz de um ato psicopático.
As hipóteses e conexões causais apresentadas na minissérie são pobres e simplificadoras, mas oferecem ao expectador não a "cura" da adolescência – claro – mas uma fatia generosa de conforto neurótico ao localizar na esfera do crime e da loucura um exemplo limite de expressão adolescente.
Esta minissérie inquieta e provoca na mesma medida em que conforta: uma meia verdade aqui, uma quase mentira acolá e os pais – depois de se incomodarem e de se colocarem algumas questões – colocarão as suas cabeças no travesseiro e dormirão tranquilos, apaziguados pela explicação médica, pela medida penal aplicada, por algum entretenimento de fim de noite e pela ideia de que se o adolescente monstro de fato existe, deve morar em outra casa.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "Para o que vivemos", de Luiz Marques.