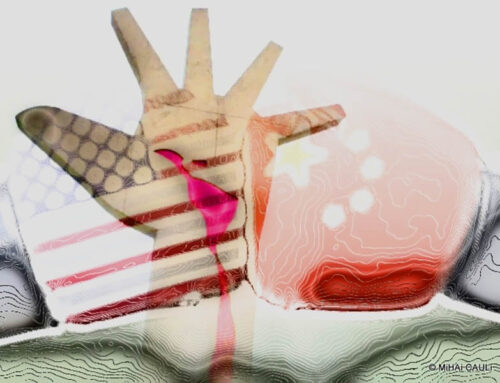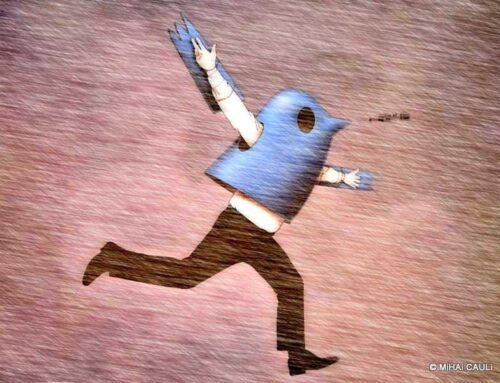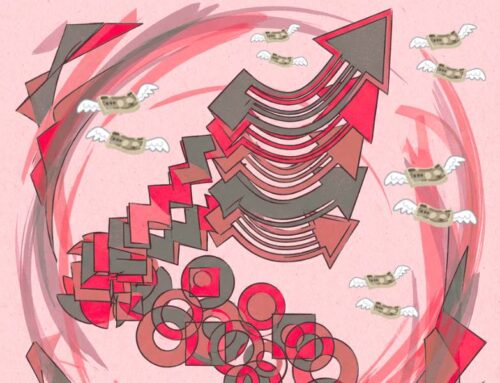Em nome da contenção da extrema direita, a própria esquerda passa a conter a si mesma

Há um certo tipo de frente ampla que se julga a única possível e, portanto, a única certa. Como advertia Guattari, o problema não está no conceito, mas no uso autoritário de sua verdade. Essa frente ampla, que se confunde com a própria ideia de racionalidade política, vem sendo alçada à condição de dogma estratégico. Com ela, aprendemos a conter os excessos, a domesticar os afetos, a polir o conflito, em nome da governabilidade. Em seu nome, sacrificamos o povo no altar do possível.
Mas é precisamente esse possível que está em disputa. E o que esse tipo de frente ampla opera, na prática, é a contenção do possível — a supressão daquilo que, por não caber na moldura institucional e nos limites do consenso progressista, é descartado como imprudente, divisionista ou radical demais. A contenção aqui não é apenas uma postura defensiva. É uma lógica de captura. Tudo que escapa à composição hegemônica é descartado como ameaça ao todo.
A contenção é o mecanismo pelo qual uma estratégia de sobrevivência se transforma em uma tática de neutralização. Ela opera sob o manto do realismo, mas age como uma máquina de esvaziamento. Onde havia conflito, ela instaura mediação. Onde havia desejo de ruptura, ela oferece concessão. E onde havia antagonismo de classes, ela impõe a fantasia de um “nós” consensual, que supostamente nos abriga a todos sob o guarda-chuva da democracia.
Muito se tem dito que, diante da gravidade do 8 de janeiro de 2023 e da disputa eleitoral de 2026, a esquerda deve preservar a “unidade possível” como prioridade absoluta. Mas essa lógica, ao identificar a unidade exclusivamente com o campo institucional, mesmo aquele que inclui o centro e a centro-direita, desloca o eixo da luta de classes para um pacto pela estabilidade. Em nome da contenção da extrema direita, a própria esquerda passa a conter a si mesma. A emergência democrática é convertida em justificativa para o esvaziamento estratégico.
Não se trata de negar a necessidade de alianças. O problema está em tomá-las como fim — e não como meio. O que está em curso é a conversão da frente ampla em projeto de gestão da catástrofe. Um projeto onde as diferenças se dissolvem em nome de uma unidade abstrata, onde a crítica é tolerada desde que não ameace o pacto central, e onde o socialismo é evocado como horizonte utópico enquanto se administra, cotidianamente, o programa da conciliação.
Em nome da defesa da democracia e das instituições ameaçadas por forças neofascistas, o que se construiu foi uma frente institucional que pretende abraçar centro, centro-direita e esquerda como se fossem equivalentes estratégicos. A tática de ampliação se autonomizou e se tornou critério de pertencimento. Com isso, o pacto contra o fascismo passou a funcionar como um limite tácito à radicalização política, à mobilização social e à imaginação programática.
É assim que a contenção se disfarça de responsabilidade. Ela nos diz que é preciso ampliar — mas só até onde não se desagradem os banqueiros. Que é necessário pacificar — mas apenas com os que já estão no topo. Que é urgente combater o fascismo — mas sem tocar nas estruturas que o alimentam. E o resultado disso é uma esquerda esvaziada de sua função histórica: organizar o conflito e disputar o sentido da transformação.
Essa forma de fazer política se ancora num certo tipo de universalismo abstrato: a ideia de que existe uma totalidade que nos une, nação, democracia, civilização, povo e que essa totalidade pode ser preservada desde que nos sentemos todos à mesma mesa, do agro ao sindicato. É uma operação clássica da ideologia: transforma o particular de classe em valor universal, sem reconhecer as lutas e fraturas que constituem esse “todo” proclamado.
O problema é que esse universal abstrato não representa ninguém e, mesmo assim, fala em nome de todos. Fala em nome das mulheres, mas tolera ajustes fiscais que sacrificam o cuidado. Fala em nome dos trabalhadores, mas sustenta juros que esmagam a renda e o emprego. Fala em nome da soberania, mas se curva à lógica dos tratados comerciais e ao rentismo. Fala em nome da democracia, mas criminaliza os territórios que se organizam à margem.
Contra esse universalismo vazio, é preciso afirmar a multiplicidade concreta das lutas. As lutas indígenas por terra e autodeterminação não são uma parte do projeto nacional: são sua condição. As lutas antirracistas, feministas, queer, anticapacitistas não são “temas identitários” — são linhas de força que atravessam o campo da emancipação. As greves, os piquetes, os bloqueios, as ocupações são mais do que táticas: são gramáticas próprias da política que emerge do chão.
É nesse ponto que o socialismo deve voltar ao centro do debate, não como saudade de um futuro perdido, mas como única alternativa real diante do esgotamento civilizatório. Falar em socialismo hoje é falar de vida contra o capital. É recusar que o horizonte da humanidade se resuma à gestão da escassez, à precarização como destino e à destruição da Terra como colateral do progresso.
O socialismo não é um capítulo encerrado da história. É o nome da urgência de recompor o elo entre política e futuro. E, mais do que isso, de resgatar a capacidade de projetar um mundo onde a produção esteja a serviço da vida, e não o contrário. O socialismo do século XXI será ecológico, feminista, popular e radicalmente democrático — ou será apenas um nome bonito para os escombros que o neoliberalismo nos legou.
Mas não bastam modelos. Mesmo a China, que hoje acende como um novo farol, só chegou até aqui após uma longa e profunda revolução social, com rupturas históricas concretas, enfrentando guerras, cercos e reconstruções. Abstrair esse processo, descolar o resultado do caminho trilhado, é repetir o vício de acreditar que se pode chegar à emancipação sem passar pelo conflito. Nenhuma planilha substitui a história.
A crise da esquerda institucional não é apenas de linguagem ou de programa. É uma crise de forma política. Quando a mediação se transforma em paralisia, quando a estratégia se reduz à contabilidade eleitoral, quando o horizonte se resume a preservar o possível, a política se torna administração. E a esquerda, que nasceu para tensionar o mundo, passa a geri-lo nos limites impostos por seus algozes.
É exatamente esse o risco da sustentação do governo atual: transformar a crítica em silêncio tático, a divergência em deslealdade, a mobilização em obstáculo. Não se trata de negar as conquistas ou ignorar a ameaça fascista. Mas de reconhecer que a sobrevivência da esquerda não depende apenas de manter o governo em pé — depende de manter em movimento a chama de uma transformação que esse governo, com todas as suas contradições econômicas e alianças ambíguas, já não pode carregar sozinho.
É por isso que o desafio da esquerda hoje não é apenas vencer a próxima eleição — é construir outra possibilidade de futuro. Não haverá saída real sem reorganização popular, sem reconstrução da autonomia política das lutas, sem devolver ao povo o protagonismo da política. Isso não se faz apenas nas redes ou nos gabinetes. Faz-se no território, na periferia, nas escolas, nas roças, nos coletivos, nos fluxos que escapam ao olhar das planilhas.
Precisamos de uma frente — sim. Mas de uma frente insurgente, que não tenha medo do dissenso, que abrace o conflito, que reconstrua o campo da esperança com base em desejo, e não em contenção. Uma frente que se assuma como projeto de desobediência e reorganização radical da sociedade. Uma frente que não peça licença aos de cima para falar em nome dos de baixo.
2026 será decisivo, sem dúvida. Mas não será definitivo. O que virá depois da eleição — qualquer que seja o resultado — exigirá muito mais do que uma base aliada. Exigirá base social. Exigirá povo em movimento. Exigirá coragem. E coragem, neste tempo, é ousar romper com a contenção do possível. É desobedecer à lógica da rendição. É afirmar, com radicalidade e paciência, que o socialismo ainda é o nome do que pode vir — se não nos contentarmos com o que nos oferecem. (Publicado por Sul 21)
***
Os artigos publicados representam a opinião dos autores e não necessariamente a do Conselho Editorial do Terapia Política
Ilustração: Mihai Cauli Revisão: Celia Bartoni
Clique aqui para ler artigos do autor.