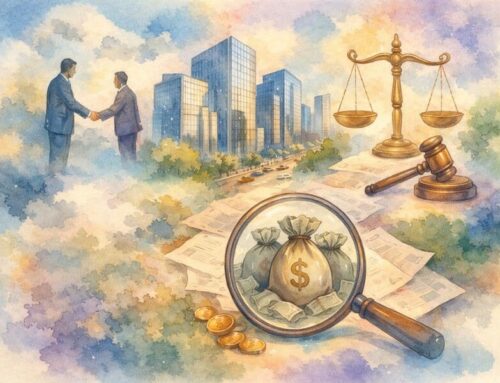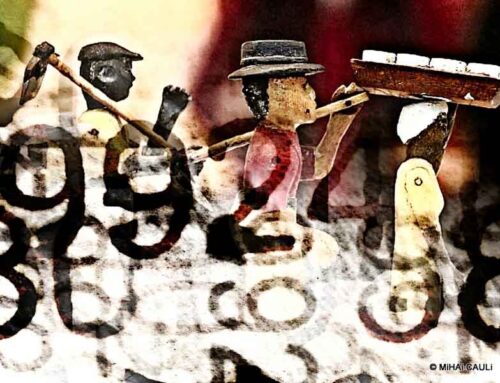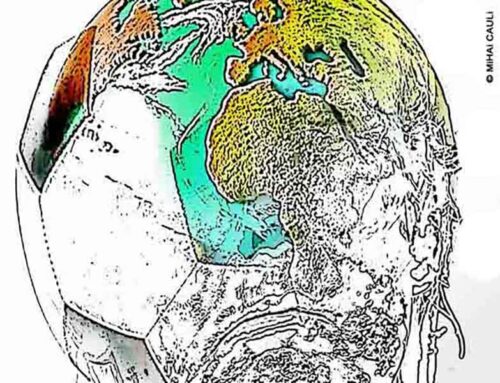Talvez muitos nem se lembrem mais dela. Ficou para trás, esquecida, depois de duas décadas. Mas afastar esse risco para os países das Américas que busquem uma alternativa de desenvolvimento foi muito importante, e deve ser sempre lembrado por todas e todos que buscam esse objetivo.
Antes de mais nada, o que era a ALCA? A Área de Livre-Comércio das Américas (ALCA) foi uma proposta aprovada na primeira reunião da chamada Cúpula das Américas, realizada em Miami, nos EUA, tendo como idealizador, anfitrião e organizador o presidente Bill Clinton, dos EUA. Era um período em que o chamado livre-comércio nadava de braçada no cenário internacional (nesse mesmo período, foi criada a Organização Mundial do Comércio, OMC, e se iniciaram as negociações para a criação do Acordo Mercosul-União Europeia, em vias de ser fechado, só para dar dois exemplos), e se impulsionava simultaneamente a liberalização comercial e a liberalização financeira. Ambas eram de enorme interesse das grandes empresas transnacionais e dos fundos financeiros que buscavam se expandir à escala global. Era a globalização que avançava.
A resistência antiglobalização, entretanto, avançava na mesma medida. Nesse caminho de resistência, a primeira grande derrota dos que buscavam avançar mais firmemente com a globalização foi na questão do Tratado Multilateral de Investimentos (conhecido pela sigla em inglês MAI, Multilateral Agreement on Investments), um tratado que visava dar garantias aos investidores internacionais e limitar as possibilidades nacionais de regular os investimentos estrangeiros, que se negociou naquele período na OMC, mas em especial na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), uma espécie de clube dos mais ricos países capitalistas e seus amigos mais próximos. Por conta da resistência, primeiro o MAI foi esquecido nas conversas da OMC, e finalmente, em 1998, também abandonado pela OCDE, frente a crescentes manifestações de rua nos próprios países mais desenvolvidos.
Ao final de novembro de 1999, aconteceu uma nova expressão importante da luta antiglobalização, agora no seu aspecto comercial. Dezenas de milhares de ativistas, sindicatos, ambientalistas, lutadores pela saúde, estudantes e lutadores contra a globalização em geral conseguiram travar as discussões da OMC em Seattle, EUA, conhecida por "Rodada do Milênio". Em um período em que a ideia da liberalização era muito forte e propagandeada aos quatro cantos por governos, formadores de opinião liberais, mídias hegemônicas e grandes empresas transnacionais – não foi pouca coisa essa vitória.
Esses eventos no exterior animaram por aqui, nas Américas, a resistência à ALCA. Formaram-se redes continentais (como a Aliança Social Continental, ASC) e nacionais (a REBRIP, Rede Brasileira pela Integração dos Povos era o capítulo brasileiro da ASC) de resistência, que se articulavam, difundiam análises e críticas ao processo, mobilizavam. No Brasil, por exemplo, em 2002, às vésperas da eleição presidencial daquele ano, foi feito um gigantesco plebiscito auto-organizado por um enorme conjunto de entidades, em que o resultado foi uma acachapante negativa da proposta da ALCA. Nas opiniões contra a ALCA se reuniam opositores ao livre-comércio em geral, defensores da integração regional latino-americana e, especialmente, todos os que temiam que a proposta da ALCA fosse, no fundo, uma forma de expressar a hegemonia dos EUA sobre todo o continente americano, disfarçada de um acordo de comércio, o que não deixava de ser um bom resumo da proposta que era levada adiante nas discussões. A montagem da ALCA e a proposta de integração nela contida mascaravam, evidentemente, uma enorme assimetria entre os países da região, a favor dos EUA. Mais do que isso, em um período em que alianças regionais como o NAFTA (Acordo de Livre-Comércio da América do Norte, envolvendo EUA, Canadá e México), e o Mercosul (união aduaneira entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) já estavam formados, a proposta da ALCA era obviamente uma forma pela qual os EUA poderiam enquadrar os países do Mercosul, evitando que buscassem alternativas efetivas de desenvolvimento pela via da integração regional.
Ainda que com algumas dificuldades, a proposta da ALCA vinha avançando, embora com uma resistência crescente dos setores populares no interior dos vários países (inclusive dos EUA, onde sindicatos e setores de defesa da cidadania se opunham fortemente ao acordo) e até de alguns setores empresariais em alguns dos países.
As mudanças no cenário político do Brasil (com a vitória de Lula), na Argentina (com o governo de Nestor Kirchner) e na Venezuela (com a recuperação do poder de fogo do chavismo depois da tentativa de golpe contra o governo Chávez em abril de 2002) começaram a complicar as possibilidades de seguir adiante com as negociações da ALCA, reforçadas pela resistência popular.
No nível das negociações, os negociadores brasileiros começaram a buscar alternativas no processo a partir de 2003 (governo Lula), tentando resguardar setores da liberalização completa em primeiro lugar e, em seguida, tentando avançar propostas que colocassem opções para os países nos termos de seu comprometimento com a ALCA.
No final de 2003, em reunião ministerial de negociação da ALCA em Miami, EUA, o então chanceler Celso Amorim, em negociação com os EUA, visando evitar que uma reunião da ALCA nos EUA não chegasse a lugar nenhum, aprovou a ideia de uma ALCA em dois diferentes níveis de compromisso: os países poderiam se comprometer com o nível máximo de liberalização, mas também poderiam se comprometer com um nível mínimo, se assim fosse de seu interesse. Essa proposta obviamente desfazia de certa forma o enquadramento que um mecanismo como a ALCA poderia fazer sobre os países do Mercosul, e não era de interesse dos EUA e seus aliados, que apenas a engoliram em uma tentativa de evitar o fracasso da reunião de Miami.
Entretanto, na reunião seguinte, já em 2004, em Puebla, México, do Comitê de Negociações Comerciais (CNC), a segunda instância negociadora da ALCA (a primeira era a reunião ministerial), volta o impasse, na medida em que os países mais próximos aos EUA voltam a tentar o enquadramento maximalista. A partir desse momento, não existem mais reuniões negociadoras formais da ALCA. Seguem havendo algumas reuniões informais entre os principais países negociadores, mas em uma reunião na Argentina, em abril de 2004, as reuniões são formalmente finalizadas, e os negociadores passam a bola para a instância mais elevada (a reunião de chefes de Estado, a tal Cúpula das Américas), para que decidam finalmente sobre o mandato negociador, isto é, os conteúdos a serem negociados e seu objetivo final, uma vez que com os conteúdos e mandato existentes eles não conseguiam avançar.
O processo de negociação da ALCA fica então em uma espécie de UTI, aguardando a posição dos chefes de Estado, e é finalmente sepultado na reunião da Quarta Cúpula das Américas em Mar del Plata, Argentina, em novembro de 2005. É essa data, do fim das negociações, que será comemorada esse ano, e mostra duas coisas. De um lado, a positiva – que propostas antipopulares e hegemonistas podem ser derrotadas. De outro, mostra que a sua derrota não gera automaticamente o que se buscava com a luta. Até hoje estamos esperando a efetiva integração regional e uma nova alternativa de desenvolvimento para os países da região.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "Lula e Trump na ONU: finalmente um fato novo para a diplomacia brasileira", de Rodrigo Fracalossi de Moraes.