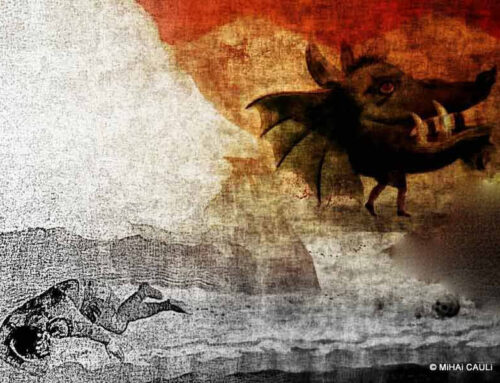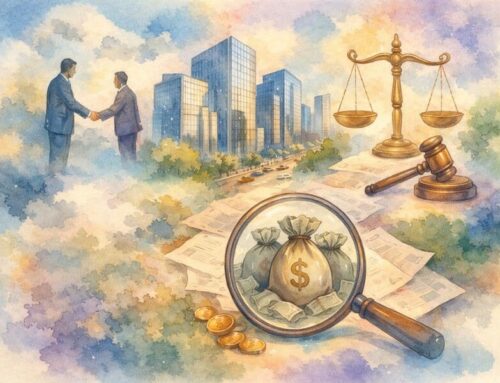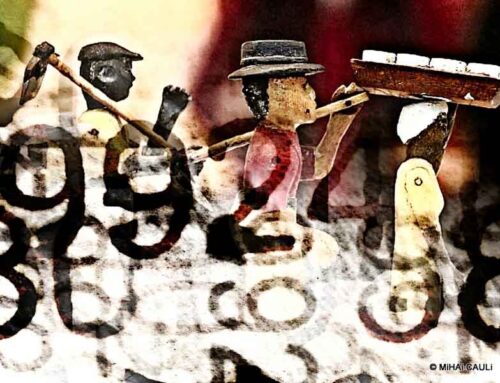A redução da jornada não desempregou em 1988 e não vai desempregar agora.

A maioria dos brasileiros (64%) acredita que "a jornada máxima de trabalho no Brasil deveria ser reduzida", segundo levantamento do Datafolha realizado em dezembro de 2024. Mesmo nos grupos menos simpáticos à ideia, o apoio ainda é majoritário, como entre os declarados de cor branca (59%), homens (58%), pessoas em famílias com renda superior a cinco salários mínimos (56%) e eleitores de Bolsonaro (53%). O percentual favorável chega a atingir 73% entre os eleitores de Lula e 81% entre os jovens de 16 a 24 anos.
Será que essas maiorias, absolutas em grupos tão heterogêneos, estão enganadas e ignoram o funcionamento da economia para saber o que é melhor para elas e para o país? Creio que não. Pelo menos não é o que indica um experimento similar feito pelo Brasil há 37 anos. Em 1988, a Constituição que redemocratizou o país reduziu a jornada legal máxima de 48 para 44 horas semanais em uma tacada, e isso não causou desemprego nos 12 meses seguintes à entrada da medida em vigor.
Foi o que mostraram os economistas Gustavo Gonzaga, da PUC-Rio, Naercio Menezes Filho, hoje da USP e do Insper, e José Márcio Camargo, atualmente sócio do Banco Genial, em uma avaliação de impacto publicada em 2003 na Revista Brasileira de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Eles usaram os microdados em painel da antiga Pesquisa Mensal de Emprego (PME/IBGE), que acompanhava as mesmas pessoas em entrevistas repetidas por vários meses, e concluíram que "no curto prazo (nos 12 meses seguintes à mudança constitucional), a redução de jornada não teve efeitos negativos sobre o emprego".
O que se observou, na verdade, foram somente os efeitos positivos almejados pelas alterações constitucionais na carga máxima de trabalho, que "provocaram uma queda da jornada efetiva de trabalho, não aumentaram a probabilidade de o trabalhador afetado pela mudança ficar desempregado em 1989 (quando comparada a outros anos), diminuíram a probabilidade de o trabalhador afetado ficar sem emprego em 1989 (o que inclui os que saíram da força de trabalho) e implicaram um aumento do salário real horário (apesar de menor do que o observado para trabalhadores que reduziram a jornada em outros anos)".
Um dos autores do artigo já manifestou que agora o país teria condições de proibir a chamada "escala seis por um" (6×1), em que se trabalha seis dias por semana com apenas um de descanso, bandeira levantada nas redes pelo vereador carioca Rick Azevedo e convertida em proposta de emenda constitucional pela deputada federal paulista Erika Hilton, ambos do PSOL. "Mudar para uma escala 4×3 é muito drástico, os impactos nas empresas seriam grandes demais, mas é razoável passar para o máximo de 5×2, de oito horas com pagamento de hora extra acima disso e a possibilidade de ter dois dias de folga para se dedicar aos filhos", afirmou Menezes Filho na mesma matéria em que o jornalista Douglas Gravas, da Folha de S.Paulo, noticiou os citados números do Datafolha. O economista ressalta ainda que a oportunidade de conviver mais com os pais é importante para o desenvolvimento infantil, o que aumentaria a produtividade da economia brasileira no futuro. Ou seja, haveria efeitos positivos sustentáveis de curto a longo prazo.
O doutor em sociologia e analista político Celso Rocha de Barros não vê a mais remota chance de o Congresso atual aprovar uma redução da escala máxima direto de 6×1 para 4×3, mas também entende que seja mais viável baixar o teto até a escala 5×2, que já vigora na maioria dos empregos. Segundo Clemente Ganz Lucio, sociólogo que coordena o Fórum das Centrais Sindicais, o primeiro desafio é baixar a jornada legal máxima de 44 para 40 horas semanais, como já se faz em vários acordos e convenções. Para ele, a lei poderia reduzir o teto em uma hora por ano, para que as empresas se adaptem gradualmente.
É a minha opinião também. Acredito que essa redução de 44 para 40 horas semanais possa ser gradual ao longo de quatro anos, uma hora a menos por ano, e que a escala 6×1 possa ser proibida entre o início e o fim dessa transição. É claro que existem dúvidas sobre todos os efeitos econômicos possíveis, mas, como vimos, a redução imediata de 48 para 44 horas, em 1988, não causou nenhum efeito colateral no mercado de trabalho até o ano seguinte, e o resultado também pôde ser positivo em prazos mais longos.
Nossas jornadas médias, assim como seu teto legal, ainda são mais longas do que as vigentes nos países desenvolvidos dos quais queremos nos aproximar. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) compila a média de horas semanais efetivamente trabalhadas por pessoa ocupada em 178 países. A média brasileira (38,9 horas semanais) é menor que as de muitos países, mas é mais longa do que as observadas em economias mais avançadas, tantas vezes miradas como possíveis exemplos a seguir: Coreia do Sul (37,9), Portugal (37,7), Estados Unidos (37,6), Japão (36,6), França (35,5), Canadá (35,2), Reino Unido (35,1), Alemanha (33,6), Austrália (31,9), Holanda (30,9).
Na América Latina, as jornadas médias já são menores que a brasileira em países como Uruguai (36,9), Argentina (36,5) e Panamá (36,0). Já Chile (39,4) e Colômbia (43,2) tinham médias mais altas em 2024, mas seus tetos legais estão passando por reduções graduais, o que tende a baixar suas jornadas médias nos próximos anos. O teto chileno era de 45 horas semanais até abril de 2024, quando passou para 44, e será reduzido gradualmente até 40 horas em 2028. Já o colombiano era de 48 horas semanais até 2021, baixando para 47 em 2023, 46 em 2024, 44 em 2025, com redução prevista de até 42 horas semanais a partir de julho de 2026.
Afinal, para que serve aumentar a produtividade e o emprego, como todos desejamos e buscamos? Para produzir mais, mas também para quem trabalha demais poder trabalhar um pouco menos. E se a jornada média já diminui, é bom que a máxima também seja reduzida, para tornar menos desigual a distribuição das horas de trabalho e lazer. Isso tende a estimular novos ganhos de produtividade, com menos competição predatória baseada em jornadas longas há muito tempo proibidas nos países desenvolvidos e, cada vez mais, entre nossos vizinhos.
O Brasil faria bem em reduzir seu teto de 44 para 40 horas semanais, limite legal que os Estados Unidos já adotam desde 1940, há 85 anos. O exemplo americano é destacado pelo economista português Pedro Gomes em seu livro "Sexta-feira é o novo sábado: como uma semana de trabalho de quatro dias poderá salvar a economia", que resenhei para a revista Quatro Cinco Um em um artigo de 2023, autoplagiado com o CTRL-V nos dois parágrafos a seguir.
- Em 1926, o pioneiro em série Henry Ford surpreendeu seus colegas empresários ao dobrar o fim de semana de um para dois dias em todas as suas fábricas de automóveis dentro e fora dos Estados Unidos. Diante das previsões catastróficas de federações industriais e think tanks, asseverou que, descansados, seus empregados produziam mais e, se a moda pegasse, a economia sairia ganhando. "As pessoas consomem mais no seu tempo de lazer do que no seu tempo de trabalho. O que conduzirá a mais trabalho. E isso a mais lucros. E isso a mais salários. O resultado de mais tempo de lazer será exatamente o contrário do que a maior parte das pessoas crê que seria", apostou Ford.
- A moda não pegou senão no tranco, depois da quebra da bolsa em 1929 e da grande depressão dos anos seguintes. Ao desemprego em massa e à pressão dos movimentos de trabalhadores, os legisladores americanos e o governo Franklin D. Roosevelt responderam com o programa New Deal. Junto com o salário mínimo e o adicional por hora extra, estabeleceu-se, em 1938, uma jornada máxima de 44 horas semanais, logo reduzida para 40 horas em 1940, quando o fim de semana de dois dias tornou-se obrigatório em todo o território norte-americano. O desemprego caiu fortemente, antes mesmo do gasto público disparar nos anos em que o país se envolveu na Segunda Guerra Mundial.
Agora, no Brasil de 2025, sindicatos patronais, think tanks e seus fornecedores de análises e números repetem a reação de praxe, anunciando catástrofes caso a jornada legal seja reduzida. Uma federação industrial chega a "simular" uma drástica destruição de empregos e, a partir de hipóteses contestáveis, a queda de um sexto do PIB se o sexto dia semanal de trabalho for proibido por lei. É a mesma federação cujo dirigente chamou de idiota quem trabalha com carteira assinada e alegou que beneficiários do Bolsa Família se aposentam aos 45 anos, o que está longe de ser verdade, já que as idades mínimas de aposentadoria são de 62 anos para mulheres e 65 para homens.
Algumas pessoas têm manifestado preocupação legítima com o risco de ampliar o "degrau" de direitos entre formais e informais, mas também é possível que ocorra um "efeito farol" semelhante ao observado em reajustes do salário mínimo, que serve como um padrão de mercado e costuma, por tabela, beneficiar os informais. Se deixar de haver celetistas trabalhando em 6×1, é possível que isso torne mais raro a contratação de empregados sem carteira nessa escala também. Mesmo entre empregadores e trabalhadores por conta própria, não será surpresa se a mudança na norma social diminuir a proporção que trabalha mais de cinco dias por semana.
Aos congressistas, cujas jornadas semanais em Brasília nem sempre são tão longas, sugiro ouvir um pouco menos os porta-vozes das federações empresariais e um pouco mais seus eleitores, que estarão atentos ao tema em 2026.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Leia também "A revanche da financeirização: por que a desigualdade resiste no Brasil", de Maria Luiza Falcão.