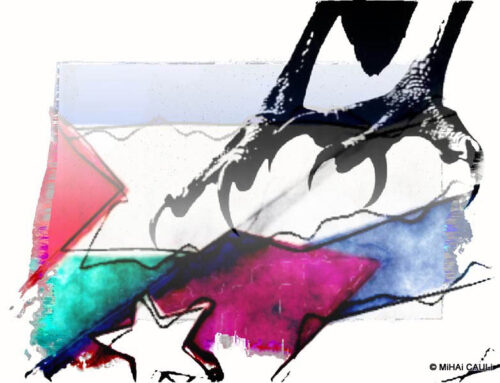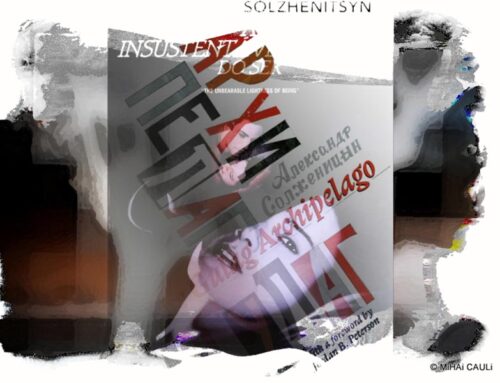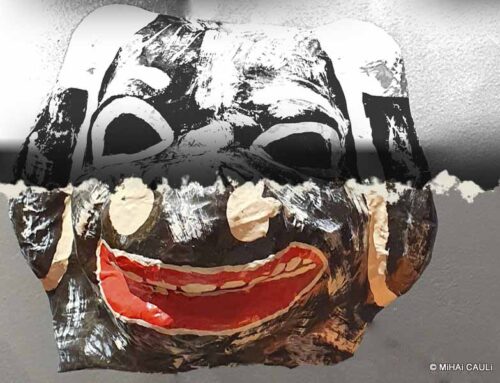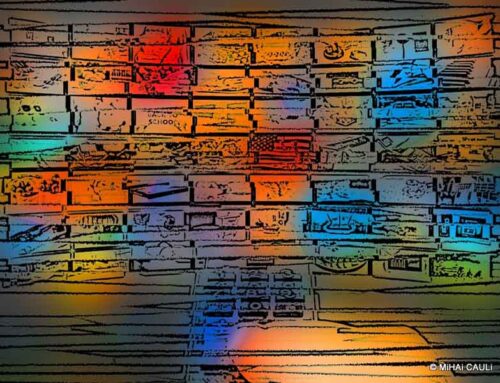A invocação da Lei Magnitsky reveste-se da mesma natureza da aplicação extraterritorial das legislações dos antigos impérios às suas ex-colônias
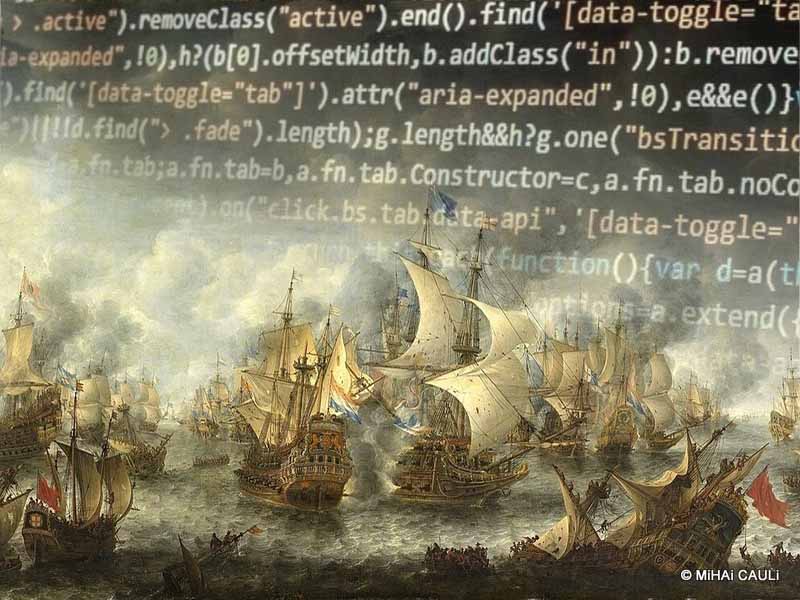
Há pouco mais de um ano, num artigo publicado no Sul 21 – acerca das tentativas do inefável Ellon Musk de subtrair suas empresas da obediência às normas da Constituição e legislação brasileiras, tentativas estas felizmente frustradas pelo Supremo Tribunal Federal –, teve-se a oportunidade de lembrar "…as três faculdades essenciais concedidas ao governo, como legítimos pilares do monopólio estatal: (i) elaboração e aplicação das leis; (ii) emprego das forças públicas (exército e polícias); e (iii) cunhar sua própria moeda…".
Se as chamadas big techs já manifestavam então sua arrogante recalcitrância em submeter-se à ordem jurídica dos Estados onde atuam, era perfeitamente previsível que tal postura seria retomada, até com mais vigor, com a eleição de Donald Trump e sua consequente assunção à cadeira presidencial nos EUA – para o que o envolvimento direto daqueles poderosos grupos empresariais, e de seus donos, foi fator decisivo. E ainda que o "homem mais rico do planeta" tenha-se retirado do cargo para o qual fora nomeado pelo novo governo, apenas alguns meses depois, por atritos com o presidente norte-americano, isso não afetou em nada o compromisso deste para com o seleto grupo de super-empresários do Vale do Silício – cujos interesses fazem parte da agenda preferencial daquela que, mesmo em decadência econômica, continua sendo a maior potência política e militar do mundo.
Isto deve ser levado conta para bem compreender os novos e sistemáticos ataques desferidos nos últimos meses, desta feita diretamente pelo novo dirigente ianque, contra a soberania nacional – agora não mais apenas do Brasil, mas à generalidade dos países –, utilizando-se para tanto do aumento indiscriminado das tarifas de importação de bens e serviços produzidos, inclusive, por nações aliadas e parceiras incondicionais de seu país. No caso brasileiro, o "tarifaço" revelou-se, além de injusto, absolutamente despropositado do ponto de vista econômico – uma vez que nossa balança de pagamentos é amplamente favorável à grande nação do Norte, que nos vende bem mais seus produtos do que compra os nossos: tanto é assim que, tão logo foram editadas as novas regras, abriram-se mais de setecentas exceções, excluindo das novas taxas parcela considerável de nossas exportações a ela dirigidas.
De outra parte, malgrado o outro surpreendente e inexplicável pretexto invocado, de ordem política – a inconformidade com a suposta "caça às bruxas" a que estaria sendo submetido o boçal ex-presidente pela justiça brasileira –, ao longo do texto em que foram anunciadas as medidas restritivas impostas ao nosso país (pasme-se, por meio de mensagem em rede virtual pessoal de Trump!), revelam-se suas verdadeiras motivações, todas de caráter econômico-financeiro. E dentre elas avulta a irresignação com a sujeição das grandes corporações de tecnologia da informação ao ordenamento jurídico-político brasileiro.
Entretanto, mesmo sendo um objetivo claramente secundário da injustificável investida imperial, a absurda pressão para que o presidente Lula intervenha em decisão judicial – aliás, emanada da própria Suprema Corte – redundou na imposição de sanções financeiras a seus ministros, exceto os três notórios integrantes de sua bancada bolsonarista-lavajatista. Estas sanções, estendidas também a algumas altas autoridades do governo brasileiro, são restrições previstas na chamada Lei Magnitsky, editada pelo Congresso norte-americano e sancionada em 2012 pelo então presidente Barak Obama.
Ali se previa, inicialmente, sanções a serem aplicadas a autoridades russas às quais se imputava a morte do empresário Sergei Magnitsky, adversário do governo de Vladimir Putin, proibindo-lhes de entrar nos EUA e usar seus bancos, bem como o sistema internacional de compensações financeiras (Swift). Posteriormente, já em 2016, o referido diploma foi republicado como Lei Global de Responsabilidade de Direitos Humanos Magnitsky, ampliando sua estrutura original e direcionando-o a sancionar autoridades e funcionários de governos estrangeiros por violações aos direitos humanos, ou atos de corrupção praticados em quaisquer partes do planeta – autorizando o congelamento de seus bens e proibindo-lhes o ingresso naquele país.
Pois, com base em dispositivos desta legislação, destituída de qualquer amparo válido no direito internacional, foram impostas ao ministro Alexandre de Moraes e seus familiares, e em seguida a mais sete juízes da Suprema Corte de um país democrático e soberano, limitações de ordem financeira e de locomoção, tudo em nome do combate à corrupção e da defesa dos direitos humanos – pelo crime de… exercer a jurisdição!
Certamente, nada justifica estes absurdos, decorrentes de situação em si mesma absurda: a auto atribuição por um país da condição de legislador universal, com base na qual seus governantes dispõem-se a fazer seu direito incidir acerca de fatos ocorridos fora de seu território, e que sequer remotamente afetam seus interesses, ou de seus nacionais. Portanto, a invocação e incidência da Lei Magnitsky neste, e em qualquer outro caso, diga-se de passagem, reveste-se da mesma natureza da aplicação extraterritorial das legislações dos antigos impérios às suas ex-colônias – o que, nos tempos atuais, consiste em verdadeira aberração do ponto de vista jurídico, explicável apenas como emanação nua e crua de ato de força.
Por isso, os fatos em tela trazem à lembrança um incidente ocorrido em nosso país há mais de século e meio, ainda no tempo do Segundo Reinado. Trata-se de episódio que passou à história como a "questão Christie", levando o nome de seu protagonista, o então representante da Inglaterra perante a Corte brasileira. Ocorre que, naquele distante ano de 1862, no Rio, foram presos três soldados ingleses porque, bêbados, desacataram os policiais que os abordaram devido às arruaças que promoviam.
Em decorrência, o já referido burocrata estrangeiro – "famoso criador de impasses diplomáticos…" –, em represália, ordenou que a "…esquadra inglesa no Rio de Janeiro bloqueasse o porto, e cinco navios mercantes brasileiros acabaram apreendidos pela marinha britânica, fora da baía de Guanabara, o que quase causou um grave problema internacional e por pouco não levou a uma guerra…" (conforme "Brasil – uma biografia", de Lilia Schwarcz e Heloísa Starling", ed. Companhia das Letras, 2018, página 291). O fato provocou o rompimento de relações entre os dois países, e o Brasil levou a questão à apreciação do árbitro escolhido, o rei da Bélgica, que lhe deu ganho de causa – em função do que, depois de dois anos, a Inglaterra apresentou desculpas formais.
Cabe notar que, subjacente a este atrito, havia a concepção do Império Britânico de que seus nacionais, bem como seus interesses, não poderiam ser submetidos ao julgamento de outros países, sob suas próprias regras jurídicas – precisamente como acontece, nos dias de hoje, com o poder imperial que sucedeu àquele no Ocidente, e que se atribui a mesma e soberba pretensão de legislador universal, do que constitui eloquente exemplo a edição da lei com base na qual foram impostas punições aos integrantes da Suprema Corte brasileira e a autoridades de nosso governo.
De fato, malgrado a invocação da finalidade de defesa dos direitos humanos e da ética pública, a Lei Magnitsky não passa da expressão jurídica do sentimento de supremacia imperial de uma nação e de um povo que se pretendem agraciados divinamente por um suposto "destino manifesto". E o fato de que, tanto na sua elaboração legislativa, como em suas aplicações posteriores, participaram republicanos e democratas, Obama e Trump, apenas reproduz, na esfera geopolítica, a conhecida anedota dos dois policiais, o "bom" e o "mau" – ambos empenhados, com modos diferentes, no cumprimento da mesma criminosa tarefa repressiva.
Ao encaminhar a conclusão desta despretensiosa análise, não se pode deixar de dizer que inexiste um império melhor ou pior do que outro: todos são essencialmente perversos e danosos. Com efeito, o ato de um Estado subjugar outro, impondo-se pela força, é em si mesmo conceitual e irremediavelmente odioso.
A história ensina que há estilos distintos na forma pela qual diferentes nações se impuseram a outras e de dominá-las; neste particular, talvez seja interessante destacar que os romanos, ao seu tempo, nos albores da civilização ocidental, e os árabes, alguns séculos depois, marcaram seus respectivos períodos de dominação por uma característica que os distinguiu notavelmente de outros impérios que os sucederam.
Isto porque tanto Roma, no seu avanço e subjugação dos povos da Europa Ocidental e do Norte da África, como o Califado, ao invadir e dominar a Península Ibérica, não impuseram de forma absoluta seus ordenamentos normativos – que só se aplicavam quando havia afetação direta de seus interesses. Em todas as demais questões, que envolviam apenas os assuntos dos habitantes das regiões dominadas, era admitida a aplicação de suas regras jurídicas, costumeiras e religiosas. Certamente, esta tolerância não se devia a considerações de ordem humanitária – mas sim a razões pragmáticas, uma vez que contribuía para a distensão do ambiente potencialmente tenso entre metrópole e colônia.
Este exemplo de sabedoria política não foi em geral seguido pelas potências coloniais europeias que se impuseram, desde o início da era Moderna, a vários povos dos demais continentes; e talvez nenhum destes vários impérios tenha sido mais arrogante em sua dominação do que o Britânico – e sua criatura contemporânea, que ora agoniza e nos ameaça. (Publicado por Sul 21)
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "O dólar digital do crime", de Tulio Kahn.