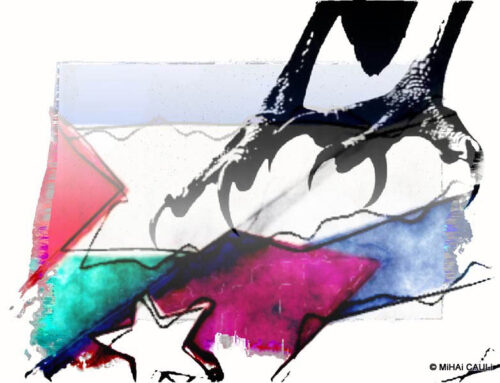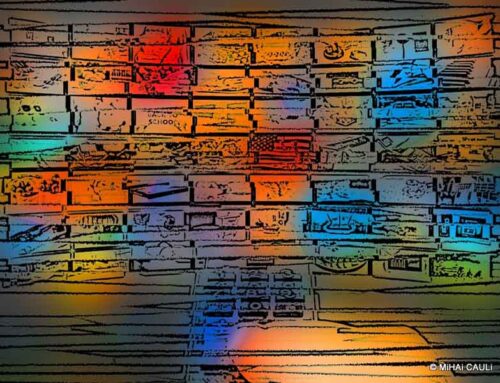O capitalismo latino-americano, que nasceu e continua profundamente integrado ao mercado mundial, se desenvolveu em estreita consonância com a dinâmica de geração de valor e mais-valia do capitalismo internacional.
Nesse contexto, nos nove países mais importantes do planeta (EUA, China, Alemanha, Japão, França, Inglaterra, Canadá, Índia e Itália), no conceito de PIB nominal, estão as melhores universidades, a infraestrutura moderna, os centros financeiros que negociam o estoque de capital fictício diuturnamente, a melhor qualidade de vida, a maior retenção dos lucros e os melhores salários.
No outro vértice, nós, latinos, somos dependentes e subordinados há séculos e estamos presos na síndrome da armadilha da renda média e do atraso. O surgimento da grande indústria no Primeiro Mundo estabeleceu uma sólida divisão de tarefas, com a periferia (onde se inclui a América Latina) especializando-se em exportar alimentos que barateiam o custo de reprodução dos trabalhadores dos países ricos e as matérias-primas estratégicas que garantem lucros extraordinários dos grandes monopólios do mundo desenvolvido.
Ao mesmo tempo, nós, na periferia, importamos bens industriais sofisticados e tecnologias de ponta. Um pesquisador da conservadora Universidade de Chicago – Andre Gunder Frank, teórico da Teoria da Dependência – denominou esse fenômeno de "desenvolvimento do subdesenvolvimento".
O forte incremento de renda do operariado industrial europeu não teria acontecido sem os meios de subsistência de origem agropecuária ofertados por Brasil e Argentina. Praticando alta produtividade, tendo acesso a máquinas modernas e influindo no mercado interno de consumo, um operário industrial alemão ganha dez vezes mais, na mesma tarefa exercida pelo seu colega de profissão no Brasil, por exemplo.
É nesse contexto que devemos interpretar a pressão exercida pelo governo americano sobre a Venezuela e sua enorme reserva de petróleo, ou as negociações brasileiras com Trump em torno das terras raras, das quais nosso país detém a segunda maior reserva do planeta. Esta semana, China e Estados Unidos fecharam acordo em que desbloqueiam o envio da produção de terras raras para solo americano, comprovando a dependência da maior economia do planeta de recursos minerais estratégicos.
O poder americano (hoje em decadência relativa) repousa sobre dois pilares: o dólar – a moeda-reserva do mundo, que permite ao mais importante país no planeta exportar para o estrangeiro sua inflação – e o arsenal militar do Pentágono.
No livro de Eduardo Galeano "As Veias Abertas da América Latina", um clássico publicado em 1971, o autor argumenta que a região foi explorada para fornecer recursos como ouro, prata, açúcar e café, que resultou em miséria num polo e enriquecimento das potências coloniais. Nada mais atual!
Na medida em que o mercado criou formas mais desenvolvidas de produzir, o uso da violência política e militar, que vigorou nos primórdios, tinha sido substituído pela persuasão. Nesse contexto, a exploração se concentrou na reprodução de uma relação econômica que perpetua o atraso e amplifica nossas debilidades. Entretanto, o aprofundamento da crise financeira no centro do capitalismo trouxe de volta as velhas práticas no período recente, como observamos na truculência trumpista.
Aliás, o próprio desenvolvimentismo desejado pelos países da periferia cada vez mais esbarra na baixíssima capacidade tecnológica dos países latino-americanos, no limitado acesso ao crédito e no extraordinário volume de recursos financeiros e humanos necessários para implantar projetos em escala que permitam enfrentar os grandes monopólios que dominam todos os setores-chave da atividade produtiva mundial. Dos veículos tradicionais motorizados, às big techs. Dos equipamentos hospitalares, aos produtos eletroeletrônicos. Do lançamento de satélites, ao carro elétrico.
O que se observa em países como o Brasil é um crescente divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades concretas das camadas populares, mesmo em períodos políticos de domínio dos governos liderados por partidos progressistas.
Vale ressaltar que no tempo presente, o Brasil vem conseguindo reduzir sua taxa de desocupação para níveis muito expressivos, aumentar o poder de compra dos trabalhadores e valorizar (ainda que lentamente) o Salário Mínimo Real.
O Ipeadata nos mostra um ganho real de 4,04 por cento nos primeiros três anos do atual governo, contra uma queda real de 1,2% no governo anterior.
Em termos estruturais, entretanto, predomina uma cisão entre produção para exportar e consumo popular. Há uma produção voltada para a esfera alta de renda (carros luxuosos e caríssimos), contra uma produção insuficiente para a esfera baixa de consumo, caracterizada por transportes públicos precários, por exemplo.
Hoje, com 102,4 milhões de brasileiros ocupados segundo o IBGE, a remuneração média em vigor (de pouco mais de 2,3 SM mensais) faz com que quem produz a riqueza não consiga auferir renda para contribuir, decisivamente, com a robustez do mercado interno.
Isso ocorre mediante a presença de remunerações incapazes de atingir o mínimo necessário para a reprodução da força de trabalho. Segundo cálculos do DIEESE, de acordo com os parâmetros constitucionais da Carta de 1988, esta remuneração deveria ser em torno de sete mil reais mensais.
Em cada mandato presidencial, fatores conjunturais de menor importância se sobrepõem aos verdadeiros temas centrais que marcam um país dominado pela pobreza e pela desigualdade. Refiro-me aos gastos em setores estratégicos que nos coloquem como uma economia de ponta e competitiva.
Outro ponto central é a reconstrução de nossa base produtiva lastreada nos recursos naturais, como alimentos, bebidas, petróleo, indústrias siderúrgica, química e farmacêutica, e finalmente, nossa indústria de defesa e aeroespacial.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "As eleições argentinas, o peronismo e a esquerda", de Néstor .