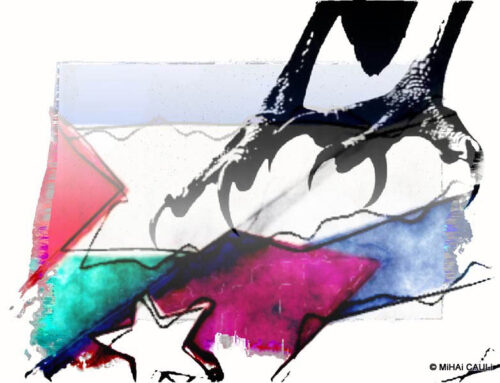O crescimento econômico no país se caracteriza pelo extrativismo, a desigualdade, grandes bolsas de pobreza estrutural, infraestruturas públicas deterioradas, multiplicação de conflitos latentes e instituições debilitadas.

Algumas pesquisas não hesitam em falar até mesmo em colapso do poderio norte-americano. Outras, a meu ver mais realistas, enxergam um declínio progressivo e possivelmente irreversível. Os próprios documentos oficiais reconhecem abertamente que seu poder e sua influência estão diminuindo. O recente Informe de Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, publicado em novembro passado, admite isso claramente ao se referir à China: "O que começou como uma relação entre uma economia madura e próspera e um dos países mais pobres do mundo transformou-se em uma relação entre quase iguais".
Quando, em suas primeiras páginas, estabelece "o que os Estados Unidos querem" (proteger-se de ataques militares e de influências estrangeiras hostis; uma infraestrutura nacional resiliente diante de desastres; a dissuasão nuclear mais robusta, crível e moderna; a economia mais forte, dinâmica, inovadora e avançada; a base industrial mais robusta; o setor energético mais sólido; ou o país mais avançado e inovador do mundo em ciência e tecnologia), não faz senão mencionar aquilo que deseja, pois começa a carecer de tudo isso – ao menos nas condições privilegiadas de apenas algumas décadas atrás.
A essa coincidência é preciso acrescentar um ponto comum à maioria das análises sobre o poder norte-americano que, a meu juízo, representa uma limitação importante. O declínio dos Estados Unidos é avaliado em termos das mudanças que ocorrem em sua relação com o restante das nações.
Não nego que esse seja um aspecto fundamental e indiscutível. O poder imperial dos Estados Unidos baseou-se, desde a Segunda Guerra Mundial, em quatro grandes pilares: o econômico, industrial, comercial e financeiro; o tecnológico; o militar; e o cultural. Os quatro determinaram a natureza de suas relações com o restante do mundo e agora entram em declínio, embora não com a mesma intensidade, o que também é muito relevante.
O declínio dos dois primeiros é inegável. O PIB real dos Estados Unidos passou de 40% do total mundial em 1960 para 29,2% em 2024. Sua produção industrial caiu de 40% para 19%, e sua participação no comércio mundial despencou de 30% do total global para 10%. E, embora o dólar continue sendo a moeda mais poderosa do mundo, seu peso no total das reservas globais diminuiu mais de 25 pontos percentuais nas últimas seis décadas.
Algo semelhante ocorreu no campo tecnológico. Embora ainda seja uma potência de primeira linha em numerosos setores, a China está logo atrás. Os Estados Unidos perderam o controle completo que até pouco tempo tinham sobre recursos fundamentais para que uma economia esteja na vanguarda do progresso tecnológico e seja economicamente dominante. Nem mesmo seu poder cultural permanece intacto, e apenas no campo militar o país desfruta, por ora, de uma vantagem decisiva e substancial sobre qualquer outro do mundo.
É fundamental, como disse, ter tudo isso em mente; ou seja, aquilo que muda na relação da economia e da sociedade norte-americanas com o restante do mundo. Talvez não tanto pelo que está diminuindo, mas pelo que lhe resta como principal alavanca de poder (sua capacidade militar), se o que se pretende é compreender o tipo de relação e de hegemonia que será obrigado a impor daqui em diante, tanto a seus antigos parceiros e aliados quanto às nações com as quais compete ou que considera adversárias.
Mas, em todo caso, e embora tudo isso seja importante, parece-me que estão sendo esquecidos os processos no interior dos Estados Unidos, que talvez sejam até mais determinantes do que os externos.
Refiro-me à deterioração progressiva das condições de vida de uma parcela crescente da população, à perda de estabilidade e à fragmentação cada vez maior da sociedade, à falência de instituições essenciais e ao avanço acelerado rumo à autocracia que vem ocorrendo.
Durante décadas, o poder imperial norte-americano baseou-se também na existência de uma sociedade que, por mais profundas que fossem suas fraturas, se apresentava ao exterior e se percebia a si mesma como a expressão real de um sonho realizado, o espelho no qual necessariamente deveriam se mirar aqueles que aspiravam ao progresso e ao bem-estar. Ali estavam presentes a segurança, o equilíbrio, o mundo em que tudo era possível para qualquer pessoa, o consumo sem limites e a abundância generalizada…
Hoje, no entanto, a sociedade, a economia doméstica e a política se degradaram e se decompõem, possivelmente, em um ritmo bastante mais rápido do que a perda de peso dos Estados Unidos nas relações internacionais. Continua sendo, sem dúvida, uma sociedade privilegiada, a mais rica do planeta, mas começa a não ser exagerado dizer que os Estados Unidos se assemelham cada vez mais aos países tradicionalmente chamados de terceiro-mundistas ou subdesenvolvidos. Ou seja, aqueles que, independentemente do volume de sua atividade econômica, caracterizam-se pelo crescimento sem bem-estar, pelo extrativismo, pelas grandes bolsas de pobreza estrutural, pela ampla extensão de mercados informais, pela insegurança, pelo urbanismo caótico, pelas infraestruturas coletivas deterioradas e pelos déficits de investimento social, por instituições democráticas frágeis ou capturadas, e pela multiplicação de conflitos latentes e associados a tudo isso, que geram violência, segregação e sociedades submetidas a conflitos constantes, ocultos ou explícitos.
A realidade social dos Estados Unidos, aquela que afeta o cotidiano das pessoas comuns, é muito parecida com tudo isso.
O modelo econômico norte-americano se transformou, e o crescimento passou a se basear na geração de atividade puramente improdutiva, na "produção" de mais bens intangíveis – seguros, dados, patentes, rendas de monopólio – do que de bens físicos. A bolha de investimentos especulativos e sustentados por artifícios contábeis mantém atualmente o crescimento do PIB e, se o desemprego fosse medido pelos métodos anteriores aos adotados durante a presidência de Clinton, a taxa de desemprego seria de 22%, apenas três pontos abaixo da registrada na Grande Depressão de 1929. A economia dos Estados Unidos gera mais riqueza do que qualquer outra, se medida nos termos muito brutos do Produto Interno Bruto, mas essa riqueza se concentra nas grandes corporações tecnológicas e no sistema financeiro, enquanto a maioria dos trabalhadores dispõe de cada vez menos renda e poupança e vive à beira da insolvência.
A desigualdade na distribuição da renda e da riqueza é a maior do mundo desenvolvido e talvez não tenha paralelo em todo o planeta. Houve períodos, no último quarto de século, em que o 1% mais rico da população apropriou-se de 95% da renda que estava sendo gerada. O coeficiente de concentração da riqueza é praticamente o mesmo de Madagascar, Haiti, Tanzânia ou Camarões, e maior do que o da Rússia, China, Marrocos, Chade, Etiópia ou Iraque.
Quase metade das estradas e um em cada cinco quilômetros de rodovias estão em estado "ruim ou regular". Mais de 45 mil pontes são estruturalmente deficientes, e a rede elétrica sofre apagões regulares. Em grandes cidades como Detroit, Cleveland ou St. Louis, a desindustrialização deixou bairros com indicadores de renda, mortalidade e violência comparáveis aos da América Central. Em outras, como Portland, foi necessário decretar estado de emergência por três meses para tentar conter o uso e os impactos do fentanil (cinquenta vezes mais potente que a heroína). As máfias (estadunidenses, como os bancos que guardam o dinheiro que elas movimentam) controlam sua distribuição em todo o país.
Com 40% de todas as armas civis existentes no planeta, nos Estados Unidos morrem a cada ano mais pessoas por disparos do que em todas as guerras travadas pelo país fora de suas fronteiras. Há quase seis vezes mais homicídios do que na Europa, e ali se encontra o maior sistema carcerário do mundo: cerca de dois milhões de pessoas estavam presas em 2024 (mais do que na Rússia, África do Sul ou Brasil). A força de trabalho das pessoas encarceradas é utilizada para fabricar bens para empresas privadas, com salários de um dólar por hora. Muitos deles, além disso, foram levados à prisão como consequência de má prática ou brutalidade policial, supressão de provas ou confissões forçadas.
Embora os Estados Unidos sejam o país que mais gasta dinheiro em saúde (majoritariamente privada e em benefício das grandes empresas do setor e das seguradoras), há quase 50 milhões de pessoas sem acesso a serviços de saúde, o que provoca, por essa razão, mais mortes anuais do que os acidentes de trânsito. A expectativa de vida é inferior à de Cuba; a taxa de pobreza infantil é praticamente a mesma das Filipinas. A mortalidade materna é três vezes maior do que a do Canadá. Quase 800 mil pessoas viviam em situação de rua no início de 2024. Os Estados Unidos estão, junto com Ilhas Marshall, Micronésia, Palau, Papua-Nova Guiné, Nauru, Niue, Suriname e Tonga, entre as únicas nações do mundo que não garantem licença-maternidade remunerada em 2025.
A educação se deteriora progressivamente. Segundo o Departamento de Educação, 54% dos adultos leem abaixo do nível do 6º ano do ensino fundamental. E o sistema educacional, em vez de atuar como impulsionador da mobilidade social, transformou-se em uma armadilha financeira para milhões de famílias: em agosto deste ano, a dívida estudantil disparou para 1,81 trilhão de dólares, com 42,5 milhões de devedores, cada um devendo em média 39.075 dólares.
O Escritório das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável situa hoje os Estados Unidos na 44ª posição mundial de seu índice, logo atrás de Cuba, Bulgária, Ucrânia e Tailândia. E a nação mais rica do mundo ocupa, no entanto, apenas a 17ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Tudo isso vem acompanhado de uma deterioração progressiva das instituições e da representação política. A revista The Economist classifica os Estados Unidos entre as nações com "democracia imperfeita". A própria opinião da população norte-americana nas pesquisas talvez seja o retrato mais fiel do que está acontecendo na potência que até agora controla o mundo: apenas 24% dos norte-americanos acreditam que o país está "no caminho certo"; metade dos jovens o classifica como "terceiro-mundista"; e somente 55% dos norte-americanos acreditavam que Biden venceu legitimamente as eleições de 2020. Em abril passado, 52% dos norte-americanos, 56% dos independentes e até 17% dos republicanos consideravam, em uma pesquisa, que Trump é um "ditador perigoso cujo poder deveria ser limitado antes que destrua a democracia norte-americana". Ainda assim, em janeiro de 2024, três quartos dos republicanos apoiavam, em uma pesquisa, que Trump fosse "ditador por um dia", como o atual presidente havia dito que seria.
Peter Turchin (Fim de jogo: elites, contra-elites e o caminho para a desintegração política, Editora Debate) estudou a evolução de centenas de sociedades ao longo de 10 mil anos e demonstrou com clareza que a desigualdade é o principal fator explicativo de sua decadência. Devemos prestar atenção, sobretudo ao que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, mais do que no exterior, para antecipar o que vai acontecer e de que maneira os acontecimentos decorrentes de sua decadência imperial irão se desenrolar. E o que já é possível vislumbrar nesse sentido é preocupante: o império está se transformando em um monstro autocrático, militarizado e desumano. (Publicado por Ctxt)
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Tradução: Eduardo Scaletsky
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "Moeda fraca, superávit trilionário e a nova rodada de tensões globais", de Maria Luiza Falcão.