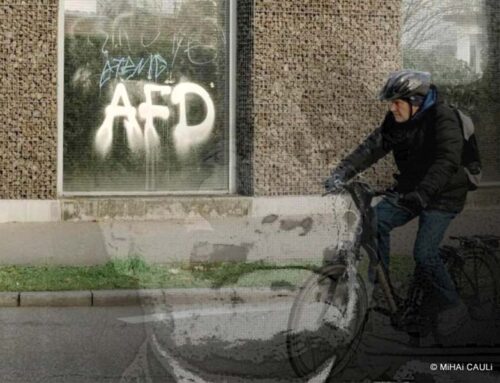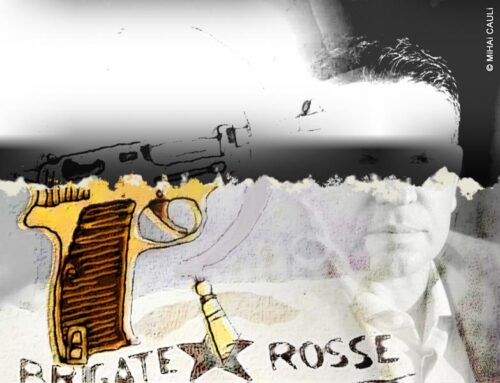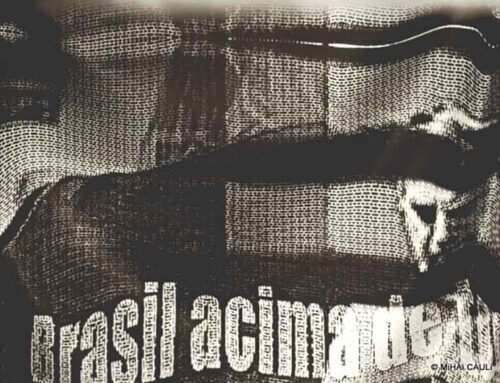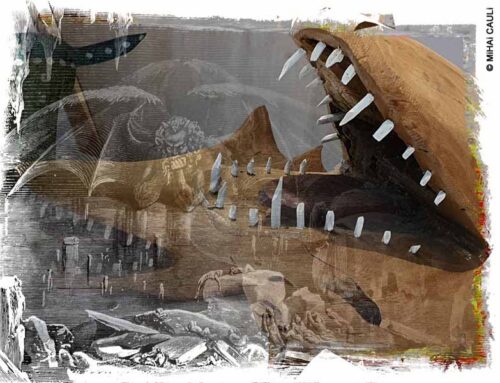Recentemente, as redes sociais fizeram grande alarde quando a talentosa cantora Anitta demonstrou desconhecimento sobre o papel do legislativo, dos entes federados, sobre o que faz um vereador, um deputado estadual ou federal. Não, não pretendo ser condescendente e muito menos deselegante com a artista, o grau de desconhecimento que demonstrou, sem panos quentes, não deveria existir, apesar de sabermos ser essa a regra.
O funcionamento das instituições era para ser ensinado e repetido desde o ensino fundamental para que todos soubessem como está moldado nosso arcabouço legal-burocrático-político, sempre enfatizando que esse é um arranjo tido como o “melhor” em nosso tempo histórico, não algo religioso, imutável.
O objetivo deste artigo não é debater o quanto é comum o desconhecimento que a Anitta explicitou, mas apontar uma questão bem mais grave: as próprias “instituições” contribuíram decisivamente para instaurar a balbúrdia.
Neste momento, não discuto se foi intencional ou não, essa análise demandaria mais fôlego, inclusive, eventualmente, a distinção entre intenção e inconsciente (individual e/ou coletivo), a qual foge de minha capacidade, salvo como recurso pontual de retórica. E o campo progressista, por meio de seus atores na sociedade, também contribuiu para a confusão institucional que vivemos. Meu contexto é o arranjo político moldado pela Constituição de 1988 e tratarei de situações distintas e aparentemente desconexas.
Começo com o caso que motivou o título do artigo. Estava na faculdade de Direito quando foi julgada pelo STF a primeira ação direta de inconstitucionalidade de impacto, ao menos para os fins deste artigo, em fins de 1989.
A ADI 162/DF, proposta pelo Conselho Federal da OAB, arguiu a inconstitucionalidade de uma medida provisória (a MP 111/89). Uma das questões debatidas na ADI era a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário dos critérios de relevância e urgência utilizados pelo Executivo para editar uma medida provisória. Arguiu-se que a matéria legislada pela MP 111/89 não era urgente e relevante.
Havia razões históricas para se recear as medidas provisórias, porque ingressávamos no período democrático e temia-se a “supremacia excessiva” do Executivo. Parecia racional que o juízo de urgência e relevância não fosse do próprio Executivo que editou a norma. Entender o contrário seria igualar as MPs aos famigerados Decretos-Lei dos períodos ditatoriais.
O julgamento foi muito controvertido. O relator, ministro Moreira Alves, um reconhecido conservador, acompanhado por seus pares, decidiu que “os conceitos de relevância e de urgência, como pressupostos para edição de medidas provisórias, decorrem do juízo discricionário de oportunidade e de valor do Presidente da República”.
A crítica da ala progressista do Direito foi grande (nada parecido com o que hoje vemos pelas redes sociais, diga-se). Moreira Alves foi acusado de ser um “resquício da ditadura” (e, de fato, foi indicado por Geisel), mas que me lembre jamais respondeu, não se pronunciou publicamente, muito menos bateu boca pelos jornais.
Eu mesmo, com toda minha “sabedoria” de segundo período de direito, com nenhuma formação pretérita sobre o desenho institucional do Estado – cresci na ditadura, tive aulas de Educação Moral e Cívica (!) – disse cheio de pompa: “que absurdo”. E passados mais de 30 anos posso dizer: Moreira Alves, o conservador, estava certo. O juízo de urgência e relevância é exclusivamente político, do Executivo e do Legislativo, não do Judiciário.
A relação entre Executivo e Legislativo ao longo desse tempo mostrou o acerto da decisão, estabelecendo limites recíprocos, criando procedimentos para a tramitação das MPs, com intervenções apenas pontuais do Judiciário e nenhuma crise política grave surgiu por causa dessa prerrogativa do Executivo para criar normas temporárias que ainda passariam pelo crivo do Congresso Nacional. Com o passar dos anos, mais do que concordar com a decisão, passei a lamentar que outras iguais a ela não se tornaram a regra.
A ampliação das matérias que passaram a ser “judicializáveis” foi contínua, muitas vezes com um lado bom inegável, na defesa das minorias, do meio ambiente, dos direitos sociais. Outras vezes, contudo, representou distorções que acabaram por tornar nossa democracia disfuncional, reduzindo paulatinamente o espaço da “política”, do legislativo e, principalmente, do Executivo, que são eleitos, lembremos.
A escolha nunca foi entre um Judiciário passivo, frio e distante ou um que tudo fiscaliza, tudo julga. Essa infantilização maniqueísta de temas relevantes e complexos é muito comum no debate público brasileiro. Mais de 20 anos atrás apontei em minha dissertação de mestrado o meu incômodo com esse problema, que aqui resumo: se há um direito ou interesse coletivo, ele é sempre judicializável?
A resposta não é simples e tanto a prática da advocacia quanto a realidade política brasileira mantiveram esse tema como uma preocupação pessoal constante. Para melhor explicar dou um salto e parto para a exemplificação com um tema atual e aparentemente desconexo.
Todos temos direito coletivo à saúde. Isso é inegável. Mas disso decorre que, nestes tempos de pandemia, cabe a um juiz ou a uma juíza decretar o “lockdowm”, como ocorreu em algumas cidades? Isso é papel do Judiciário? Está dentre as suas capacidades?
Para enfrentar a pandemia sou a favor do isolamento e do lockdowm, se esse for necessário, mas nada entendo de epidemiologia, de virologia, assim como um juiz ou um promotor público ou um procurador da república. Quem deve decidir isso é o chefe do executivo local, a partir das informações que lhe são prestadas pelas áreas técnicas de saúde e outros especialistas. A intervenção do Judiciário representa invasão na competência exclusiva do executivo.
Com esse exemplo atual quero apontar que o aumento disfuncional e sem qualquer reflexão crítica sobre o que pode ser “judicializável” vem causando inúmeros danos à democracia, e não é de hoje. Não notamos porque, por vezes, resultam em “bons fins”, como, voltando ao exemplo, a adoção de um necessário lockdown que um prefeito ou governador acovardado não queira o ônus político de decretar, especialmente pela criminosa confusão advinda do Palácio do Planalto, cujo ocupante tem barulhentos seguidores e percentual importante da população o apoiando, pelo que informam as pesquisas. Mas essa disfunção, mesmo visando “bons fins”, deixa sequelas e é danosa.
Essa redução do espaço da política me parece obviamente nociva e essa invasão de atribuições é promovida por um poderoso aparato estatal, composto por quadros permanentes, estáveis, não eleitos e fortemente corporativos. Além do Judiciário, falo naturalmente do Ministério Público, dos inúmeros órgãos de controle, como tribunais de contas, controladorias…
Como destaquei antes, é necessário apontar a responsabilidade da parcela progressista da sociedade por esse quadro. Assisti políticos e pessoas públicas de inegável vinculação democrática defenderem a ampliação da atuação do Ministério Público, do Judiciário, elogiando decisões ou ações que inegavelmente se imiscuíam nas atribuições dos outros poderes, mas como atingiam um fim considerado justo…
Aqui, dou um outro salto e volto novamente no tempo para buscar uma das explicações para esse fato. Nos anos 90 uma corrente do direito denominada “direito alternativo” teve relevância e influenciou o comportamento dos setores democráticos e progressistas. Aqui resumo (mal) o que defendiam os teóricos dessa corrente: o direito deveria buscar a realização da justiça social, deveria se livrar dos dogmatismos e buscar a consecução dos direitos fundamentais previstos na Constituição recém promulgada. Perfeito, quem poderia ser contra?
Mas como os direitos fundamentais seriam concretizados? Pelo Judiciário, claro. Quem poderia exigir perante o Judiciário? O Ministério Público, instituição pertencente ao Estado, cujo papel foi enormemente fortalecido pela Constituição de 88 para promover a defesa da sociedade contra… o Estado. Ah tá.
De modo algum pretendo desmerecer os esforços de respeitados acadêmicos defensores desse enfoque do direito e por honestidade devo enfatizar que meu resumo acima é pobre. Abrir brechas no formalismo do direito resultou em inúmeros avanços nas defesas das minorias, dos direitos fundamentais.
O diabo, contudo, mora nos detalhes. Como observou uma arguta e sóbria colega de faculdade depois que assistimos a uma festejada palestra sobre direito alternativo e ao final, parecia que a plateia sairia para tomar o Palácio de Inverno: “tudo muito interessante, mas… e o direito alternativo do outro lado?”.
O efeito colateral foi grande, o paradoxo era e é gritante: não é razoável que o Estado seja tanto o agente que cobra por direitos da cidadania, salvo de forma residual, quanto o que concede esses direitos. Me faz lembrar da célebre tirinha de quadrinhos da Revista Mad, spy vs spy, mas aqui seria “estado x estado”.
Por alguma razão os democratas e progressistas acreditaram que as instituições de Estado são formadas por pessoas que necessariamente comungam da mesma visão de mundo e que a realização dos direitos fundamentais pode se dar fora do espaço da política.
A redução paulatina da política, o contrário do que fez o ministro conservador advindo da ditadura, reduziu a força do voto, não promoveu a cidadania e gerou uma democracia tutelada pelo aparato burocrático repressivo do Estado, outro paradoxo, naturalmente.
Em artigos futuros retornarei ao tema aqui no Terapia Política, buscando analisar casos que foram emblemáticos, em meu entendimento, para essa disfunção.