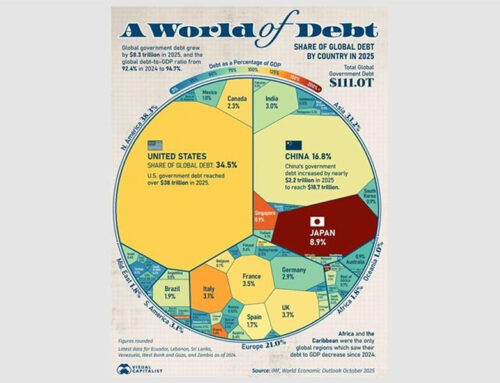O tranco econômico que resultou da correta opção de combater a onda de coronavírus pelo isolamento social derrubou a arrecadação fiscal. Na mesma medida em que o conjunto das despesas se manteve, ou até se elevou, por decorrência da calamidade pública, o déficit nas contas públicas cresceu.
Neste sentido, o argumento dos neoliberais em defesa do programa de ajuste fiscal permanente, até certo ponto suavizado pela excepcionalidade da pandemia, volta-se para a sua retomada profunda tão logo superado o quadro de isolamento social. Ou seja, o retorno mais acentuado da situação de fracasso econômico e social vigente no Brasil antes da pandemia.
Na realidade, o que o país precisa mesmo é da libertação do Estado brasileiro da dependência ao mercado financeiro imposta pela reprodução do rentismo asfixiante. O resultado disso é a constatação que em meio à maior recessão econômica brasileira, apenas os cinco maiores bancos no país acumularam em seu poder, o volume de ativos (R$ 7,4 trilhões) que superou a totalidade dos recursos da economia nacional (PIB de 2019 em R$ 7,3 trilhões).
Para tanto, o Banco Central executa a proeza de elevar a taxa real de juros no Brasil, mesmo reduzindo nominalmente a taxa básica frente ao cenário da deflação nos preços ao consumidor. Ou seja, o encolhimento do nível de produção que faz o país empobrecer acontece com o enriquecimento do mercado financeiro.
A origem do poder extremo do rentismo no Brasil remonta à “era dos fernandos” (Collor, 1990-1992 e Cardoso, 1995-2002), quando os ricos condicionaram o financiamento do Estado deficitário, sobretudo após a implantação do Plano Real, em 1994, pela desoneração tributária do capital e pela extorsão recompensada por alta taxa de juros a sustentar o jogo da dívida pública. Com isso, se fez a transferência de crescente parcela orçamentária para os ricos na forma de pagamento dos juros do endividamento do Estado.
Assim, os juros da dívida pública que não representavam 2% do PIB no início dos anos de 1990 passaram a crescer e a responder, em consequência, pela sangria orçamentária de quase três vezes mais ao longo do tempo. No mesmo sentido, o afrouxamento e a isenção fiscal ao andar de cima avançou consideravelmente.
No começo da década de 1990, por exemplo, a alíquota máxima do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) foi reduzida em 44,4%, pois passou de 45% para 25% da renda. Ao mesmo tempo, a alíquota mínima acusou elevação de 50%, saltando do patamar de 10% para 15% da renda.
No ano de 1995, mais uma benesse foi realizada pelo receituário neoliberal para desonerar o capital e concentrar o financiamento do Estado na tributação da renda do trabalho. Assim, os lucros e dividendos que eram tributados em 15% passaram a ser isentos, enquanto a carga tributária subia para a base da pirâmide social. E, em 2007, o governo brasileiro deixou de tributar a movimentação financeira (CPMF) de grande parte do rentismo que financiava adicionalmente as despesas com a saúde pública.
Com isso, houve a consolidação da dependência do Estado ao endividamento público pelo mercado financeiro através da ciranda improdutiva do rentismo. O aprisionamento da política econômica e social ao ajuste fiscal permanente se apresentou como consequência, protagonizada pela constante pressão do constrangimento do gasto público não financeiro.
Por conta disso, a promessa da Constituição Federal de 1988 e o esforço de determinados governos pela inclusão dos pobres ao orçamento público foram desfeitos por iniciativa do rentismo. Exemplo maior disso encontra-se na emenda constitucional (EC95) que congelou o conjunto das despesas do governo federal por 20 anos, mas deixando livre a despesa com juros da dívida pública.
O rompimento desse círculo vicioso pressupõe a consolidação de uma nova maioria política comprometida com a reconfiguração do financiamento do Estado brasileiro. No cenário do pós pandemia, o saneamento das contas públicas pressuporia um projeto forte de desenvolvimento nacional que contivesse a reforma democrática do Estado a submeter o seu financiamento em três eixos principais.
De um lado, a progressividade tributária a onerar mais os ricos e a suavizar os pobres, sem necessariamente aumentar a carga tributária bruta nacional. De outro, o financiamento do déficit público, quando existente, por títulos emitidos pelo Tesouro e adquiridos pelo Banco Central.
Como terceiro eixo do financiamento do Estado, a emissão monetária capaz de contribuir, sobretudo nas condições objetivas da promoção em novas bases da retomada do crescimento econômico sustentável ambientalmente. A legitimidade do processo de reconfiguração do aporte ao setor público se viabilizaria pela grandiosidade do Estado ao se libertar do improdutivismo do rentismo do mercado financeiro, assegurando a tão almejada justiça tributária.
Assim, o Brasil voltaria a descortinar o horizonte civilizatório, diferentemente do caminho da barbárie que o receituário neoliberal tem, em diferentes governos, patrocinado com a condução dos brasileiros a uma vida medíocre e de expectativas cada vez mais decrescentes.