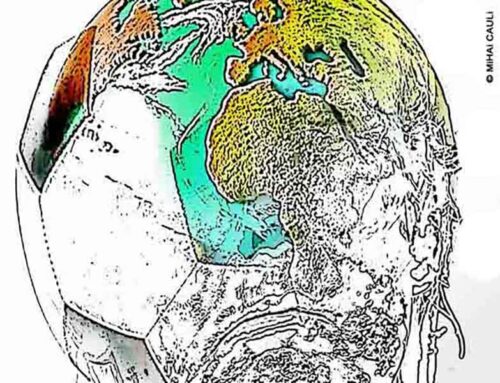O indigesto apelo de Trump pela volta ao passado pode estar se realizando, mas não apenas no sentido desejado por ele. Uma manchete do El País no meio da semana anunciava: “Estados Unidos enfrentam a maior onda de protestos raciais desde o assassinato de Martin Luther King”. King foi morto em abril de 1968. Pouco antes, dois outros importantes líderes negros americanos tinham sido também assassinados, Malcom X, em 1965, e Medgar Evers, em junho de 1963.
Dois meses após o assassinato de Evers, o próprio King liderou aquela que ficou conhecida como a maior de todas as manifestações contra a segregação racial. A Marcha em Washington por Trabalho e Liberdade reuniu 300 mil pessoas e obrigou o Congresso Americano a aprovar a Lei dos Direitos Civis, já no ano seguinte, e a Lei do Direito de Voto, em 1965.
A hegemonia branca dos Estados Unidos estava em guerra contra o crescente movimento pelos direitos civis. Mas a resistência a essa ofensiva sem limites apenas cresceu. Uma significativa transformação censitária e o fortalecimento econômico da população negra acabou por produzir um fato histórico memorável, comemorado no mundo todo, a eleição de Barack Obama em 2008. O registro dos primeiros negros nos Estados Unidos é de 1619. Tardaram, portanto, 400 anos até se permitirem eleger um presidente negro. Mas no substrato da alma americana está ainda muito distante o momento em que a repugnante chaga do racismo será definitivamente removida. Esse hediondo e covarde assassinato de um homem rendido no meio da rua e em plena luz do dia por quatro policiais é um escandaloso documento probatório.
Daqui para diante, as ruas é que vão determinar os rumos dessa guerra às vezes declarada, às vezes submersa. Os sinais emitidos pelas ruas foram claros, com as manifestações no mundo inteiro ganhando um ímpeto e uma unidade inédita: o crime contra a vida de George Floyd trouxe à tona, de novo, a gravidade da infecção e é preciso estancá-la. Esse mundo partido onde apenas um pedaço é exibido não é mais aceitável.
Em Chicago o turista que passeia pela bem ajardinada Avenida Michigan, que caminha pelas bem cuidadas ruas da cidade de Frank Lloyd Wright e circula de barco pelos canais ou pelo lago Michigan contemplando uma arquitetura paradigmática quase nunca se depara com carros de polícia – mas não parecem ser necessários. A sensação é de que a miséria e a violência foram banidas da cidade de Al Capone, e que ali agora é a ilha de Utopia imaginada por Thomas Morus (escrito em latim, Utopia foi publicado na Inglaterra há pouco mais de 500 anos, em 1516). Fascinado, deixará a cidade convencido de que assim é.
Mas, experimente se deslocar para os bairros onde vive a população negra no sul de Chicago, uma das mais ricas cidades dos Estados Unidos. Comparada a Nova York, Chicago é uma cidade definitivamente guetizada. Isso sempre me dizia meu querido amigo e professor de inglês Deepak, que antes de ser convidado para dar aulas de literatura numa universidade dali ensinava e vivia em Nova York. Ele insistia que era suficiente tomar o metrô numa e noutra cidade para perceber o tamanho da diferença. Para cada linha (marcada pela sua respectiva cor), uma faixa de renda, uma cor ou nacionalidade. Algum eventual exagero à parte, assim era. E embora a mim soasse um tanto estranho o quanto aquela segregação parecia incomodá-lo, eu a testemunhei nitidamente a partir do momento em que fui mais vezes à cidade de Spike Lee.
Nos bairros negros do sul da cidade, em 2015, 400 crianças foram feridas por armas de fogo. Entre 2001 e 2015, 7.356 pessoas foram assassinadas, isto é, 525 pessoas por ano. Para efeito de comparação, entre 2003 e 2011, morreram 4.424 soldados americanos na guerra do Iraque (491 por ano).
Esse extermínio selvagem de parte da população do país está se dando distante dos olhos dos que passeiam entretidos pelas ruas da capital do Illinois, e tanto quanto possível também dos seus cidadãos de bem, ou de todos aqueles que não o sofrem diretamente. Parece existir somente para os residentes dos guetos. Os que são suas vítimas. São membros desse mesmo grupo censitário os quase dois milhões e meio de americanos que se encontram hoje enjaulados no sofisticado e em grande parte lucrativo sistema carcerário estadunidense – eram trezentos e poucos mil presos ao final dos agitados anos 60. Entre 1970 e 2014, enquanto a população geral do país crescia numa taxa de 56%, a população carcerária aumentava dez vezes mais, ou seja, 544%. Será uma platitude dizer que a grande maioria desses encarcerados são negros.
Essa é parte do pano de fundo do assassinato de George Floyd, das manifestações de protesto e da histérica (mas planejada) reação de Trump.