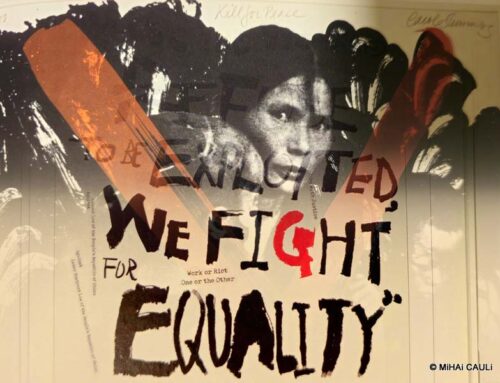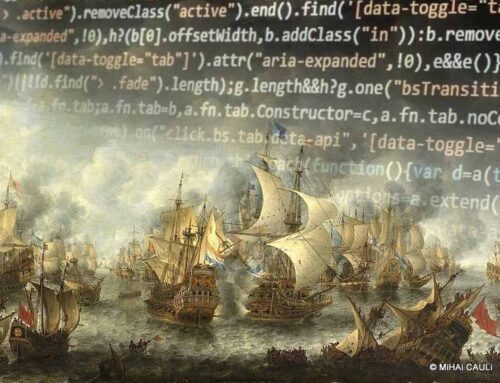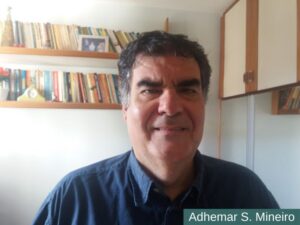
Em meio a duas gigantescas crises que se combinam – a pandemia do novo coronavírus e uma inaudita recessão econômica -, presentes em quase todos os países do mundo nesse momento, o Brasil padece ainda de um revés que lhe é próprio: uma tensão política aguda, que se arrasta desde 2015, e cuja trama parece longe de um final. Complicada sobremaneira no último ano e meio com o governo Bolsonaro, essa terceira crise obviamente se combina com as duas anteriores.
As três crises extremamente agudas têm levado a muitas reflexões, e no campo político ao menos duas discussões têm dominado os debates: a cobrança de autocrítica e a discussão sobre a formação de frentes para o enfrentamento da situação.
A primeira delas, a “autocrítica”, refere-se a olhar para o retrovisor e tentar entender por que chegamos até esse momento politicamente dramático que estamos vivendo. Essa discussão parece merecer um parênteses preliminar sobre a real necessidade de reler o passado e identificar erros para seguir adiante, ou se é possível ir em frente fazendo política, elaborando propostas, construindo o novo, sem avaliar os erros do passado. A história brasileira parece mostrar que em geral seguimos adiante sem rediscutir o passado publicamente, embora percebamos que os principais atores políticos aprendem com o passado. Na política, “lavar a roupa suja” não é neutro, e evidentemente a autocrítica pública, embora com frequência corajosa, gera desgastes políticos.
Esse tema era até aqui muito cobrado dos petistas e/ou dos que sustentaram os governos capitaneados pelo PT a partir de 2003. No dia 16 de junho, em artigo no Valor Econômico, o jornalista Pedro Cafardo, editor-executivo do mesmo jornal, expressou com clareza o que já era amplamente falado em outros espaços, e cobrou também um mea culpa da elite pelo apoio à eleição de Bolsonaro. Talvez essas duas, e outras autocríticas, sejam necessárias a serem pensadas no próximo período, para que fiquem pelo menos implícitas. Não é preciso explicitar os erros, mas pelo menos aprender com eles para não repeti-los.
Outra discussão importante é sobre a constituição de frentes, que sempre são constituídas de acordo com suas finalidades, e serão mais amplas quanto mais seus objetivos sejam focados, precisos, sendo contra ou a favor. Por conta disso, é muito mais fácil fazer uma frente contra, uma coalizão de veto, em que a oposição a algo seja o ponto de união de distintas pessoas e visões, muitas vezes sem nem explicar muito o motivo, já que as motivações tendem a ser distintas. Mas também pode ser a favor de uma ideia ampla e generosa (um exemplo que vem rápido à cabeça é a coalizão em torno do lema “Diretas Já!”, em meados dos anos 1980).
Quanto mais conteúdo você vai incluindo nas demandas da frente política, menos ampla esta tende a ser. Isso ajuda a entender porque uma coalizão em torno da ideia “Fora Bolsonaro!” tende a se reduzir quando agregamos conteúdo. A frente para “derrubar” é necessariamente mais ampla do que a frente para “governar”, exatamente porque definir os pontos que estruturam um “governo” costuma afastar os vários setores que podem se juntar para evitar algo. Não quer dizer que as duas coisas não se relacionem, já que alguns só se juntem para “derrubar” se tiverem alguma ideia do que vem depois, especialmente os que foram sócios da chegada ao atual estágio de desgoverno no país (o objetivo não é voltar aqui ao tema da “autocrítica”). Portanto, o tamanho da frente vai depender de seus objetivos, sua finalidade.
Neste momento, a “frente contra” ampla é fundamental para a sobrevivência, por questões de saúde, econômicas e/ou políticas. Mas isso nunca deve levantar uma cortina de fumaça diante da necessidade, para além da democracia, de uma frente política no país pelo desenvolvimento com soberania, distribuição de renda, riqueza e poder, e uma estruturada e central preocupação ambiental, o que será necessariamente menor do que a “frente contra”.