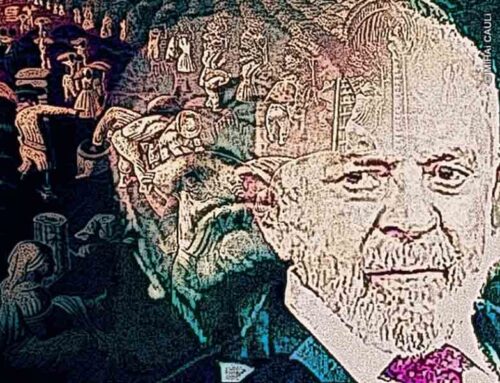Foto: MCTIC/Divulgação
Essa provocação atravessa o cotidiano de profissionais da Educação e estudantes em todo o país e anima os debates em torno de escolhas difíceis e circunstâncias complexas na tensa superposição entre o institucional e o doméstico, com as restrições impostas pela acertada estratégia de isolamento. Essa tem sido, aliás, nossa rotina, desde que passou a ocorrer contaminação comunitária pelo vírus de altíssima propagação – a Covid-19. E, a respeito da pergunta do título, deixo falar professor de Linguística que sou: a afirmação “é possível defender a universidade pública e planejar atividades remotas” foi tornada pergunta, sugerindo que as duas partes correspondem a pontos de vista diversos. Diversos, mas antagônicos?
Talvez seja preciso recuar no tempo, observando as fases que nos conduziram até o momento atual da discussão. Vejamos. Mesmo com notícias anteriores sobre a gravidade da doença na China e na Itália, a postura negacionista oficial no Brasil impediu uma preparação adequada.
Os primeiros sinais de contaminação comunitária foram acompanhados da adoção de políticas de isolamento social, convocando-nos a uma tarefa dificílima de suspensão da vida profissional e social, ao mesmo tempo em que enfrentamos o desafio diário de lidar com um conjunto intenso, diverso e complexo de informações. Pesquisadores se tornaram fontes prioritárias dos telejornais, suas posições orientam decisões governamentais ou são confrontadas por crenças sem evidência científica, fundamentadas na grosseira oposição entre “normalidade econômica” e preservação da vida e da dignidade. No Brasil, toda a dificuldade com a crise sanitária foi agravada por uma aguda crise política por esse modo caótico de governar.
Em março, ao serem adotadas as primeiras orientações de isolamento, foi preciso refazer rotinas, convencer amigos e familiares da gravidade da situação, estabelecer tarefas de higienização, entre outras, muito rapidamente. Fomos tomados por sentimentos contraditórios: a necessidade de isolamento organizou nossas ações e os desejos de resolver problemas imediatos regularam os primeiros momentos da pandemia. Já não era mais possível sequer encontrar pessoas para interagir e elaborar conjuntamente os eventos e os desafios rapidamente impostos. Naquele momento, os mais pessimistas projetavam um retorno à “vida normal” em agosto ou setembro, no máximo. Nem os mais pessimistas imaginariam que estaríamos agora, no final de julho, debatendo o adiamento do réveillon e do carnaval de 2021!
À medida que uma compreensão coletiva se instituía drasticamente, outros dados se tornaram evidentes. Ao lado das orientações de isolamento, sintetizadas nas palavras de ordem “fique em casa” e “lave as mãos”, dados do IBGE mostravam que um terço dos brasileiros não tem acesso à rede de esgoto. Esse é um dos vários indicadores que mostraram que a pandemia criou uma situação de emergência sanitária e, ao mesmo tempo, expôs, de modo rápido e intenso, os efeitos mais duros da extrema desigualdade social em que nos encontramos.
Nas Universidades públicas, os primeiros levantamentos de perfil de acesso de sua comunidade às tecnologias digitais e à internet evidenciaram níveis elevados de exclusão digital, mas não só ela. O compartilhamento de equipamentos, o acesso à internet quase exclusivamente sendo realizado por telefone celular são alguns dos aspectos que foram expostos. A eles se agregam a falta de ambiente doméstico para estudo, o impedimento do uso de computadores em espaços como lan house, a desagregação da renda familiar. São alguns dos elementos da face mais dramática da vulnerabilidade social. Traços que apresentam um perfil de estudante ao qual se devem dirigir mais fortemente as políticas de assistência social, garantindo possibilidades socioeconômicas de acesso e de pertencimento subjetivo ao universo acadêmico.
Frente a essa complexidade me parece insuficiente responder apenas afirmativa ou negativamente. Inclusive, é possível responder afirmativamente em um contexto e negativamente em outro. Isso porque eu posso dizer que seja viável fazer algum tipo de trabalho remoto, se forem observadas as condições A e B e também dizer que não é possível realizar qualquer tipo de trabalho remoto em outras circunstâncias, porque não estariam preservadas as condições X, Y e Z dos sujeitos envolvidos nessa esfera de atuação.
Com efeito, não podemos ignorar: não há coordenação nacional disposta a debater com as instituições de ensino superior uma política de retomada presencial, muito menos a defesa da vida. Ao contrário, o discurso oficial produz rivalidades entre “vida” e “economia” – tudo entre aspas, porque só mesmo ultraliberais pensam atividade econômica sem vidas em ação. Por outro lado, é justamente essa pressão pela retomada que produz dados e cria instrumentos concretos de denúncia da expressiva vulnerabilidade socioeconômica e exclusão digital a que estão submetidas parcelas significativas de estudantes das universidades.
Uma condição preliminar: não assumir a exclusão digital como dado de realidade. Ao contrário, qualquer planejamento de retomada tem como público prioritário justamente aquele que esteve alijado das oportunidades de educação. O desejo de preservação do vínculo acadêmico é, antes de tudo, o desejo de lutar contra a evasão pra quem a universidade pública sempre pareceu um sonho distante. Afinal, foi com muita luta que se impuseram ações de reparação no ingresso por cotas nas universidades e políticas de assistência estudantil.
Tem sido luta diária de muita gente – inclusive familiares e amigos que não puderam frequentar o espaço universitário, mas se organizam para possibilitar condições materiais, domésticas, culturais e afetivas para que os seus tenham possibilidade de alterar narrativas que pretendem culpabilizar os indivíduos pela tragédia civilizatória a que temos sido submetidos. Ainda vivemos na sociedade em que políticas afirmativas de ingresso da juventude negra e proletária são vistas como benesse e não como reparação. Ainda vivemos na sociedade que aceitou entender a formação superior como privilégio e não como direito, tornando precárias as ações de inclusão e permitindo que se pudessem formar profissionais de nível superior sem que fossem adotadas políticas de inclusão digital efetivas. É frente ao cinismo desses setores oligárquicos dominantes que temos nos insurgido e assim continuaremos.
Um segundo aspecto reside em reconhecer que, se estamos diante de uma crise sanitária, que nos toma a cada um de nós de diferentes modos e intensidades, os laços de solidariedade devem ser fundantes na composição do trabalho em modo remoto. Precisamos romper com o paradigma da solidão e da vigilância disciplinar que impôs a cada professor uma turma. Temos também a tarefa de combater as forças de individualização, de isolamento e disciplinamento que tornaram solidariedade e troca como atividades extra, restritas aos espaços de socialização (justamente aquele cafezinho ao qual não temos qualquer possibilidade nesses tempos de isolamento).
É preciso, portanto, interrogar as rotinas do trabalho docente e os critérios de distribuição de carga horária para que sejam evitadas coerções incompatíveis com os cuidados e as imprevisibilidades de uma crise sanitária. Acrescente-se a isso: o universo digital não foi assumido como espaço de interação e de trabalho, para o qual houvessem sido formuladas propostas de formação profissional e redução dos diferentes níveis de adesão às tecnologias. A atuação de coletivos de trabalho permite compartilhar as ações, reconhecendo as condições de cada um e possibilitando a construção de laços de solidariedade.
Um terceiro aspecto destaca a importância de construir qualquer planejamento de atividades remotas por meio de legislação interna das universidades específica sobre o tema, evitando que sejam alteradas as normativas atuais dos nossos cursos na modalidade presencial. Essa é uma sinalização que considero particularmente importante, nesse momento em que fundações privadas que exploram plataformas de ensino a distância anunciam pretensões de lucrar com a mais dramática crise sanitária dos últimos cem anos.
Ainda que tal medida não resolva definitivamente a questão, trata-se de importante exercício da autonomia institucional e de resistência frente à sanha mercadológica que enseja transformar os mais duros riscos à saúde em fonte de lucro. Uma regulamentação interna demonstra a força das comunidades universitárias, fornece sinalização conjunta e institui uma pactuação provisória e excepcional.
Um quarto aspecto consiste no modo como se propõem as formas de ação por mediação tecnológica. Com efeito, a mera transposição do presencial para o virtual, fazendo supor que se pudesse “dar aula” por meio de vídeos aos quais todos compareceriam simultaneamente, já tem dado todos os sinais necessários de sua insuficiência. Primeiro, vídeos síncronos consomem nível alto de dados de internet, tornando-se forma excludente de ação pedagógica.
Segundo, há muitos limites impostos pelo fato de não estarmos compartilhando um evento simultâneo em que seja possível captar reações, estar envolvido pelo que pulsa no espaço-tempo da sala de aula. Em aula, sou capaz de acolher movimentos de indecisão, gestos de insegurança, traços de incômodo e desagregação. Nos eventos produzidos de modo remoto, ainda que eu possa ver todos simultaneamente, não é possível acolher da mesma maneira o que ainda não tomava contorno de palavra, nem se assumia como expressão verbal. Dadas essas limitações, o que se impõe é a redução das possibilidades da oferta de disciplinas, orientadas pelo desejo de preservação do vínculo acadêmico, sem que haja a sensação de “estar recuperando o tempo perdido”.
Não tenho dúvidas de que há muitas ações de interpelação das instituições governamentais tanto na necessidade de financiamento das alterações necessárias para o cumprimento das diretrizes sanitárias e do fornecimento de equipamentos, quanto nas condições de acesso à internet. Frente a essas ações, me parece ser possível também compor uma política acadêmica que interroga os dispositivos de individualização, de produção do pretenso sucesso acadêmico, do consumo de créditos disciplinares.
Com efeito, as forças de mercantilização das práticas de formação já se encontravam pregnantes no cotidiano universitário, mesmo na dinâmica presencial. Uma condução do trabalho remoto que privilegie os encontros chamados síncronos é, sem dúvida, excludente, como é também excludente fornecer para fotocópia um conjunto de textos impossível de ser lido em apenas um semestre letivo e passar vários desses encontros apontando tudo o que devia ser lido e não fora. Ao que parece, a transmutação a que estamos sendo convocados tem permitido questionar a impertinência de certas práticas que, se soubermos conduzir, poderemos inclusive interrogar constrangimentos aos quais já estávamos aparentemente habituados.
O que quero dizer é que há muitas reivindicações estratégicas que nos permitem agregar força aos coletivos de combate às desigualdades sociais no plano da macropolítica. Simultaneamente, há margem para ação de política acadêmica e de práticas cotidianas de intervenção que nos permitem interrogar os funcionamentos excludentes, as hierarquias segregadoras e os idealismos impotentes.
É possível agir na macro e micropolítica, bem como é possível interferir nas práticas consolidadas na modalidade presencial e na forma remota emergencial na qual fomos lançados, não por desejo, mas por contingências históricas e sociais. Condições emergenciais exigem ações excepcionais para as quais é preciso desativar, ao máximo, os dispositivos de individualização, de hierarquização, de exclusão. E a atividade remota não é essencialmente menos potente para permitir essa desativação. Ao contrário, o próprio debate em curso pode sustentar muitas questões inclusive acerca de tradições e fronteiras que pareciam insuperáveis.
O desafio imposto é o de não atuar com modelos de estudantes e professores ideais, mas de lidar com condições concretas e emergenciais nas quais estamos imersos. Nem sempre as diferenças circunstanciais, passageiras, que se compõem por arranjos provisórios nas formas de expressão da vida são verdadeiramente divergências, que nos polarizariam. É o manejo com as condições concretas que tornam possível produzir convergência entre planejar atividade remota e defender a universidade pública.
Se possível, é necessário que não nos imponhamos fronteiras rígidas demais que não se possam transpor facilmente. Passado o período de isolamento, continuaremos sendo todos necessários nas diversas formas de impor presença à luta pela vida, por direitos e pela educação pública, gratuita e de qualidade. Afinal, não existe democracia sem o exercício constante e coletivo da autonomia universitária. E, temos aprendido, a democracia não é um estágio conquistado de uma vez por todas, mas é a luta de uma vida, a luta pela abertura da vida digna de ser vivida.
* Agradeço especialmente às Direções das Unidades acadêmicas vinculadas ao CEH/UERJ pela riqueza de dados produzidos em seus levantamentos.