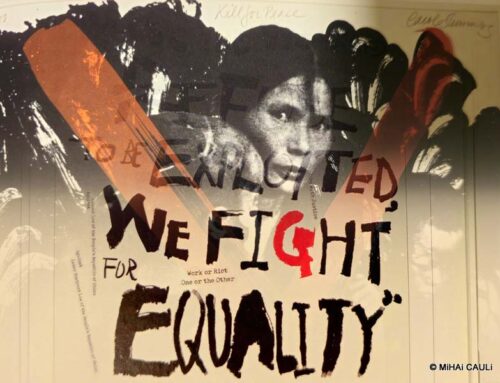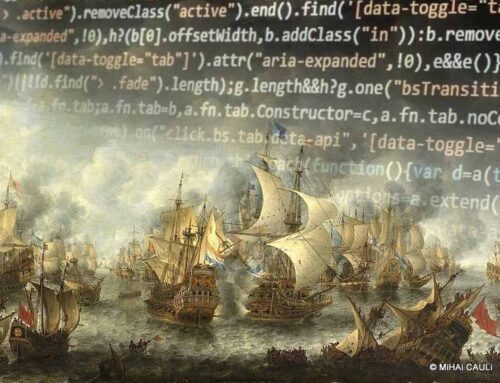O debate recente no Brasil vai apontando para um sistema de equações que acaba com resultados indeterminados. Como em outros países do mundo, o debate confronta artificialmente economia com democracia.
De um lado, um conjunto de forças que se agrupam em defesa mais acirrada da democracia, o que evidentemente exclui os setores mais próximos do governo Bolsonaro. Para esses, todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Isso inclui boa parte dos governos subnacionais (estados e municípios), os parlamentares em sua maioria, nos vários níveis (federal, estadual e municipal), boa parte do Judiciário, e o conjunto das organizações sociais.
Democracia supõe uma institucionalidade, pesos e contrapesos, regras para definições, independência entre os poderes, autonomia dos diferentes níveis, e muitas coisas mais. Mas, no fundo, implica que a maioria vai fazer valer seus interesses, pois esta é a regra básica do jogo democrático – com respeito, com regras do jogo definidas, mas a maioria tem que acabar se impondo de alguma maneira, senão não é democracia. Você pode ter uma série de clivagens sociais, políticas e econômicas no Brasil, mas de uma coisa não dá para fugir: em um ambiente democrático, os pobres, ampla maioria da população em um país com dramática concentração de renda, vão em última instância impor seus interesses. E uma parte importante desses interesses dos mais pobres passa por alguma política de garantia de renda que, para essa parcela enorme da população brasileira, equivale a programas que garantam a sua própria sobrevivência.
De outro lado, se agrupam os que, consciente ou inconscientemente, defendem a prevalência da concentração de renda, e a garantia de que a maior parte do orçamento seja destinada aos rentistas. Determinam assim, de fato e com antecedência, que o jogo democrático não vale, já que um de seus principais instrumentos, a determinação de destinações orçamentárias pelo debate democrático e definição no Parlamento, fica inviabilizada por uma série de regras que garantem que, antes de mais nada, se assegure a renda dos investidores financeiros, em especial em títulos da dívida pública. Para os demais, resta a conflagração e o chamado “austericídio”. E, além disso, por uma série de mecanismos que limitam a capacidade de tributação sobre os bilionários, a parte mais rica da população brasileira, detentores de renda, riqueza (expressa em patrimônio, especialmente terra e ativos imobiliários) e, por conta disso, poder.
A parte inconsciente desse apoio se deve a que os grandes meios de comunicação fazem permanentemente com a propaganda da posição fiscalista que assegura os ganhos dos rentistas em toda e qualquer situação. O debate atual sobre teto de gastos mostrou claramente essa situação, mesmo quando se abriu um pequeno espaço para uma nota de centenas de economistas defendendo o fim do teto de gastos (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/teto-de-gastos-a-ancora-da-estagnacao-brasileira-e-da-crise-social.shtml), editorial no mesmo jornal fazia a defesa do mecanismo.
Entretanto, o jogo democrático, que dá o poder da maioria dos votos aos mais pobres, entra de certa forma em contradição com o poder dos mais ricos, que financiam campanhas e controlam os conteúdos dos meios de comunicação (quando não controlam diretamente os meios de comunicação). Assim, com a redução da alta inflação em meados dos anos 1990 isso começou a ficar claro, e mais claro ainda com a política de superávit primário a partir de 1999, quando em meio à especulação e fuga de capitais, a uma âncora cambial sem maiores preocupações com o orçamento do primeiro governo FHC, se seguiu o chamado “tripé macroeconômico” (superávit primário, câmbio flutuante e política de metas de inflação ajustando as taxas de juros).
Ainda no segundo governo FHC, no bojo do acordo com o FMI e outras instituições multilaterais, como o Banco Mundial, foi montada às pressas uma “rede de proteção social”, que fazia parte do tal “ajuste com rosto humano” das instituições financeiras de Washington naquele período. Aí estavam sementes importantes, como os recursos para a educação que viabilizaram o FUNDEF (que depois deu origem ao FUNDEB), ou os programas de renda focalizados do governo FHC. Ao longo dos governos de Lula e Dilma, esses programas foram se universalizando (rompendo com a focalização) e encorpando, ganhando musculatura, especialmente recursos financeiros. Isso tem obviamente como resultado um respaldo mais popular aos governos, já que são os mais pobres que sentem mais os efeitos (positivos) desses programas.
O atual presidente, durante a campanha, centrou em outros temas (morais, de costumes, “fake news”, etc.) e de certa forma “escondeu” para a maioria da população o que pretendia fazer na área econômica (enquanto para o mercado financeiro, acenava com Paulo Guedes, para o público em geral, mandava seu assessor econômico ficar quieto, como no episódio em que desautorizou publicamente Guedes a falar sobre reforma da Previdência, embora depois tenha encaminhado essa discussão).
Mas bastou uma crise e o desgaste político para “descobrir” que, se não dava para implementar o “fechamento” político, as relações com o eleitorado e com o Congresso (sim, porque esse também não se move politicamente pela impopularidade do “austericídio”) passavam por expandir gastos – com aumento da tributação, se a preocupação fiscal se mantiver. Mas elevar a tributação é impopular também, e os bilionários têm capacidade política de veto aos aumentos da tributação sobre eles próprios. Esse é o jogo de equações que não fecha, entre a política e a economia. E que segue.