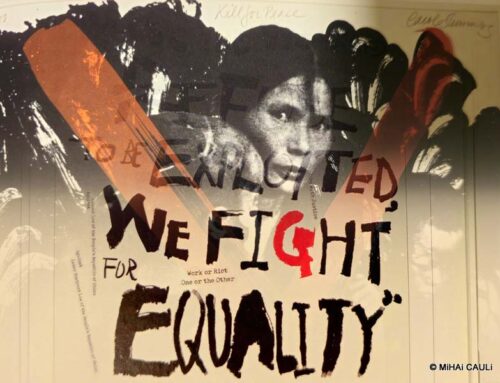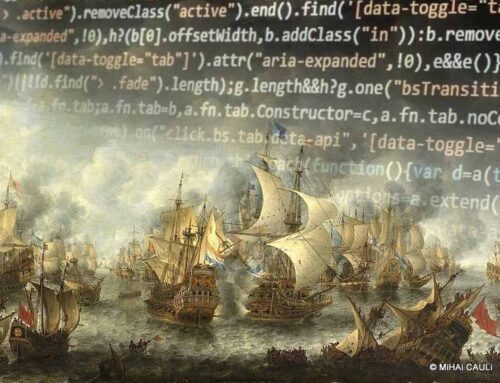O período que vivemos no país a partir de 2013 – radicalizado com o processo eleitoral de 2014, depois com a ruptura institucional em 2016, seguido pelo processo eleitoral de 2018 e o governo atual – vem explicitando o que muitos caracterizam como o esgotamento do pacto constitucional de 1988.
Naquele momento, em um processo que veio desde meados dos anos 1970, houve não apenas a luta pela redemocratização e o fim da ditadura militar, mas o país de alguma forma se redescobriu. Foi diferente também do período da luta política anterior do início dos anos 1960, e que tinha resultado no golpe militar de 1964 como estratégia de última instância do poder conservador para definir uma modernização dentro da ordem, sem rupturas, como as colocadas no debate das reformas de base no início dos anos 1960. Ganhou corpo o operariado industrial e a urbanização, e como resultado tivemos a reestruturação do movimento sindical, agora com seu pilar em uma nova estrutura produtiva na qual apareciam grandes (enormes!) unidades produtivas, e um pujante movimento de bairros.
A hierarquia católica (os católicos eram amplamente majoritários no período) mudou de lado, e passou do apoio à crítica aos militares (com várias nuances, pois o mundo religioso não é tão simples de analisar). A partir dos anos 1980, se desenharia aos poucos a estrutura partidária como conhecemos até hoje (o PSDB sai de uma costela do antigo PMDB durante o processo constituinte, e o PT é criado no início dos anos 1980 – como resultante do processo de redemocratização e das mudanças da configuração social -, disputando a sua primeira eleição em 1982. Estes foram os dois partidos que hegemonizaram a polarização eleitoral por seis eleições no país, entre 1994 e 2014, responsáveis por regulamentar de certa forma o Estado de Bem Estar Social tardio estruturado pela chamada Constituição Cidadã.
Este processo não se dá sem contradições importantes. A primeira delas é que o Brasil tentava estruturar o seu Estado de Bem Estar Social em uma época em que mudanças importantes começavam a acontecer pelo mundo. O neoliberalismo explicitado por figuras como Thatcher na Inglaterra e Reagan nos EUA vai se impondo ideologicamente pelo mundo a partir do início dos anos 1980, produzindo reformas importantes no padrão social e econômico vigente até então nas principais economias desde o fim da Segunda Guerra (Estado de Bem Estar Social, políticas econômicas keynesianas).
A reestruturação produtiva, reconfigurando as gigantescas unidades produtivas de dezenas de milhares de trabalhadores que caracterizavam a grande indústria no pós-guerra, se alia a um novo processo de internacionalização (apelidado “globalização” por muitos), no qual a liberalização financeira e a comercial se combinavam. Esse pacto foi explicitado na consolidação da OMC (Organização Mundial do Comércio), na qual “comércio” passava a ter um sentido muito mais amplo do que troca de bens a nível internacional. A crise política do chamado “mundo socialista” e a queda do Muro de Berlim, e posteriormente o fim da União Soviética, esgotavam também a polarização que vinha desde o fim da Segunda Guerra Mundial, entre EUA e URSS, e resultava em um mundo onde passava a predominar o unilateralismo estadunidense.
Essas mudanças fazem com que o Brasil passe por uma experiência diferente por ter construído um figurino para um mundo que estava em rápida alteração. Nossos problemas eram os mesmos de hoje (desigualdade e exclusão social; concentração econômica da produção, da renda e da riqueza; uma produção de riqueza espoliativa avançando com a exploração agrícola e das mineradoras sobre a natureza e os povos originários; uma classe dominante que se apropria do Estado em seu interesse próprio, movida por uma estrutura patrimonialista e patriarcal). E a nova Constituição tentava dar suas respostas a essas questões em um ambiente de disputa democrática. Os atores mudavam para se adequar à disputa – só para ficar em um exemplo, os latifundiários em 1988 se defendiam com os “cachorros doidos” da UDR (União Democrática Ruralista), explicitando sua truculência, mas 20 anos depois, os mesmos latifundiários faziam a propaganda do “agro é pop”, apostando na mudança da imagem.
É esse o universo de disputa política e econômica que se esgota com o acirramento da luta política a partir de 2013, expondo as dificuldades dos marcos institucionais estruturados com a Constituição de 1988. Para além de nossas mudanças internas, um novo ciclo de transformações tecnológicas a nível internacional aponta para novas mudanças por todo o mundo – a mais evidente, a disputa pela nova hegemonia internacional entre EUA e China. As mutações nos paradigmas de comunicação também são importantes, e ajudam a explicar alterações de velocidade, de formas de comunicar e expressar, e até de vencer eleições. Como dizem alguns, passamos a viver em um mundo em que estamos perto de quem está longe, e longe de quem está perto. A polarização avança, o convencimento diminui.
É nesse novo ambiente que vamos ter que administrar os nossos velhos problemas, que se somarão tanto aos que historicamente não resolvemos, como a exclusão pela escravidão, aos novos que vão ficando evidentes, como a chamada uberização do mundo do trabalho. Nunca a tecnologia nos deu tantas possibilidades, mas ao mesmo tempo nos limitou tanto.
Reescrever um pacto nacional e institucionalizá-lo dentro dessa nova realidade será tarefa monumental. Para o mundo inteiro. Mas em especial para o Brasil, que sonhou com a construção de um país menos desigual e acordou com a truculência do bolsonarismo.