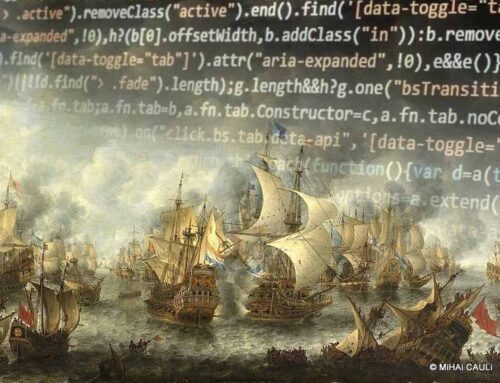Não é raro que o nosso desejo interfira na percepção que temos dos fatos e na leitura que fazemos das mensagens. Quando, logo após as redes de televisão americanas anunciarem a derrota de Donald Trump, a grande maioria dos chefes de Estados da Europa mandaram seus telegramas de congratulações ao vencedor, a sensação é de que embutido naqueles gestos rituais havia também um entusiasmo difícil de ser contido – menos, é claro, no de Boris Johnson. Mas de onde ou do que advinha essa sensação? Da rapidez, do volume, da ênfase das mensagens? Nada disso permitiria identificar o referido estado de ânimo e, no entanto, sim, ele estava lá. E, até mais. Era como se o estivéssemos vendo no discreto risinho de escárnio da Angela Merkel antes de dar um inesperado beijo de boa noite no adorável Joachim, o marido, e se recolher para dormir, aliviada. Com pequenas variações (devidas à idade, à situação conjugal e libidinal, ao gênero etc), o mesmo deve ter se passado ao final daquele sábado, 7 de novembro. Desgraçadamente, as limitações de mobilidade e aglomeração impostas pela expansão da segunda onda da pandemia impediram que os europeus fossem para as ruas manifestar a sensação que, nesse caso, teve que ficar limitada às mensagens oficiais.
É possível que de um canto ao outro do planeta a palavra alívio tenha sido a mais repetida desde então, das conversas entre amigos pelo celular ou através das mensagens eletrônicas aos salões dos poderosos – Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a derrota do amigo e parça, gesto que a Europa e o resto do mundo aguardam, impacientes e preocupados devido à crescente relevância do presidente brasileiro. (Parêntesis forçado: O presidente do Brasil voltou a aparecer na primeira página dos jornais espanhóis para desempenhar o papel que rotineiramente gosta de desempenhar, e o único no qual consegue atrair a atenção: o de bobo da corte, aquele a quem ninguém leva a sério e de quem todos estão acostumados a ouvir disparates ou ofensas para atrair o aplauso dos acólitos. É invariável e imensamente triste: na imprensa espanhola Bolsonaro só dá as caras para comprovar o quanto o Brasil andou para trás, rumo ao incivilizado e ao grotesco.)
Mas para os que acompanhavam a tensa novela da apuração americana, o evento que marcou o dia foi o choro do comentarista da CNN Van Jones assim que a derrota do republicano foi anunciada. A imagem que correu o mundo logo se tornou um dos hits da eleição. Porque traduzia para os que viram de fora o sentimento que experimentaram desde dentro o que foram esses quatro anos do governo Trump. E é importante exatamente por isso: porque serve para temperar o sentimento dos que observamos de longe e que, embora tenhamos partilhado essa sensação planetária de alívio, não temos tanto entusiasmo pelo que virá.
Muito mais que a vitória de Biden, a comemoração é pela derrota de Trump. Porque sua grande criação, talvez, tenha sido essa grande onda de sufocamento do outro na qual amparou seu poder político, a mobilização de uma parte da sociedade americana para imobilizar e submeter à outra pelo medo, a ameaça permanente, a linguagem do terror.
Vícios e pecados na balança dos bons e dos maus
O futuro ex-presidente americano conduz ao paroxismo. Parece encarnar todos os vícios e todos os pecados que desenham a face da maldade. De fato, extrapola, extrapola muito. E ao fazer isso absolve o irmão de aparência mais acanhada e melhores modos para que siga operando na sombra e cometendo seus pecadilhos. Para além da aparência, é a manipulação da mesma máquina a que serve o brutamontes. Sim, com mais mediação, mais moderação aqui e ali, e algumas concessões quando realmente pressionados pela base social menos estupidificada da sociedade.
Isso quando se tratar do campo interno, porque ultrapassadas as fronteiras, a diplomacia é a que sempre foi desde o final da segunda guerra, comandada pela CIA e pelo Pentágono, pela ponta dos mísseis teleguiados. Hillary Clinton (a serviço de Barack Obama) tinha as garras tão afiadas e emitia ordens de ataque com a mesma frieza, cálculo e precisão que qualquer operador a serviço de Bush Jr. ou Donald Rumsfeld, implacavelmente, na defesa dos interesses do Império.
Gore Vidal (de quem roubo o termo Império) contava que “durante o período de três anos em que Kennedy esteve no poder, ele aumentou o orçamento da defesa da era Eisenhower em US $ 17 bilhões”. Era uma montanha de dinheiro. De Kennedy a Trump, fosse quem fosse que ocupasse a presidência, a escalada não se interrompeu e os gastos do Pentágono incluídos no orçamento e ano após ano aprovados por Democratas e Republicanos cresceram como se o céu fosse o limite. Esse é um dos itens invariáveis na política americana.
O outro é evidentemente a completa submissão a Wall Street – e que o diga Barack Obama, que ao assumir em 2009, foi obrigado a engolir a política do grande capital financeiro e/ou especulativo sem dar um pio. Numa entrevista para o entrevistador Bill Maher, em 2012, o economista e prêmio Nobel (2001) Joseph Stiglitz foi chamado a comentar a maneira como Obama lidou com a economia após a crise de 2008. Ao responder, referiu-se ao custo crescente das campanhas para presidente e disse que “as pessoas que investiram dinheiro, que chamam de contribuições de campanha, mas que para eles são investimentos, e é como se achassem que tivessem feito uma compra”. “Você acha que eles o compraram também…” – sugere o entrevistador. Stigliz conclui o raciocínio com uma expressão de finíssima ironia: “Acho que chamaria de uma captura cognitiva” (“I think I would call a cognitive capture”). É também Vidal quem sugere que “a questão de quem arrecada dinheiro, quanto arrecada e quem arrecada para investir em quê, está no cerne da política, e em um país sério deveria ser a principal preocupação da mídia” (esse texto é de dezembro de 1997). Mas não é o que acontece. Bom, pelo menos não foi ou não tem sido o assunto para a mídia até agora.
Mas não são as únicas políticas que, entra governo, sai governo, aparentemente nunca se modificam. A política prisional, por exemplo, que fez crescer a população carcerária do país de trezentos e poucos mil no começo da década de 1970 (governo Nixon) para dois milhões e meio em 2014 (Obama), com um crescimento dez vez superior ao da população (544% e 56% respectivamente no mesmo período). Sim, houve mudanças, duas: a primeira, no governo Clinton, que deu início à privatização do sistema, sem nem de longe interromper esse massivo aprisionamento que incide sobretudo sobre os negros e, a segunda, com Obama que, aí sim, tentou introduzir algum freio nessa guerra interna sempre voltada contra os mais pobres, os negros antes que quaisquer outros. No demais, não há como diferenciar.
Mas agora é a hora do gozo. Não se joga fora uma oportunidade dessas. Em tempos tão lúgubres, a derrota de figuras como Donald Trump e dos substratos psíquicos que ele estimula e faz emergir dos pântanos da alma humana tem que ser celebrada com a mesma emoção como a que fez chorar o comentarista da CNN no sábado, 07 de novembro.
***
O Terapia Política recomenda a leitura de outros artigos sobre a vitória dos democratas nas eleições americanas, que foram publicados aqui nos últimos dias: “Bernie Sandes: nossa luta recém está começando” de Paulo de Tarso Riccordi; “Guru de Candidato” de Julio Pompeu”; “Estruturalmente os interesses norte-americanos não mudarão”; de Celso Amorim, “Uncle Joe e a América Latina”, de Rodrigo Stumpf González; e “China hoje produz o sonho americano”, de Cristina Soreanu Pecequilo.