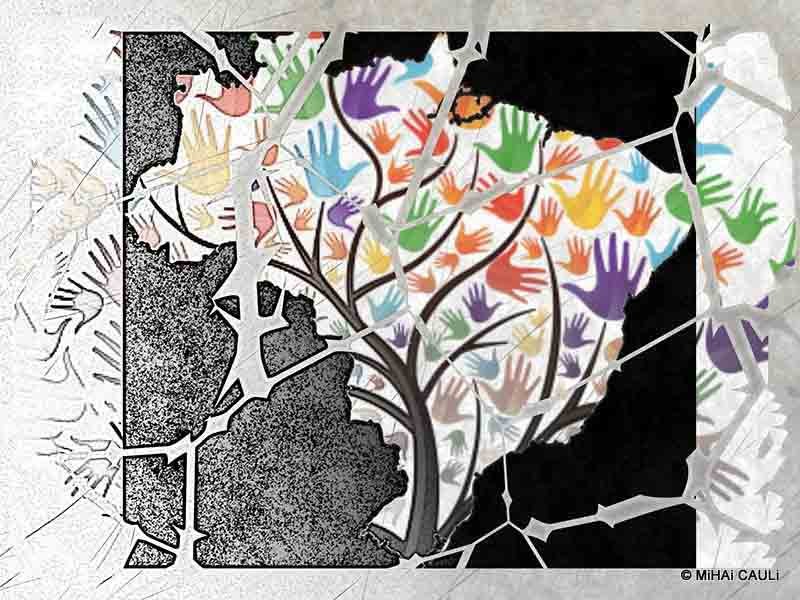
A busca da sustentabilidade da dívida pública por meio da austeridade fiscal ganhou uma extraordinária proeminência no debate e na formulação das políticas públicas brasileiras. A ideia-força, naturalizada por repetição, é que a desconfiança empresarial da “solvência” da dívida pública é a principal causa dos baixíssimos níveis de investimentos e, portanto, da anemia da economia brasileira. Logo, segue a “tese”, o único meio de sair da crise é cortar gastos “na veia” (menos o “orçamento secreto” e os privilégios de alguns poucos que ganham muito), diminuir ou estabilizar a dívida, e privatizar empresas estatais. Por fim, conclui, para garantir que o ajuste seja perpétuo, adiciona-se a este “vale tudo” uma reforma Estado, para que ele seja “ainda mais mínimo”. Esse é o conteúdo do Ponte para o Futuro, o programa econômico cujo espírito orienta a política econômica desde o impeachment de 2016.
A tese, que não é nova, tomou corpo de lei, agregando-se à defesa de um arcabouço institucional que limitou a capacidade de intervenção do Estado brasileiro. O primeiro marco relevante é a Regra de Ouro, um dispositivo que data da Constituição de 1988. O segundo, que vem do início do século, é a Lei de Responsabilidade Fiscal (2001). Recentemente, contudo, o mais restritivo, a Lei do Teto de Gastos (2016) completou a trinca, afixando um regime de austeridade que não dá espaço para que se cogite um programa de desenvolvimento ou medidas para assegurar o pleno emprego. Salvam-se, apenas, as políticas anticíclicas em situação de desastre econômico comprovado, como as medidas para o combate das consequências da pandemia da Covid-19, mas não sem intensas negociações, seguidas por repetidas advertências vindas do mercado, e do governo, de que as políticas anticíclicas devem ser empregadas com moderação e por curtíssimo prazo.
Muitos economistas já manifestaram, inclusive no Jornal do Corecon, sua perplexidade sobre essa crença arraigada. Muitos ressaltam que sua sustentação teórica é pobre, e que o acúmulo de evidências empíricas contrárias a desautorizam. Por exemplo, não é sequer óbvio o sentido de “solvência da dívida pública brasileira”, uma vez que é predominantemente emitida em reais. Muitos já demonstraram falsa a visão de que a suposta “solvência da dívida publica” é o que “desorganiza” a economia, exibindo os eventos recentes têm refutado qualquer relação estável e relevante entre dívida pública e taxa de juros.
O fato é que a tese da “sustentabilidade da dívida em primeiro lugar” se consolidou a partir de 2015, por coincidência, o momento em que tombam os investimentos no país. De fato, a partir do colapso daquele ano de “guinada para a austeridade”, muitíssimo amplificada a partir de 2016, o investimento começou a evoluir de maneira extremamente tímida e quase vegetativa. O índice investimento sobre PIB, hoje abaixo de 16%, nunca retornou aos quase 22% alcançado em 2013. Somos lanterninhas globais em investimentos públicos, especialmente em infraestrutura, e outros que são a base de qualquer retomada sustentada, sustentável, e voltada a lidar com os grandes desafios nacionais e globais.
Bastariam estes dados para “mudarmos de assunto”. Mas no debate sobre o tamanho e a trajetória ideais da dívida, que continua a dominar a imprensa e o “mercado”, perde-se muitas vezes a percepção sobre a questão de fundo: é possível se retomar o investimento sem um eixo de desenvolvimento e sem um Estado que pavimente esta visão com investimentos e financiamento públicos? O investimento privado vai reagir somente a partir de um “espírito empresarial” guiado exclusivamente pela promessa de um Estado mínimo? Ou será exatamente que a busca cega por este único objetivo da ação pública, a “estabilidade do Estado mínimo”, uma das razoes em si para a queda continuada do investimento privado?
A ascensão e a consolidação da “tese” depois de 2015 foram fazendo com que desaparecessem as discussões sobre as políticas de Estado e sobre a economia real – fenômeno que se deu com o impeachment de 2016. O moralismo embutido em expressões como “descalabro fiscal” e “gastança” invadiu a literatura acadêmica, os documentos oficiais, os programas de governo e os processos administrativos/judiciais. Instaurou-se o que pode ser chamado fobia de Estado. É como se houvesse uma “sirene do gasto”, sempre acionada a qualquer suspeita de que as receitas poderiam ser inferiores às despesas, uma ordem para que tudo o mais seja sobrepujado pela urgência da estabilidade fiscal. É por essa razão que a execução de uma ferrovia, um hospital ou uma ponte, que deveria depender dos motivos que as justificaram, se tornou completamente dependente das metas fiscais.
O ápice da “sustentabilidade da dívida em primeiro lugar, a economia a gente vê depois” veio, evidentemente, no (des)governo atual, com a insistência o repagamento das despesas públicas excepcionais, na forma de ajustes imediatos, reformas e privatizações. Cheio de “barulho e fúria”, o discurso lembra muito a lógica da terapia de choque de Milton Friedman, segundo o qual um desastre deve ser transformado em uma boa oportunidade para fazer reformas econômicas que jamais seriam aceitas em condições de normalidade.
Evidentemente, a insistência desta “tese” encontra pelo menos três grandes problemas. Primeiramente, como já ressaltaram muito, a visão de que o “o Brasil quebrou” não tem nenhum embasamento teórico. Segundo, a “tese” já foi testada incessantemente em outros muitos países, e não funcionou – inclusive no Brasil, especialmente nos últimos sete anos, onde a tendência de queda do investimento somente se aprofundou levando o país a uma situação de indigência econômica e social. Por fim, quase todas as economias do G20 embarcaram nos últimos anos em programas de recuperação lideradas por visões, ações e investimentos públicos, tornando o Brasil, portanto, o fiel discípulo de ideias abandonadas e de políticas comprovadamente ineficazes.
Muitos se lembrarão das polêmicas envolvendo a transposição do rio São Francisco, da construção da ferrovia Norte-Sul, das grandes usinas hidroelétricas e de Angra 3. Quem pesquisar os jornais, especialmente a partir do lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, verá planos de integração física da América do Sul, o projeto do Trem de Alta Velocidade, programas de reformas urbanas, a entrada do Brasil nos BRICS, a interiorização das universidades federais, a valorização do salário-mínimo, a busca ativa do Bolsa Família. As políticas monetária e fiscal eram vistas como parte constitutiva do, e não precondição ao, debate do desenvolvimento.
Temas como a exploração do pré-sal, promoção de novos eixos tecnológicos, inserção internacional, e a construção em massa de moradias populares – para citar alguns dos temas do debate econômico fundamental até 2015 – eram parte nobre em qualquer debate de política econômica. Se alguns creem que não serão essas, necessariamente, algumas das diretrizes para a retomada e o desenvolvimento brasileiro, a questão fundamental é saber quais deveriam ser. Este deveria ser o debate.
Em suma, a nação precisa de uma “nova tese” que ancore a ação pública e os investimentos no futuro. Precisamos de um eixo de desenvolvimento claro, que permita ao Estado utilizar seus instrumentos de política (por exemplo, seu orçamento, suas agências e seus bancos públicos) no sentido de implementar políticas de Estado condizentes com esta visão.
Precisamos de uma bússola que justifique uma “matriz de escolha dos gastos”, inclusive investimentos governamentais – que é o que, na maior parte do mundo, dá a direção e horizonte aos investidores privados. É preciso que tal tese balize as diretrizes da política econômica multilateral e de inserção internacional. Não é somente um número crescente de economistas brasileiros que o dizem: é quase todo o G20 que nos mostra que nos fixamos numa tese equivocada, ultrapassada, e perigosa, que, portanto, tem tudo para fazer com que o país continue indo para o brejo.
Errar é humano. Porém, em um país que chegou aos níveis de desemprego, fome e insegurança alimentar a que chegamos, repetir a tese (falida) da “sustentabilidade da dívida em primeiro lugar” seguidamente é desumano e irresponsável. (Publicado no Jornal dos Economistas, Corecon/RJ, mar/2022)
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Leia também “Dívida pública e dívida social” de Fernando Nogueira da Costa.






