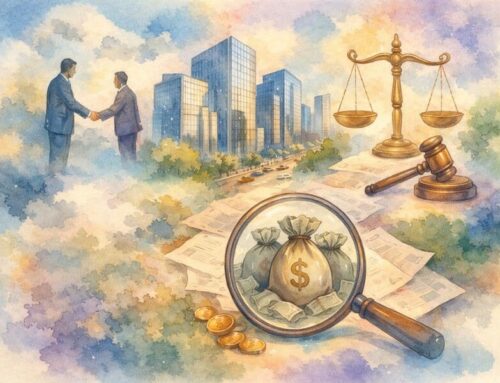O autor analisa a histórica decisão da Corte Internacional de Justiça sobre as obrigações dos Estados diante das mudanças climáticas e discute como ela pode influenciar as negociações da COP 30.
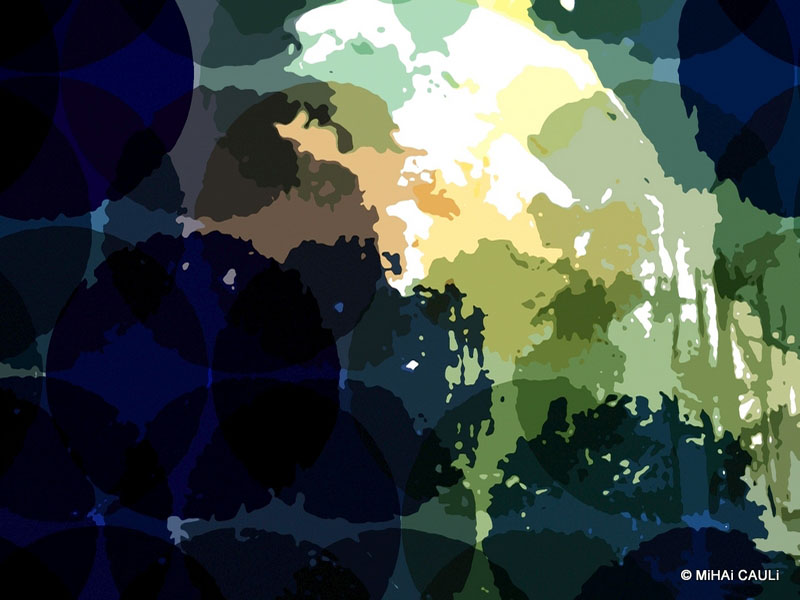
A consulta feita pela Assembleia-Geral da ONU
Em julho de 2025 foi publicada a aguardada decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre as obrigações dos Estados em matéria de mudanças climáticas, a qual iremos analisar nesse artigo, tendo em vista seus possíveis impactos sobre a (COP 30) – conferência dos Estados integrantes dos tratados climáticos, que se realizará, a partir de 10 de novembro, em Belém.
A CIJ é a mais importante corte internacional. Ela integra a estrutura da Organização das Nações Unidas (ONU) e tratou do assunto por demanda de sua Assembleia-Geral. Na verdade, não se trata propriamente de uma decisão judicial, mas sim de um "parecer judicial". Isso porque, ao contrário dos tribunais internos, é comum que os tribunais internacionais – para além de suas decisões jurisdicionais propriamente ditas – também exerçam uma atividade consultiva.
A distinção entre decisão jurisdicional ou consultiva da CIJ é importante, mas não deve ser superestimada uma vez que, em qualquer hipótese, uma manifestação da Corte dizendo que tal ou qual ação é uma obrigação para efeitos do direito internacional, e que seu descumprimento é um ilícito internacional, acaba com as dúvidas sobre tal entendimento, e, assim, acaba, na prática, criando normas jurídicas.
E foi exatamente isso que a Corte fez neste caso. Disse quais são as obrigações internacionais dos Estados em matéria de mudanças climáticas. Afirmou que o não cumprimento de tais obrigações é um ilícito internacional e estabeleceu quais as consequências decorrentes do cometimento desses ilícitos.
A Corte elaborou sua manifestação em resposta a duas perguntas feitas pela Assembleia-Geral da ONU:
1) Quais são as obrigações dos Estados – para com outros Estados e para com as presentes e futuras gerações –, de acordo com o direito internacional, para assegurar a proteção do sistema climático e de outras partes do meio ambiente contra os efeitos das emissões de gases de efeito estufa?
2) Quais são as consequências legais para os Estados (de acordo com as obrigações que são objeto da pergunta acima) quando, por seus atos ou omissões, causarem significativos danos para o sistema climático ou para outras partes do meio ambiente, com respeito a:
- i) Estados, em particular pequenos Estados ilhas em desenvolvimento que, devido a suas circunstâncias geográficas e ao nível de desenvolvimento, são penalizados, especialmente afetados ou particularmente vulneráveis aos efeitos adversos das mudanças climáticas;
- ii) povos e indivíduos da presente e das futuras gerações afetados pelos efeitos adversos da mudança climática?
Antes de responder propriamente às perguntas, a Corte faz um longo resumo da evolução da consciência quanto aos problemas das mudanças climáticas no mundo e do papel central do Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC) – foro composto por cientistas de todos os países e que produz relatórios científicos periódicos sobre a gravidade dos efeitos esperados em decorrência das mudanças climáticas. (Vale ressaltar que esse resumo – §§ 72 a 87 da decisão – pode ser lido com muito proveito por qualquer pessoa que deseje se informar, de maneira rápida e confiável, sobre os desafios relacionados a esse tema).
Em síntese assustadora, a Corte lembra que:
"as consequências das mudanças climáticas são severas e de longo alcance, afetando tanto ecossistemas como populações humanas. A elevação das temperaturas está causando o derretimento das camadas de gelo e dos glaciares, a elevação do nível do mar, ameaçando populações costeiras com inundações sem precedentes. Eventos climáticos extremos, como furacões, secas e ondas de calor estão se tornando mais frequentes e intensos, devastando a agricultura, deslocando populações e exacerbando a falta de água. Além disso, a perturbação de habitats naturais está levando à extinção de espécies e conduzindo a uma perda irreversível de biodiversidade. A vida e a saúde humanas também estão em risco, com um aumento da incidência e da difusão de doenças relacionadas ao clima. Essas consequências sublinham a urgência e o risco existencial representado pelas mudanças climáticas".
A Corte lembra ainda que há uma janela de oportunidade se fechando muito rápido para garantir um futuro habitável e sustentável para todos. (Difícil é ler a decisão da Corte e lembrar que Trump tirou – novamente – os EUA do principal acordo multilateral sobre o tema – o Acordo de Paris – e que haja quem, em mímica grotesca, aplauda tal iniciativa).
Antes de começar a responder à consulta, a Corte esclareceu que para ela, as condutas dos Estados não são apenas aquelas que causam diretamente alterações climáticas, mas também incluem todas as ações ou omissões estatais que, indiretamente, podem ser responsáveis por isso.
Pois bem, um dos destaques da decisão é que a Corte considerou que as fontes das quais decorrem obrigações para os Estados, em matéria de mudança climática, não são apenas os tratados climáticos propriamente ditos. Mas também outras normas de direito costumeiro internacional, outros tratados internacionais em matéria ambiental, a convenção internacional do direito do mar e os tratados sobre direitos humanos, o que aumenta as fontes de obrigações para com a matéria.
Porque o direito costumeiro importa?
Dessas novas fontes do direito internacional do clima, a mais importante é a do direito costumeiro. A Corte lembra que existe uma obrigação geral dos Estados, amplamente reconhecida, de assegurar que um dano não vai ser causado a outro Estado. Em seguida, a Corte lembra que já havia considerado (numa disputa entre a Argentina e o Uruguai em torno de uma usina no Rio da Prata) que esse dever de não causar dano inclui o dever de não causar dano ambiental. Agora, a Corte dá dois passos a mais, afirmando (1) que no conceito de dano ambiental, se inclui o dano climático e que (2) esse dano não se limita àquele causado entre dois Estados fronteiriços, mas inclui aquele dano que um país possa causar a um outro que está muito longe das suas fronteiras (o que é uma característica central do dano climático).
A Corte também inclui nessa obrigação costumeira o dever de cooperar com os outros. A importância de reconhecer esses dois elementos (evitar o dano e cooperar), como uma obrigação costumeira, decorre da vinculação de todos os Estados do mundo, incluindo aqueles que nunca assinaram ou que saíram dos tratados climáticos, como é o caso dos EUA. (Na verdade os EUA saíram do Acordo de Paris, mas permanecem vinculados à Convenção-Quadro e nunca ratificaram o Protocolo de Quioto).
A Corte considera que os deveres decorrentes do direito internacional costumeiro devem ser cumpridos com a devida diligência, padrão de conduta cujo conteúdo em situações específicas deriva, segundo a corte, de vários elementos, dentre os quais destaca os seguintes:
- Uso de todos os meios disponíveis à disposição do Estado para evitar que atividades desenvolvidas em seu território causem dano a outro Estado, o que, no caso da questão climática, exige a elaboração de um sistema/legislação nacional para esse fim, com mecanismos de mitigação e adaptação que vinculem entes públicos e privados.
- Busca da informação científica para guiar a atuação do Estado, o que reforça a autoridade dos relatórios do IPCC como fonte do melhor conhecimento científico disponível sobre a matéria.
- Necessidade de seguir regras e padrões ambientais aplicáveis, sobre os quais a Corte chega a afirmar que podem decorrer de normas vinculantes ou não, em especial das decisões das "COPs" (reuniões anuais dos países vinculados aos tratados climáticos, como a COP 30, em Belém). Isso significa que um país que não é parte de determinado tratado (como os EUA não são mais do Acordo de Paris) e que, portanto, não participa de sua COP, pode acabar vinculado. Nesse ponto, a Corte dá outro passo importante ao reconhecer que as decisões das COPs podem ser relevantes para a identificação do direito costumeiro, aumentando muito a relevância de tais decisões.
- Capacidades diferenciadas de cada Estado, o que é basicamente uma reafirmação da Corte quanto ao papel central do princípio – inserido na Convenção do Clima e reafirmado pelo Protocolo de Quioto e pelo Acordo de Paris) – das responsabilidades comuns, mas diferenciadas.
- A aplicação do princípio ou abordagem da precaução integra o conceito de obrigação de diligência devida.
- A exigência de estudo prévio de impacto ambiental, embora a Corte faça ressalvas importantes sobre a dificuldade que a elaboração de tais estudos pode enfrentar no contexto das questões climáticas.
- A obrigação de consultar outros Estados quanto a riscos de atividades conduzidas em seus territórios.
Os tratados de direitos humanos, o direito do mar e outras fontes normativas invocadas pela Corte
A Corte também considerou que os tratados de direitos humanos são aplicáveis à questão climática e que a proteção do meio ambiente é uma pré-condição para a fruição dos direitos humanos. E fez isso, considerando os precedentes das cortes regionais de direitos humanos, o que reforça a possibilidade de atuação destas em casos concretos, em especial nas Américas, onde a maior parte dos países (os EUA são uma das exceções), inclusive o Brasil, reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Também foi afirmada a relação entre as convenções de proteção da camada de ozônio, de proteção da diversidade biológica e de combate à desertificação e às mudanças climáticas, essencialmente dizendo que as obrigações de todos esses instrumentos são complementares.
Mas, a nosso ver, a relação mais importante afirmada pela Corte se dá entre as normas climáticas e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar ("UNCLOS"). A Corte afirma que na definição de poluição marítima da UNCLOS se inclui a emissão de gases de efeito estufa, "atraindo" para o combate às mudanças climáticas, um tratado com ampla participação, que atinge importantes atividades econômicas e que conta com uma corte específica para interpretá-lo.
Ainda interpretando a UNCLOS, mas agora no que se relaciona à elevação do nível dos oceanos (um dos mais dramáticos efeitos adversos das mudanças climáticas), a Corte enfrenta uma questão existencial para os pequenos Estados insulares. Em primeiro lugar, partindo da ausência de obrigação na UNCLOS para que Estados comuniquem a mudança na delimitação de seus espaços marítimos (linhas de base, mar territorial, etc.), a Corte conclui que eventual mudança fática nessas coordenadas, causada pela elevação dos oceanos, não teria repercussão jurídica. Isso significa que, independentemente de quanto o nível dos oceanos vai subir, tais Estados não perderão esses espaços nem os direitos que lhe são inerentes.
Mas a Corte vai além e enfrenta a possibilidade – real – de que alguns Estados percam inteiramente seu território, o qual seria totalmente submerso pela elevação dos oceanos, e, nesse caso, em afirmação histórica, entende que "caso ocorra a perda completa do território de um Estado e o deslocamento de sua população, aplica-se uma forte presunção em favor da continuidade de seu status como Estado (registre-se a celebração, em 2023, do 1º acordo de mobilidade climática – entre Austrália e Tuvalu –, prevendo a relocação progressiva da população do arquipélago. (GIREAUDEAU "Grande jeu" dans le Pacifique sud" in Le Monde Diplomatique Août 2024, p. 6-7). Na visão da Corte, uma vez que um Estado é estabelecido, a perda de um de seus elementos constitutivos não leva necessariamente à perda de seu caráter estatal.
Vale destacar que alguns dos Estados mais ameaçados – como Vanuatu – foi um dos que apresentaram à Assembleia-Geral da ONU a proposta para a manifestação da Corte.
A Corte e os tratados sobre o clima
Ao interpretar os tratados sobre o clima, a Corte trata da diferença entre obrigações de resultado e de conduta, ressalvando que elas às vezes podem se confundir, mas que o descumprimento de ambas pode levar à responsabilidade internacional do Estado. Como boa parte das obrigações nos tratados são de conduta, a Corte reforça bastante tais obrigações ao afirmar que seu cumprimento exige que um Estado tome todos os meios à sua disposição para alcançar o objetivo pretendido pela obrigação. Claro que – e a Corte faz essa distinção – isso dependerá das circunstâncias de cada país.
A Corte novamente fortalece as decisões das COPs ao afirmar que elas são fontes de esclarecimento do conteúdo jurídico de obrigações de conduta (como é o caso das obrigações de transferência de tecnologia e de financiamento, em torno do qual se dão os maiores impasses em cada COP).
Quanto às obrigações substanciais, destacamos dois pontos. O primeiro é o que se refere à mudança da meta estabelecida pelo Acordo de Paris, segundo o qual, a elevação da temperatura da Terra (a partir dos níveis pré-industriais) deveria ser "bem abaixo de 2ºC com esforço para alcançar 1,5ºC". Pois bem, a partir dos relatórios do IPCC e de decisões das COPs posteriores ao Acordo de Paris (de 2015), a Corte considera que esse dispositivo foi substituído por tais decisões posteriores e que a meta atual obrigatória é a de 1,5º C.
Essa decisão, por si só, é extremamente importante porque tem impacto em todas as outras obrigações, em especial nas obrigações de mitigação que cada país detalha, devendo comunicar aos demais por meio de outro instituto do Acordo de Paris, ao qual a Corte também dá bastante atenção, que são as denominadas "Contribuições Nacionalmente Determinadas" ("NDCs" em inglês).
As NDCs foram uma das grandes inovações do Acordo de Paris. Com efeito, entre a ausência de consenso para adotar metas expressas e específicas para cada país (como havia sido feito no Protocolo de Quioto) e o entendimento de que não era possível deixar cada país inteiramente livre para indicar as medidas que iria tomar, o Acordo de Paris criou um regime misto caracterizado por obrigações materiais abertas e obrigações procedimentais bastante concretas e restritivas.
Pelo artigo 4º do Acordo cada país indica as medidas que irá tomar – ou seja "deve preparar, comunicar e manter sucessivas NDCs" – de cinco em cinco anos, que devem refletir "sua maior ambição possível, tendo em conta suas responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais". Tais medidas são sucessivas e há expressa vedação de retrocesso, pois o Acordo estipula que a NDC "sucessiva de cada Parte representará uma progressão em relação à NDC então vigente".
Tais NDCs também estão sujeitas a obrigações relacionadas à sua "clareza, transparência e compreensão" e são mantidas em um registro central.
Pois bem, a Corte reforça bastante o mecanismo das NDCs ao afirmar expressamente que não preparar uma NDC é um ilícito internacional e, mais ainda – a segunda obrigação substancial que destacamos –, no caso de um Estado parte nos tratados apresentar uma NDC inadequada, um tribunal competente poderia ordená-lo a adotar uma outra que seja consistente com suas obrigações decorrentes do referido acordo.
Consequências do descumprimento das obrigações
Ao responder à segunda pergunta da Assembleia-Geral da ONU, a Corte afirma que questões envolvendo a responsabilidade dos Estados pelo descumprimento de suas obrigações em matéria climática (explicitadas na 1ª parte da decisão) se submetem ao regime geral constituído pelas regras costumeiras internacionais em matéria de responsabilidade dos Estados pelo descumprimento de tratados. Logo em seguida, a Corte lembra que as mudanças climáticas são um fenômeno "altamente complexo e multifacetado envolvendo a possível responsabilidade de múltiplos Estados no curso de um longo período de tempo".
A Corte observa que a regra sedimentada de direito internacional, segundo a qual a "conduta de qualquer órgão de um Estado deve ser considerada um ato deste", aplica-se ao contexto das mudanças climáticas e, então, dá um passo polêmico ao afirmar que a omissão de um Estado em tomar medidas necessárias para proteger o sistema climático, "inclusive por meio da produção ou consumo de combustíveis fósseis, a outorga de licenças para exploração de combustíveis fósseis ou o estabelecimento de subsídios para combustíveis fósseis –, pode caracterizar um ato ilícito internacional atribuível a esse Estado". A Corte enfatiza que o ato ilícito internacional em questão "não é a emissão de gases de efeito estufa por si só" – mesmo porque não há como considerar ilícita qualquer emissão (a Corte afirma isso de forma inequívoca) – mas sim, "a violação da obrigação costumeira ou derivada de tratado", no que se refere à proteção do sistema climático de danos significativos resultantes de emissões antropogênicas de tais gases.
A escolha da Corte em apontar o dedo para os combustíveis fosseis irá gerar alguma polêmica. Certamente ela decorre da altíssima contribuição que a queima de combustíveis fósseis dá para o aquecimento global. O problema é que cada país, ao elaborar suas NDCs, tem que diminuir as suas emissões e fará isso ao atacar as principais causas do aquecimento em seu território. Ou seja, se em certo país as principais fontes de gases de efeito estufa são o desmatamento, e ele ataca tais causas, apresenta NDCs ambiciosas e as cumpre, então a permanência de outras fontes de emissões não caracterizará, a nosso ver, um ilícito.
A Corte entende que atos de agente privados também podem indiretamente ser atribuídos aos Estados se decorrerem de ações ou omissões estatais, que constituam uma falha na sua obrigação de regular a matéria com a diligência devida. Ou seja, nesse caso, o Estado não responderia pela ação de terceiros e sim, pelo fato de sua ação ou omissão ter permitido a ação de terceiros.
A Corte também trata da situação – corriqueira – em que o dano climático é causado por mais de um Estado, deixando razoavelmente claro que nessa avaliação as emissões históricas também contam. Além disso, indica que, nessas situações (de responsabilidade múltipla) é possível invocar a responsabilidade de um único Estado sem necessariamente invocar a dos demais. A ressalva é fundamental, porque o maior desafio para responsabilizar concretamente um Estado na esfera internacional é saber se existe algum tribunal internacional com jurisdição para o caso. Se fosse exigível levar sempre todos os responsáveis perante o mesmo tribunal, a responsabilização seria inviável. Por outro lado, é perfeitamente possível que Estados mais poderosos, os quais relutam a aceitar a jurisdição de cortes internacionais e são grandes responsáveis por emissões – caso dos EUA e da China – fiquem impunes, caso cometam ilícitos, ao tempo em que Estados com contribuições menores, mas que aceitam a jurisdição de cortes internacionais, possam ser responsabilizados.
Para a Corte, os padrões atuais em matéria de responsabilidade internacional são flexíveis o suficiente para serem aplicáveis à apuração de nexo causal entre, de um lado, o ato ilícito internacional de um Estado – caracterizado pelo não cumprimento de suas obrigações de proteção do sistema climático – e, de outro lado, os danos sofridos por um Estado como resultado desse ato ilícito.
A Corte reconhece que podem surgir situações nas quais o dano ambiental decorre de várias causas concorrentes. Ou que a ciência do Estado, no que se refere à relação causal entre o ato ilícito e o dano, seja incerta, e afirma que essas dificuldades só podem ser enfrentadas como e quando se apresentarem, à luz das circunstâncias de cada caso concreto.
Por fim, a Corte conclui a seção sobre nexo causal, afirmando que "embora o nexo causal entre atos ou omissões ilícitos de um Estado e o dano decorrente das mudanças climáticas seja mais tênue do que no caso de fontes locais de poluição, isso não significa que a identificação de um nexo causal seja impossível no contexto das mudanças climáticas; isso apenas significa que o nexo causal precisa ser estabelecido em cada caso, por meio de uma avaliação em concreto que leve em consideração os elementos delineados pela (própria) Corte". Com isso, a Corte rejeita tanto a posição dos que consideravam impossível estabelecer nexos causais no contexto das mudanças climáticas quanto a daqueles que consideravam que este deveria ser presumido.
A Corte considera que a responsabilidade decorrente das obrigações decorrentes do costume internacional pode ser invocada por qualquer Estado, mesmo que não seja diretamente atingido. Já a responsabilidade por obrigações decorrentes dos tratados, pode ser invocada apenas por Estado que seja parte em tais tratados, sem que a parte que invoca a responsabilidade seja, necessariamente, aquela diretamente atingida. Esse ponto também é muito importante porque, por vezes, o Estado atingido – por sua dependência econômica – pode preferir não acionar o Estado infrator.
Para a Corte, as consequências decorrentes dos atos ilícitos (ainda que dependentes de sua natureza) incluem as obrigações de interromper e não voltar a praticar o dano e as medidas de reparação integral (incluindo restituição, compensação financeira e satisfação por outros meios). A Corte também lembra que a violação de uma obrigação não afeta o dever permanente de um Estado de (voltar a) cumprir a obrigação violada.
A reparação, como lembra a Corte, "pressupõe a existência de um dano que deve ser provado pelo Estado" ou – no caso de violação do direito internacional dos direitos humanos –, pelo indivíduo atingido. A Corte reconhece que, em matéria de danos ambientais, a reparação nem sempre é possível, mas registra que, no caso das mudanças climáticas, pode, em tese, se dar por meio da reconstrução de infraestrutura destruída ou afetada e pela restauração de ecossistemas e da biodiversidade.
A Corte parece entender que a compensação só deve ser aplicada quando a restauração for inviável e corresponde ao dano que possa ser avaliado financeiramente. Já os outros meios admitidos (para além da restauração e da compensação financeira) podem incluir desculpas formais, declarações públicas ou programas de educação da sociedade sobre as mudanças climáticas.
Conclusão
A decisão da Corte é uma enorme contribuição para o direito internacional. Aumenta a segurança jurídica, reduzindo várias zonas de incerteza; aumenta a força das decisões das COPs – e a COP de Belém será a primeira a se beneficiar com isso – e das manifestações do IPCC; facilita, dentro do possível, a responsabilização de Estados que não cumpram suas obrigações, em especial pelo papel central dado ao direito costumeiro; aponta para a sobrevivência da soberania dos Estados que possam desaparecer territorialmente com a elevação do nível dos oceanos; e faz tudo isso sem cair na armadilha de abraçar as posições mais radicais como, por exemplo, defendiam amplos sistemas de presunção de dano, ou que a Corte declarasse, desde já, a ilicitude de algumas atividades.
E é bom que a Corte não tenha abraçado as posições mais radicais porque isso complicaria ainda mais a resposta à outra pergunta: saber se a decisão da Corte colabora efetivamente com o combate aos efeitos deletérios das mudanças climáticas.
Aqui a resposta é mais difícil. O direito internacional provavelmente não conhecia um período de maior desmoralização desde a eclosão da 2ª Guerra Mundial. A denominada ordem internacional que se pretendia, baseada nesse direito, está sendo implodida por aqueles Estados que eram (ou fingiam ser) seus maiores promotores. Magistrados de tribunais internacionais são punidos por processarem agentes governamentais acusados de genocídio. O "ambiente", em resumo, não está propício para quem acredita no direito internacional.
No curto prazo, portanto, os efeitos da decisão da Corte, assim como outras decisões internacionais, podem ser pequenos. Ainda assim, os países – e não são poucos – que permanecem comprometidos com o tema, certamente a levarão em consideração em suas movimentações. Quem sabe já o farão na COP de Belém? Afinal, na data em que estamos concluindo esse trabalho (28/10/2025), vários signatários do Acordo de Paris estão atrasados na apresentação de suas NDCs, atraso agora classificado como ilícito, e que os países ganharam um novo "incentivo" para corrigir com a decisão da Corte. As empresas que levam a questão a sério também, certamente, guiarão seus planos de longo prazo por ela. E seu potencial de longo prazo é maior.
Quando a onda negacionista baixar, esse tema vai aparecer com mais força e poderá guiar o comportamento de todos os agentes. A questão, como reconhece a Corte, é essencialmente política. Pode ser que seja muito tarde. Temos esperança de que não seja.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Leia também "Petróleo na Margem Equatorial", de Paulo Kliass.