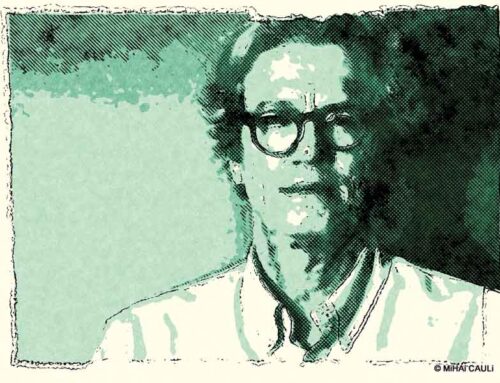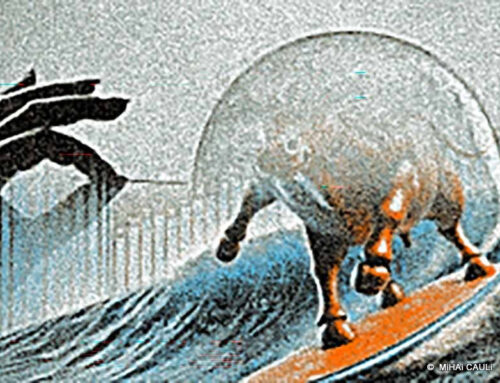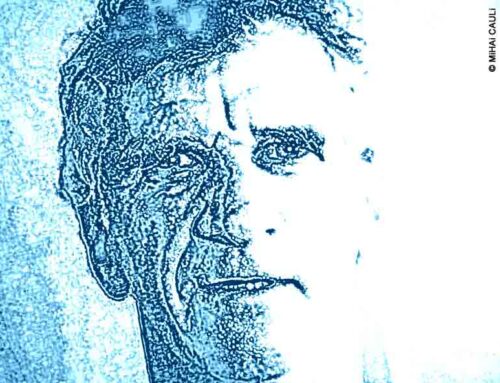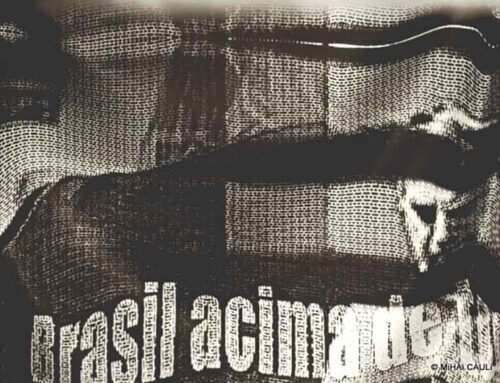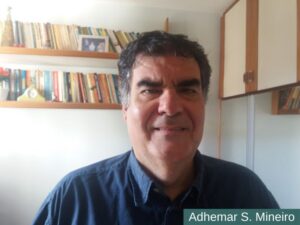
Os dados do PIB pelo IBGE para o primeiro trimestre de 2020 mostram já um recuo de -0,3% na taxa trimestral, comparada ao mesmo trimestre do ano anterior. Se observarmos a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de maio deste ano, para trabalhar com números mais recentes (mas só para a indústria), perceberemos novamente a profundidade da crise, apesar da tentativa de divulgação dos números com algum otimismo, enfatizando a recuperação mensal frente a abril (mês em que a marcha à ré foi expressiva). De acordo com a PIM, em maio a produção industrial frente ao mês anterior avançou 7,0%, depois dos recuos de -18,8% em abril e -9,2% em março. Entretanto, os 7,0% de recuperação apenas parcial se dão frente a números muito negativos.
Se compararmos, entretanto, com maio do ano anterior, temos um recuo de 21,9%, e isso puxado por um recuo nos bens de consumo duráveis de quase 70% (puxados por incríveis -86,0% na produção de automóveis). O acumulado em 12 meses na indústria, -5,4%, mostra que os demais meses ficaram longe de compensar menos de três meses (maio, abril e grande parte de março) de isolamento social pela pandemia da Covid-19 e a extensa paralisação de setores da indústria em abril.
Assim, as enormes incertezas resultantes da pandemia devem seguir impactando uma economia fragilizada nos últimos cinco anos, especialmente pela condução da política macroeconômica. Nessa área, segue a monotonia da composição entre a lógica fiscalista e o poder das finanças.
Considerando o tamanho da crise, seus impactos na economia nacional, e as consequências sociais e políticas da evolução da crise, é que se podem pensar em possibilidades de desdobramentos surpreendentes da crise econômica, embora não haja como medir probabilidades da ocorrência. Essas possibilidades afloram algumas vezes na discussão, mas é preciso entender um pouco do que se está falando.
Existem ao menos dois pilares que estruturaram desde o início a política macroeconômica desse governo (assim como do governo anterior). A primeira é a lógica do ajuste fiscal, baseada no último período na Lei de Teto de Gastos. Independente de seus detalhes, a lógica desse tipo de política é que a redução do gasto público libera espaço para a ampliação do gasto privado, aí incluído o investimento.
Por outro lado, a redução da participação do Estado e do custo fiscal de operação do país funcionaria, junto com uma abertura ainda maior para a movimentação de capitais financeiros e outras garantias dadas aos investidores privados. Assim como o aprofundamento dos processos de concessões, privatizações e parcerias público-privadas, como um elemento de atração dos capitais externos.
Mas o que se viu foi que no mesmo período em que foi adotada essa política, houve a redução dos investimentos no país, nacionais ou já operando internamente, e internacionais.
Assim, as premissas do governo tanto quanto ao investimento privado, quanto ao investimento externo, já não se verificavam antes da pandemia. A pandemia da Covid-19 aprofundou essas trajetórias. Não há investimento privado internacional relevante (fora os chineses) se direcionando para países emergentes, vistos como mercados arriscados, por mais que os países se apresentem como amigáveis ao mercado. De outro lado, não existe apetite do capital privado no país para investir, em função das incertezas sanitárias e políticas, e fundamentalmente da falta de rentabilidade.
Em um quadro como esse se abre o debate no interior do próprio governo atual entre a dominante visão do Ministério da Economia – avesso a uma ativação do investimento público – e outras visões setoriais, capitaneadas entre outros pela Casa Civil, que apresentam, ainda de forma incipiente, propostas de que a reativação econômica passa por uma maior participação do setor público. Esse é um pouco do embrião da dúvida que aparece na medida em que a recessão se aprofunda e as premissas do Ministério da Economia vão se mostrando incapazes de viabilizar os necessários investimentos para promover o desenvolvimento da infraestrutura essencial ao funcionamento do país.
Outro ponto em que aparecem possibilidades é na área de políticas industriais. E aqui um exemplo importante é o setor aeronáutico. Em 2018, foi anunciado um acordo de associação entre as empresas aeronáuticas Embraer e Boeing (dos EUA), no valor de mais de US$ 5 bilhões. Pelo acordo, a Boeing assumiria de fato o controle da Embraer.
Entretanto, vale lembrar que as empresas maiores do setor vêm operando em mercados turbulentos pela redução do crescimento mundial desde a crise de 2008. A Airbus já havia anunciado o fim de seu programa de aeronaves de maior porte (A 380) em fevereiro de 2019, enquanto a Boeing, após uma série de acidentes, teve que parar a operação de um dos seus novos jatos nos quais havia feito enorme aposta, o modelo 737 Max. Assim, ambas as empresas dominantes no setor de jatos de maior porte tiveram problemas com suas linhas estratégicas, e já enfrentavam momentos difíceis antes da pandemia. A expansão da doença e o travamento da economia, com forte consequência nas viagens aéreas, aprofundou sobremaneira a situação das empresas, que passaram a depender de forte suporte estatal.
Em um quadro como esse, a Boeing anunciou o rompimento do acordo com a Embraer no fim de abril desse ano. O processo, dessa forma, não apenas não vai se completar, como as empresas voltam à situação anterior.
Assim, abre-se uma oportunidade de que se volte concretamente a fazer política industrial no setor aeronáutico brasileiro. A Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, cadeia produtiva conectada no Brasil e no exterior, e uma forte ligação de sua área de pesquisa e desenvolvimento com universidades e institutos no Brasil. Como visto, mesmo nos países centrais, empresas como Boeing, Airbus (União Europeia), Comac (China), e outras são fortemente dependentes de suas associações com os Estados Nacionais que lhe dão o necessário suporte.
A Embraer atua nos mercados de aviação civil de médio porte, jatos comerciais e aviões militares. Perdê-la como empresa, significa talvez perder hoje a única empresa brasileira que tem capacidade comercial de se mexer na ponta tecnológica em produtos manufaturados. Sua continuidade depende do apoio que possa vir do Estado brasileiro. Se concretamente se verificar esse apoio, a crise terá dado ao Brasil uma oportunidade concreta de reaver uma estratégia nacional de desenvolvimento em um setor que é muito importante e de mostrar que o Brasil pode ser muito mais do que apenas produção e exportação de produtos primários.
(Esse artigo é um resumo da Nota Técnica que estará sendo divulgada na semana que vem, na 13ª. Carta de Conjuntura do CONJUSCS, Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul).