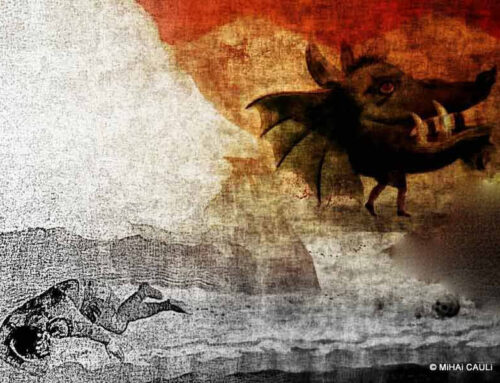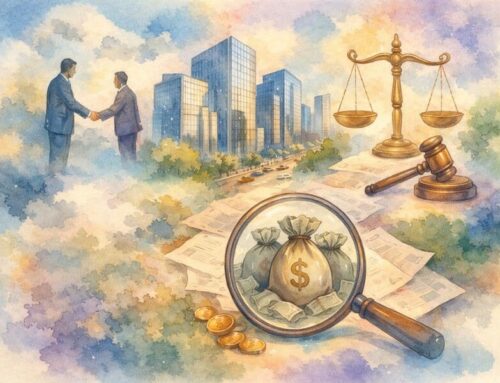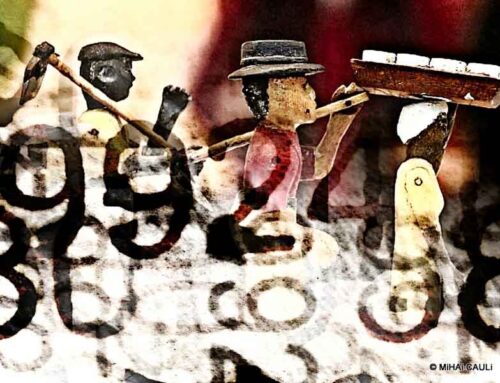Mostramos em reflexões anteriores que uma das grandes matrizes ideológicas da modernidade se tornou hegemônica nas últimas três décadas: a liberal. Ainda: que ela, travestida de neoliberal, sucedeu a social-democrata que vigorou na Europa Ocidental (principalmente) durante os chamados Trinta Anos Gloriosos, TAG (1945-75). E mais: que a atual era (neo)liberal apresenta performance econômica média pífia, bem como notório afastamento do que se poderia nomear de padrão civilizatório de desenvolvimento. Por fim, também mostramos que essa performance e esse padrão apresentaram sinais invertidos nos TAG (adição: o termo keynesiano também é empregado para demarcar esses anos).
Insistindo: da perspectiva do dinamismo econômico e da produção de um capitalismo com algum grau de civilidade se pode dizer que os neoliberais acumulam derrotas, em especial quando seus 30 anos de hegemonia são comparados com as décadas keynesianas. Ilustra esse fato o baixo crescimento médio da economia mundial, a agudização sistêmica da instabilidade macroeconômica, o avanço da concentração da renda e da riqueza, a brutal retirada de direitos sociais e trabalhistas etc. Valendo lembrar que na periferia capitalista esse cenário se mostrou ainda mais dramático, dado o receituário neoliberal aviado pelo chamado Consenso de Washington (1989).
Cabe então perguntar: e o Estado? Afinal, dados os apontados desempenhos distintos, é necessário sublinhar que enquanto os keynesianos defenderam e defendem a chamada intervenção estatal, em especial na economia (embora não apenas), os liberais desde sempre clamam pelas soluções de Mercado e pelo Estado Mínimo. Mas são as práxis dessas matrizes unidades perfeitas? A prova da realidade mostra que enquanto a primeira vertente levou a termo suas teses intervencionistas, a segunda não o fez (e continua não fazendo) na sua plenitude – como se explica em seguida.
Mas deixemos logo de lado os keynesianos, posto que aprovados no teste da realidade, e concentremo-nos apenas nos neoliberais. Essa sua não plenitude se explica porque eles focam, sobretudo, senão exclusivamente, nos gastos públicos e nas institucionalidades que alcançam os interesses das maiorias populacionais. A esse respeito, tenha-se em conta os cortes de recursos que promovem nas áreas da saúde, da educação, do saneamento básico, do atendimento a grupos vulneráveis etc., bem como a extinção de órgãos governamentais voltados para os interesses referidos e a privatização de empresas públicas (em regra as mais rentáveis…).
Trivial que tudo isso seria consoante o ideário em tela se ao mesmo tempo eles não concedessem benesses de toda ordem para a turma do andar de cima (exemplos: subsídios e isenções fiscais para o empresariado, perdão de dívidas do setor privado, manutenção e proteção dos ganhos especulativos dos rentistas etc.), contraditando dessa maneira os mencionados cortes. Por conseguinte, inevitável dizer que a unidade discurso-prática dos liberais se mostra não apenas falaciosa, mas desveladora da sua estreita vinculação com os interesses dos efetivos detentores de riqueza – aqui e alhures.
Não fora suficiente, o que veio de ser examinado sugere outra falácia liberal: a de que o capitalismo poderia viver sem o Estado. Excluindo a atual etapa neoliberal, que será retomada em seguida, observe-se: a) que não haveria a acumulação primitiva, referida aos aproximados 300 anos anteriores ao capitalismo propriamente dito, sem o decisivo apoio estatal às expedições ultramarinas colonialistas, ao processo de expulsão dos camponeses ingleses de suas terras de modo a torná-los compulsivamente assalariados etc.; b) que também não haveria a 1ª revolução industrial sem os regramentos estatais das jornadas de trabalho, das remunerações e das punições dos que se recusavam a trabalhar etc.; e, c) que tampouco haveria a 2ª revolução industrial sem o Estado imperialista da passagem do século XIX para o XX como evidenciado nos mecanismos de proteção dos mercados internos dos países então litigantes, de apoio às empresas nacionais etc.
A verdade é que o Estado tem se mostrado indissoluvelmente imbricado com o capitalismo desde o seu nascedouro. Portanto, não seria nenhum absurdo afirmar que esse modo de organização da vida social sequer existiria sem as suas ações de repressão, de coordenação e de estímulo! Nesse sentido, como alguém disse certa vez, o potencial rompimento dos seus suportes básicos, o dinheiro/capital e o poder/Estado, a realidade nunca aconteceu – e nem tem como! Keynes, um burguês assumido, em diversos de seus escritos também apontou para a farsa nada inocente desse misto de diagnóstico e prescrição. Em suma: outro engodo da verbalização liberal.
Isto posto, um tema adicional parece inescapável: o exame do Estado de “per se” e da sua relação com o atual estágio do capitalismo. Resgatemos então duas concepções presentes na literatura especializada sobre o Estado: a que defende que ele seria a condensação de uma relação de classes (Poulantzas) e a que o define como “petit comité” da classe dominante (Lênin).
Da formulação do sociólogo grego Nicos Poulantzas sobressai de pronto uma negação: a da existência do Estado em abstrato ou apartado da sociedade dos liberais. E a tese leninista? A que aponta para um Estado totalmente apropriado pelos interesses dominantes (econômicos e políticos) na Rússia do início do século XX? Ora, como esse autor examinava em seu livro Estado e Revolução (de 1916) aquela realidade datadamente, entendo que a única crítica a fazer diz respeito não à tese em si, mas à sua extensão para qualquer lugar e momento.
Voltemos então a Poulantzas. Rechaçada a perspectiva liberal e assumindo a leitura circunscrita tempo-espacial da tese de Lênin, ele expõe sua própria concepção: a de que o Estado se conformaria aos estágios históricos do desenvolvimento capitalista, tendo em vista as singularidades das formações sociais concretas. Assim sendo, pode-se dizer que esse autor tanto reconhece a contribuição leninista em exame para o contexto que ele analisava quanto simultaneamente a inscreve na sua formulação – como sugerido, mais geral. Resulta daí que também podemos dizer que na sociedade do capital financeirizado relativamente desregulado, graças à hegemonia neoliberal e à anotada contextualização histórica, não é de todo improcedente afirmar que o Lênin 1916, inapropriado se tomado enquanto tal no período social-democrata, parece voltar a fazer sentido na atualidade… embora não sejam mais os czares que estejam no poder.
Por fim, importante considerar a relação Estado–Governo. Isso porque esses dois entes distintos não podem ser isolados, em especial nos últimos 30 anos, dada a massiva eleição de políticos alinhados com a narrativa neoliberal que, por seu turno, vem permitindo a realização de drásticas mudanças nas constituições nacionais – logo, no próprio ordenamento do Estado. Se há sociedades nas quais os preceitos constitucionais são mais resistentes às vicissitudes da política cotidiana, esse não é definitivamente o caso, por exemplo, do Brasil. Ilustrando: vide a reforma trabalhista de Meirelles e a previdenciária de Guedes, realizadas com grande apoio midiático e parlamentar, respectivamente pelos governos Temer e Bolsonaro. Enfim: essa relação Estado-Governo não pode passar despercebida na medida em que se mostra peça fundamental para o entendimento dos problemas já assinalados, em leitura mais ampla, expressos pelo desmantelamento por essas paragens do mundo – e não apenas por aqui – do mínimo que havia de Estado de Bem-Estar Social.
*
Apesar das suas falácias, engodos etc., e talvez por causa, o neoliberalismo ganhou corações e mentes mundo afora. E como dissemos, o resultado tem sido o baixo crescimento da economia real, o aumento da concentração da renda e da riqueza e o avanço da barbárie. Mas como não há processo social sem sujeitos sociais, cabe perguntar: quem vem ganhando? Do ponto de vista da renda e da riqueza certamente os que operam o cassino da especulação financeira. Cassino esse, diga-se, viciado. Viciado porque seus apostadores jogam o jogo do ganha ganha, posto que ele passa por dentro dos Estados e governos “aggiornados” (e não são poucos) nesses últimos 30 anos. Como isso acontece? De duas formas: pela contração dos gastos sociais que libera recursos para outros fins, em especial para o pagamento da dívida mobiliário-financeira, e pela valorização artificial dos capitais fictícios que incorrem em risco de desvalorização por apostas indevidas! Desse “imbróglio” societário, por sua vez, deriva demanda inescapável: a do estabelecimento de um Estado (do tipo) Totalitário. Isso porque apenas um Estado dessa natureza pode garantir os ganhos dos assinalados donos da riqueza – cerca de 1% da população mundial -, bem como reprimir qualquer possibilidade de reação dos excluídos dessa macabra festança neoliberal. Para terminar, uma singela pergunta: de onde virão as forças capazes tanto de impedi-la quanto de pavimentar caminho para que a vida humana, individual e coletiva, venha acontecer em marco civilizatório?