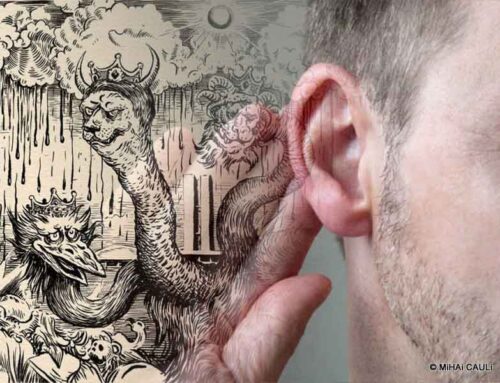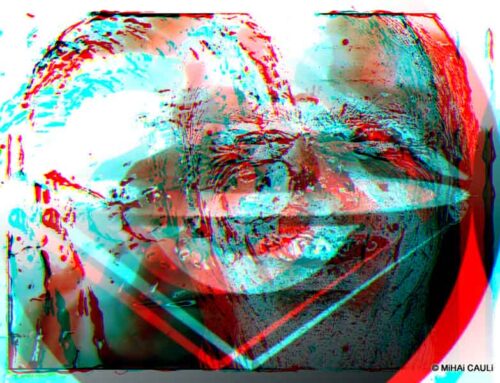Israel levado ao banco dos réus
I
O fato em si tem um significado tremendo, pouco destacado, acho, pela mídia em geral: Israel levado ao banco dos réus da Corte Internacional de Justiça em Haia acusado de genocídio. É verdade que aqui e ali lembraram que a palavra foi criada justamente por um judeu polonês para definir o morticínio organizado pelos nazistas para fazer o povo hebreu desaparecer do território Europa. Terminada a matança, e a guerra, e antes que a década chegasse ao fim, finalmente estava fundado o Estado de Israel, o país destinado a acolher e proteger todos os judeus, fossem de onde fossem. Atraindo a solidariedade mundial, o Estado judeu tratou de fincar as bases de sua permanência naquela terra tão antiga quanto conturbada. Ninguém disse que seria fácil. Os poderosos aliados do outro lado do Atlântico, além do profundo amor e empatia humana pelas vítimas do holocausto, tinham lá também uns tantos outros valores a defender por ali. Israel poderia lucrar, tanto com o amor sincero, quanto com os vastos interesses do Império e seus vassalos europeus. A aliança tinha tudo para ser profícua, duradoura e muito vantajosa – para eles.
II
Houve os que lamentaram a ambiguidade ou a franca leveza da sentença ditada pela CJI. Ainda que quase todo mundo tenha celebrado o ditame exigindo que Israel tome “todas as medidas que estão em seu poder para evitar atos tipificados no Convênio para a Prevenção e o Castigo do Genocídio” como uma vitória dos demandantes no sentido de inibir o massacre que está sendo levado a cabo em Gaza, o mais alto tribunal da ONU não teve a bravura necessária para impor o cessar-fogo na Faixa, como também pedia a África do Sul – menos de 24 horas após ditada a sentença, Israel voltou a bombardear Gaza, matando mais 174 gazenses e deixando 310 novos feridos. Com tudo isso, resta o seguinte fato: no final de janeiro de 2024, um quarto de século antes que se celebre o centenário da fundação de Israel, o Estado tão justamente almejado pelo povo judeu é levado à mais importante corte internacional de justiça, acusado de genocídio. Não é pouca coisa. O significado e a dimensão dessa reviravolta deveriam ser razão mais que suficiente para nos perguntarmos o que está acontecendo. Ou, nas sempre dramáticas palavras de uma querida amiga argentina: que mundo é esse… o que se passou para chegarmos a esse ponto?! Será que a trajetória percorrida por Israel desde a sua fundação, essa trajetória que nas últimas décadas parece se acercar do francamente insano e perverso e conduzir a um inédito nível de isolamento das forças humanistas que um dia apoiaram sua criação, ao abismo do terror e da guerra descontrolada acima de qualquer outra alternativa, será, enfim, que essa trajetória é mesmo um caso isolado e circunscrito às especificidades do Oriente Médio e do conflito judeu-palestino? Claro, essas especificidades são consideráveis. Mas em todos os cantos, lá estão e sempre estarão elas, à espreita, prontas para nos dificultar a laboriosa faina de enxergar para além unicamente delas.
III
Antes, um pequeno parêntesis para falar das palavras. Porque o uso delas ligeiramente deslocadas do seu contexto, às vezes acaba por nos contar mais do emissor da frase que a construção inteira da própria frase – que muitas vezes muito mais esconde que revela. Essa, por exemplo, diz ao final: “uma marca de vergonha que não se apagará durante gerações”. De que marca de vergonha está tratando o orador? Porque agora e desde o 7 de outubro passado, que acontecimentos tão acachapantemente vergonhosos estão arrastando nossa atenção? Quem é e ao que está se referindo, então, o portador da mensagem? Quando recorremos à frase completa é que nos damos conta do ardil no qual ele pretende nos envolver: “A simples afirmação de que Israel esteja cometendo um genocídio contra os palestinos não apenas é falsa, como é indignante, e a vontade do tribunal de discutir isso é uma marca de vergonha que se não se apagará durante gerações”. O discurso do primeiro-ministro está na linha da política de comunicação do seu governo, por óbvio, e se os acusam de criminosos de guerra eles retrucam acusando as vítimas terroristas ou o que bem lhes convier – lembram que não faz mais que um dia ou dois que Israel acusou o secretário-geral da ONU, o simpático português Antônio Guterres de, por exemplo, respaldar “o sequestro de crianças e a violação de mulheres”. O que talvez nos recorde, de novo, a novilíngua do 1984. Mas outras vezes inovam e daí o que nos traz à memória é outra coisa. Assim, a primeira resposta de Israel a Haia, como qualificou um jornalista espanhol, foi simplesmente “desafiante”, i.e., extremadamente arrogante, assegurando que “o governo israelense seguirá adiante com sua ofensiva em Gaza até a vitória absoluta”. Aqui, o porta-voz deverá ter extraído suas lições não de Orwell mas da lingua tertii imperii, que o filólogo Victor Klemperer esmiuçou no genial LTI – a linguagem do Terceiro Reich (Contraponto, 2009.)
IV
Já paralisado pelos efeitos da esclerose lateral amiotrófica (ELA) que, embora mantivesse intacta sua capacidade intelectual, foi lentamente degenerando seu sistema nervoso, Tony Judt pôde ainda ditar um apaixonado alegato em defesa do Estado de bem-estar. Em espanhol foi publicado com o título de Algo Va Mal (Ill fales the Land). A nota de agradecimento assinada por ele está datada de fevereiro de 2010. Judt faleceu cinco meses depois, em agosto do mesmo ano. Ninguém precisa ser um apaixonado pelas teses da social-democracia europeia para se deixar pelo menos comover pelo ânimo daquela argumentação, a análise dos dados e dos processos sociais mais recentes e pela capacidade de síntese histórica e de convencimento. É evidente que valeria a pena tomar tempo para elencar meia dúzia de assuntos que o livro toma como seus. Mas outros já o terão feito a seu tempo e com muito mais competência. Aqui me interessa apenas um pequeno comentário que se encontra no capítulo 3, cujo título é A insuportável leveza da política.
O que ali diz o pensador inglês é basicamente que as forças políticas conservadoras europeias, “para não falar da direita ideológica”, saíram debilitadas e eram “uma preferência minoritária nas décadas que se seguiram à II Guerra Mundial”. A razão é muito simples: sua “conivência (e pior) com as potências ocupantes”. Com o passar do tempo, porém, “à medida que as pessoas iam deixando para trás os traumas das décadas de 1930 e 1940, e estavam abertas às vozes conservadoras tradicionais”, o trabalho da direita foi se pondo mais fácil.
V
Tony Judt, nesses seus comentários de Algo Va Mal, em nenhum momento se refere à ultradireita, e sim às forças conservadoras e à “direita ideológica”. Mas o raciocínio que cabe a esses, com muito mais vigor caberá aos que, passada a guerra, jamais teriam a mínima chance de saírem às ruas para dizer o que, a partir já de princípios da década de 1990, passaram a dizer os de Jean-Marie Le Pen e o que bradam agora, 30 anos depois, os ultradireitistas ou abertamente neonazistas em praticamente todos os países da Europa. À medida que a vergonha pelos crimes do passado vai ficando fora do alcance da memória, eles, de novo, podem voltar a dar as caras. Os traumas foram deixados para trás, i.e., a desordem e os crimes e a barbárie a que arrastaram a Europa e o mundo foram remetidos àquela confortável zona da desmemória e do recalque. E, com isso, o rancor, o ódio e a arca inteira de miséria que subexiste no lodaçal da alma perderam a vergonha de ser e podem então voltar a se manifestar.
VI
Assim, não parece que se possa isolar a agressiva política do ultradireitista primeiro-ministro israelense do apoio que recebe, em primeiro lugar, do seu irmão de ultramar, o Império e os fiéis seguidores europeus (são raras as exceções), nem tampouco do renascimento e crescimento aparentemente imparável dessa corrente política que não muito tempo atrás quis exterminar da Europa o povo judeu – o que, no final das contas e apenas para voltar ao início do círculo, deu origem ao Estado judeu.
VII
Entre os dias 6 e 9 de junho haverá eleições para a renovação do Parlamento Europeu. Uma das primeiras pesquisas que, segundo dizem os analistas, está longe de parecer fora da realidade, aponta para um quadro no qual:
- 1) o Partido Popular Europeu (direita tradicional) continuaria sendo o mais votado, embora perdendo algumas cadeiras, de 178 passaria a 173,
- 2) os socialdemocratas continuariam como a segunda força, mas baixando de 141 para 131 eurodeputados,
- 3) os liberais cairiam de 101 para apenas 86 deputados e perderiam a terceira posição,
- 4) para essa posição subiria o Identidade e Democracia, que poderia crescer de 58 para 98, e ECR (sigla em inglês do Partido dos Conservadores e Reformistas Europeus) com um crescimento de 67 para 85 eurodeputados. Esses dois grupos parlamentares, ID e ECR, aglomeram tudo o que se pode caracterizar como a atual ultradireita europeia, que vai do Vox na Espanha ao Lei e Justiça da Polônia, do Fratelli de Itália ao Fidesz na Hungria. Significa dizer que a extrema direita, junta, somaria 183 eurodeputados, 10 a mais que os 173 da direita tradicional e 52 a mais que os 131 da socialdemocracia. Essa é a aritmética da coisa.
Em termos políticos, esses resultados, a se confirmarem, podem significar, simplesmente, uma mudança nos rumos da Europa com uma aliança, em muitas questões importantes (relativas à imigração, por exemplo, ou à guerra e às alianças internacionais), da direita não mais com a socialdemocracia e a esquerda e os verdes, mas com a ultradireita. Mais os senhores do Império (nesse caso, tanto faz) + Netanyahu +. Definitivamente, não estamos no melhor dos mundos.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Clique aqui para ler artigos do autor.