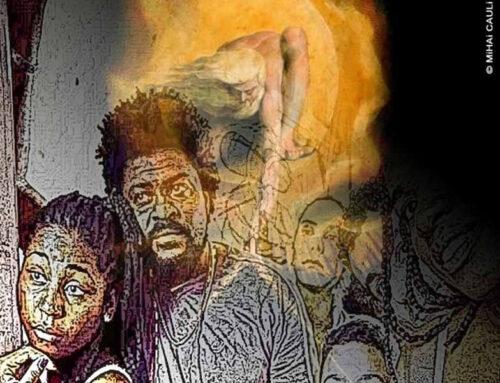O mundo em transição
Pensamento de transição, teorias da história, compreensão da mudança em termos de uma lógica de tensão, crise e resolução – esses são hábitos mentais difíceis de quebrar. A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo, mas o novo ainda não nasceu. Esse é cerne da crise, da incerteza.
Muitos deterministas argumentam que a história entregará essa resolução. Após um período de tensão, a dissonância se resolverá em nova harmonia. A tensão não se resolve sozinha. Esse pensamento situa essa tensão dentro de um cenário dramático no qual a eventual resolução na forma do “novo” é prometida. E essa promessa é reforçada pela referência ao período atual, um período entre duas hegemonias separadas. É apenas uma questão de tempo até que o novo regnum chegue.
A eleição de Trump inaugura um período desse tipo. A hegemonia geopolítica construída pelos EUA no fim da Segunda Guerra Mundial, o sistema de Bretton Woods, chegou ao fim. Esse sistema começou sua fragmentação em 1971 com a decisão unilateral americana de desvincular o dólar do ouro.
Ao drama da hegemonia dos Estados Unidos, acrescenta-se a intensidade da pergunta subsequente: quem vem a seguir? Essa questão é enquadrada pelo pressuposto da repetição histórica hegemonia-crise-hegemonia. No momento atual, só pode haver uma resposta possível: a China liderada pelo PCC. Isso, por sua vez, leva a elite americana a uma ação de retaguarda mais intensa. Mas, por que supor que no século 21 haverá um sucessor para o poder do século 20 dos EUA?
Qualquer exame sério dos fundamentos do poder moderno na verdade sugere que esse tipo de visão cíclica ou sequencial da história é equivocado.
É um lugar-comum dizer que, nos últimos anos, o paradigma da globalização se desfez. Não há mais uma presunção de integração global cada vez mais estreita. A política de comércio está superaquecida. A política industrial nacional está na moda. Mas as evidências de grandes mudanças no fluxo de comércio são escassas. O que substituiu o velho paradigma é menos uma nova agenda coerente do que uma dissonância cognitiva generalizada.
No que diz respeito à macroeconomia, mais mudança. Os EUA estão com déficits duplos – tanto no orçamento do governo quanto nas contas comerciais. A demanda do consumidor é forte. Os mercados financeiros estão aquecidos. Em contrapartida, a UE e a China, com uma procura interna inadequada, registram grandes excedentes de exportação. Esses desequilíbrios moldaram o padrão da globalização por décadas. Eles ainda são ignorados hoje, mas agora as tensões familiares dentro da globalização são reinterpretadas através das lentes escuras da rivalidade industrial e da geopolítica.
Os persistentes déficits dos Estados Unidos há muito levantam questões sobre como eles serão pagos. Até agora, graças ao privilégio exorbitante do dólar americano e aos bons ofícios de Wall Street, o déficit foi financiado sem problemas. A pressão da concorrência global recai fortemente sobre os setores de bens comercializados dos EUA, principalmente a manufatura. É uma característica do que antes era um consenso da elite favorecendo o acesso ao mercado e a liberalização do comércio, sustentado pelos benefícios amplamente sentidos das importações baratas.
Esse consenso foi quebrado em 2016, quando Donald Trump venceu nos estados do cinturão da ferrugem. E a agora volta com mais força ainda. O protecionismo, as promessas de reindustrialização e as acusações à China moldaram a política dos EUA. A preocupação com a rivalidade entre grandes potências aumenta a tensão. A China é um bode expiatório de espectro completo. De pouco adianta afirmar o óbvio: que uma fábrica de chips de ponta aqui ou ali não redefinirá materialmente o contrato social americano, e que qualquer pessoa séria a respeito de melhorar a sorte da classe trabalhadora americana começaria com o básico, como moradia, saúde e creche.
A frase “De pouco adianta” pretendia aqui sugerir a força discursiva da nova política industrial. Se o objetivo é restaurar a posição competitiva da indústria dos EUA, uma grande desvalorização do dólar faria mais do que uma pitada de subsídios industriais. Obviamente, se você tivesse dinheiro real para gastar em subsídios industriais, eles poderiam fazer tanto quanto uma desvalorização. E o verdadeiro problema com a conversa sobre desvalorização é que não é óbvio como projetá-la da maneira mais robusta e de longo prazo do que seria necessário para mudar a estrutura econômica dos EUA. Por que não? Porque a balança de pagamentos é uma coisa complexa.
Mas como projetar (uma desvalorização sustentada e grande) em face da demanda global por ativos financeiros dos EUA é uma incógnita. Discute-se uma tarifa sobre as entradas de capital estrangeiro, efetivamente um imposto sobre o dólar como moeda de reserva. Mas para que uma política tão radical veja a luz do dia, seria necessário que os interesses dos produtores destronassem Wall Street – nada menos que uma revolução.
Tudo isso é previsível. Se você negocia com uma economia chinesa que controla a taxa de câmbio e regula o comércio exterior, o que determina a balança comercial é o estado relativo da demanda agregada dos EUA e da China. Isso agora favorece as exportações chinesas para os EUA.
O interessante é que os EUA vêm há décadas operando uma política industrial altamente eficaz, embora não reconhecida. Gastos do Pentágono, antitruste frouxo, lucros corporativos generosos, forte P&D e amplo financiamento de risco fazem do capitalismo dos EUA a potência que são. Mas a China é a culpada por exagerar na intervenção do Estado.
Essa contradição da qual Trump se aproveitou em 2016 e de forma mais forte agora pressupõe que as elites liberais nas últimas décadas, de alguma forma, negligenciaram a prosperidade da América e falharam em garantir seu futuro industrial. Os fatos não confirmam a tese.
E, como sugere a linha final, essa incoerência da política, por sua vez, aumenta a incerteza do momento, que não é um dado metafísico – como em tantas conversas econômicas sobre “incerteza radical” –, mas um efeito da incoerência socioeconômica e política. A velha política econômica dos EUA está morrendo e a nova ainda não nasceu. Estamos em um estado de tensão. Todos os paradigmas geopolíticos são, até certo ponto, contraditórios.
O ponto central é que as tensões dentro da atual configuração da geopolítica são extremas e são superaquecidas por sua imbricação com a crise política doméstica americana e o antagonismo externo com a China e com a Rússia (Guerra da Ucrânia).
Em seu período clássico no século 20, a hegemonia dos EUA foi construída, não nasceu. As crises hegemônicas são problemas de construção, não obstruções orgânicas. A história não é a natureza com seus ciclos que se repetem. Estamos por nossa conta. O processo histórico não indica nada por si mesmo, ele é uma construção da política humana nas condições dadas. Vivemos entre os destroços do que fizemos e desfizemos.
O atual estado de tensão não tem que se resolver em breve, sob pena de algum tipo de crise sistêmica. Não existe uma visão clara para onde esse processo vai, senão não haveria incerteza. A perspectiva mais provável é que algo que aparentemente não faz muito sentido realmente persista e talvez até se solidifique.
Apesar de décadas de globalização e convergência parcial, vivemos em um mundo de fortes contrastes entre ricos e pobres. Embora imprecisas, as designações “norte global” e “sul global” destacam diferenças reais. Não existe uma solução simples para o problema do desenvolvimento. O prêmio do desenvolvimento não é apenas um mundo mais estável e justo, mas também um mundo mais rico e seguro. Apesar das oportunidades potencialmente oferecidas, o capital privado não preencherá a lacuna. Para compensar a diferença, a política de investimento público tem que definir uma trajetória e coordenar e integrar o investimento privado para que o desenvolvimento se concretize com maior igualdade social, que é a base da democracia.
Desde os anos noventa do século passado, as estratégias conservadoras de governança macroeconômica saíram pela culatra desastrosamente. Apesar de toda a sofisticação de sua governança, o Consenso de Washington, a política macroeconômica hegemônica não fornece mais ao Brasil a plataforma para enfrentar a concorrência global na escala mundial. A resposta não pode ser encontrada em estratégias de deflação doméstica às custas dos trabalhadores ou na redução dos gastos públicos. O que é necessário são mercados maiores, mais investimento e mais inovação. O que é necessário é uma reorientação fundamental da política para o crescimento impulsionado pela procura e pela inovação. Defender o status quo, tanto na política industrial quanto na fiscal, não oferece segurança, mas apenas uma receita para um maior declínio relativo e dependência da inovação tecnológica vinda dos EUA e da China.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Clique aqui para artigos do autor.