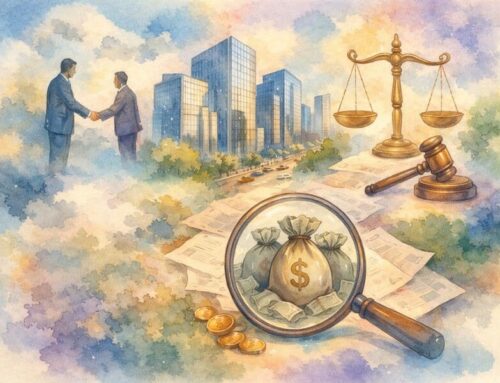A guerra fria gerou condicionamentos opostos sobre os processos de integração na Europa, onde era apoiada pelos EUA, e na América Latina, ao contrário, onde foi obstaculizada.
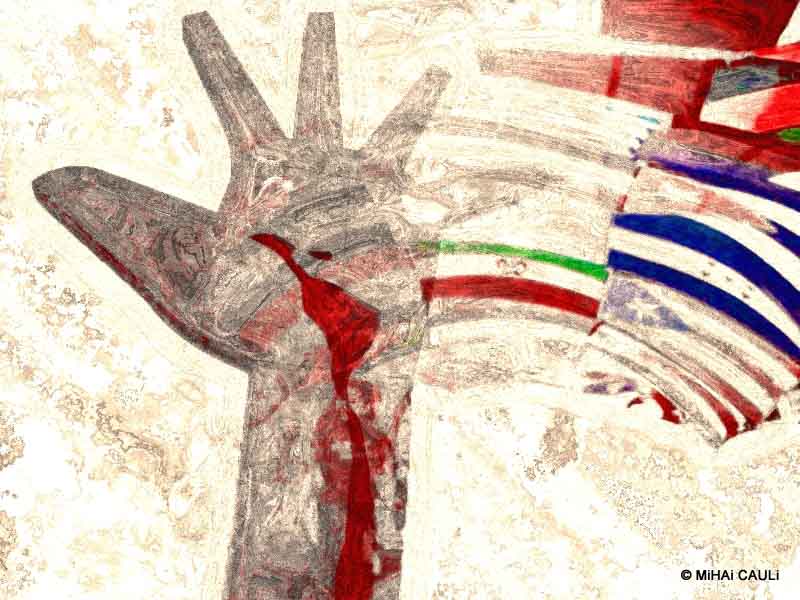
.
Com Simon Bolívar e sua herança política e intelectual nesses últimos dois séculos, a "Pátria Grande" foi um mito dinâmico que tem atiçado a imaginação de muitos, como o nosso Darcy Ribeiro, no caso brasileiro. Entretanto, até hoje, por uma série de motivos, careceu de políticas de Estado efetivas. A partir da criação da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) em 1948, o tema da integração regional ganhou relevo e um esforço mais organizado para seu entendimento e realização. Foram elaboradas perspectivas em vários âmbitos vinculados à integração regional latino-americana, mas essa agenda ainda não se cumpriu plenamente. E não foi por falta de atores, vontade política e institucional.
Neste breve ensaio faremos um contraponto com a experiência europeia, já que em ambos os casos o horizonte da integração esteve presente e foi sendo elaborada desde o pós-guerra em meados do século passado. Porém, os resultados foram distintos e vale assinalar alguns condicionamentos.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa deixou de ocupar o protagonismo que havia conquistado desde a expansão comercial e maritma no século XVI. Com a guerra fria, inaugurada pelas bombas atômicas sobre Hiroxima e Nagazaki, a Europa passou a estar no meio do caminho entre as duas grandes potencias: EUA e URSS. Nessa perspectiva, havia bons motivos para pensar e seguir no rumo de alguma forma de integração ou avançar para a irrelevância.
Na verdade, o ponto de partida de nossa integração coincidiu com o da Europa e também teve origem nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. A Europa, em razão da orgia belicista, estava devastada do ponto de vista material e humano. Além disso, com sérios problemas de abastecimento alimentar, energético e pobreza para a maior parte da população. Mas os tempos eram outros. Ainda em outubro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas e em 1948, essa mesma ONU adotava a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trazida para nossos dias, essa declaração parece obra de um grupo utópico de radicais objetivando tencionar "a ordem natural das coisas".
Aqui na América Latina não houve conflito comparável à Segunda Guerra Mundial, salvo algumas escaramuças. Vivíamos, no geral, em Repúblicas oligárquicas subservientes às grandes potências, onde os sintomas de alguma modernidade estavam quase todos restritos aos sistemas exportadores de matérias-primas e alimentos, com o respaldo teórico e político das "vantagens comparativas", um bom modelo para manter as vantagens comerciais e produtivas nas economias centrais e à periferia bastava acreditar na cantilena e ficar no seu lugar. Aliás, foi a partir da crítica dessa constatação, de suas mazelas e perspectivas, que nasceu a contribuição teórica e política da CEPAL, uma das cinco comissões regionais da ONU.
O texto solar que representou os dilemas de Nuestra América naquele momento foi "O desenvolvimento econômico da América Latina e seus principais problemas", publicado em 1949, autoria de Raul Prebisch (1901/1986), economista argentino, secretário-executivo da CEPAL. Do ponto de vista da teoria econômica, a pedra de toque para entender a contribuição de Prebisch é a teoria da deterioração dos termos de troca. A partir daí, há uma linha de elaboração relacionada à necessidade da industrialização, da criação de novas capacidades, como vetores do desenvolvimento econômico.
Aqui vale uma nota: Prebisch não era peronista nem se pode dizer que fosse um homem de esquerda. Ainda assim, é uma referência obrigatória para entender o pensamento critico e progressista na América Latina. Foi um intelectual público da melhor qualidade, com sólida atividade acadêmica na Universidade de Buenos Aires, no Banco Central argentino e atuando em instituições da ONU. Sua única inserção fora da Universidade de Buenos Aires, do setor público argentino e dos subsistemas da ONU, foi no Clube Boca Juniors, onde trabalhou no setor financeiro durante sua juventude de estudante e em 1984, quando foi convidado para uma cadeira de honra no Conselho Deliberativo do Azul y Oro, outra forma de identificar o Boca Juniors.
Retomando resumidamente o contexto do pós-guerra na Europa: foram anos de reconstrução e crescimento econômico acompanhados das conquistas de direitos sociais e trabalhistas. O vento soprou a favor com o Plano Marshall (1948) e, na sequência, com a criação da CECA (Comunidade Européia do Carvão e do Aço) em 1952 pelos mesmos seis países que em 1957 firmaram o Tratado de Roma, criando a CEE (Comunidade Econômica Europeia) e a Comunidade Europeia da Energia Atômica. Mais que isso: os seis países fundadores da CEE (Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Alemanha Ocidental) se constituíram como uma União Aduaneira, onde os limites de importação entre os países-membros foram abolidos e foi estabelecida uma pauta aduaneira comum. Do ponto de vista das políticas, foram acordadas ações conjuntas nas áreas de agricultura, transportes e um fundo social europeu.
Para completar esse conjunto de medidas, deve ser sublinhada a Política Agrícola Comum (PAC), um pilar fundamental na estrutura legal e política da construção europeia. Criada em 1962, os ensaios já vinham acontecendo com iniciativas que buscavam solucionar a segurança alimentar e, para isso, incrementavam a produção e a produtividade, assegurando mercados e preços acessíveis para produtores e consumidores. Alguns anos depois, a PAC foi vítima de seu próprio sucesso com excedentes de produção e desde então se reinventou e vem sendo reelaborada com cotas de produção e medidas como a valorização da produção local, sustentabilidade ambiental, turismo rural e as denominações territoriais (indicações geográficas, marcas coletivas). Ainda hoje, os recursos destinados ao rural agrícola e não agrícola representam pouco mais de um quarto do total de despesas da União Europeia, que conta com 27 países.
O que deve ser assinalado é que nestes primeiros anos da CEE foram lançadas as bases sem as quais não haveria União Europeia. Houve estratégia, um conjunto de medidas e algum nível de consenso num caminho que deu um salto em 1992 com o Tratado de Maastricht. Com esse tratado assinado, foram estabelecidas formalmente as bases da União Europeia contemporânea e a criação de uma união econômica e monetária, incluindo a moeda única (euro), que entrou em circulação em 2002. Nunca se havia avançado tanto num processo de integração. Jacques Delors, ex-presidente da Comissão Europeia, criou a expressão "objeto político não identificado", justamente para expressar essa condição mesclada da UE, que não é um estado unitário nem uma federação pura, mas algo híbrida.
Alguns autores latino-americanos, como o mexicano Victor Urquide, assinalara entre nós a falta de uma direção mais livre de particularidades nacionais, como se deu na Europa:
"Estoy consciente de que cada economista de un país de La región latinoamericana tiende a ver los problemas de La región desde sus conocimientos locales y conel prisma y el prejuicio de su mentalidad y cultura. Así por ejemplo, Prebisch fue um latinoamericano argentino, Herrera fue chileno, Pazos cubano, Mayore venezolano, Lleras Restrepo colombiano, Furtado es brasileño y a mí me tocó ser mexicano. No se ha encontrado todavia um latinoamericano de cepa que se asemeje a los europeos de La Unión Europea, por ejemplo, a Jacques Delors". (URQUIDE, Victor Outro siglo perdido – Las Políticas de Desarrollo en América Latina. Fondo de Cultura Económica. México: 2005:22).
O pós-guerra na América Latina também foi marcado por crescimento e expansão industrial e do trabalho formal, que faz a ponte entre o mundo do trabalho e a cidadania. Particularmente na Argentina e no Brasil (as "locomotivas", assim como Alemanha e França no caso europeu), houve certo movimento convergente com elevação nos padrões de vida e incorporação das migrações rural-urbanas no contexto urbano/industrial. Mas as semelhanças com o caso europeu terminam aí.
Em praticamente todos os países de nosso continente, as teses cepalinas foram discutidas nas universidades, assim como em outros espaços institucionais. A integração regional foi um dos pontos da pauta, chegando à implementação de algumas iniciativas, como o Mercado Comum Centro-Americano (MCCA) a Aliança Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), Comunidade Andina, MERCOSUL. Entretanto, nenhuma dessas iniciativas alcançou medidas estruturantes nos moldes da PAC no contexto europeu. Isso se deveu em boa parte às descontinuidades nos governos e ausência de consensos, mas também e principalmente às rupturas provocadas por golpes de Estado. Os golpistas dos anos 50, por exemplo, viram um fantasma da integração regional fantasiado de uma "República Sindicalista", supostamente articulada entre os presidentes Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón. Esse plano nunca existiu, mas o resultado dessa empreitada golpista foi o suicídio de Getulio (agosto de 1954) e o bombardeio aéreo da Praça de Maio junto à Casa Rosada (maio de 1955) com o número oficial de 308 mortos, maioria civil, e a fuga de Perón para a Espanha de Franco. Perón retornaria 19 anos depois para ser eleito pela terceira vez presidente da Argentina.
Vale dizer que, assim como Raul Prebisch, Getúlio e Perón não eram homens de esquerda. Mas eram movidos por algumas convicções de desenvolvimento, soberania nacional e visão de futuro para seus países. A realidade é sempre mais rica do que a teoria e precisamos ir muito além do terraplanismo para entender nosso continente. E convenhamos: ser presidente na América Latina com esses compromissos, incluindo alguns outros básicos como crescer e distribuir a renda é tarefa bem mais difícil do que ser presidente da Suíça, por exemplo.
A guerra fria gerou condicionamentos opostos sobre os processos de integração na Europa, onde era apoiada pelos EUA, e na América Latina, ao contrário, onde foi obstaculizada. Com a retomada das democracias e o fim da guerra fria, o xadrez político ganhou mais complexidade na América Latina com o vai e vem das prioridades com sinais trocados entre governos, o que conduz a resultados parciais nas experiências em curso. Mas a questão permanece: sem estratégia de integração mais efetiva como política de nossos Estados nacionais, estaremos fragilizados e sem chances para uma inserção mais frutífera e soberana no contexto mundial.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "A paz dos cemitérios", de Adhemar Mineiro.