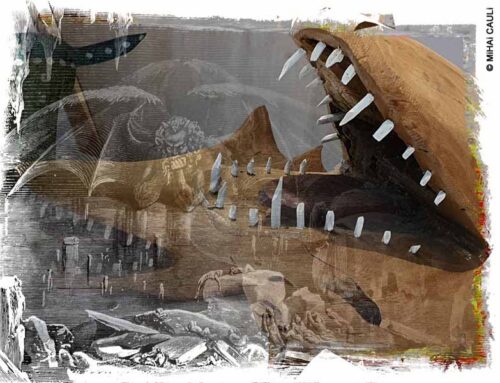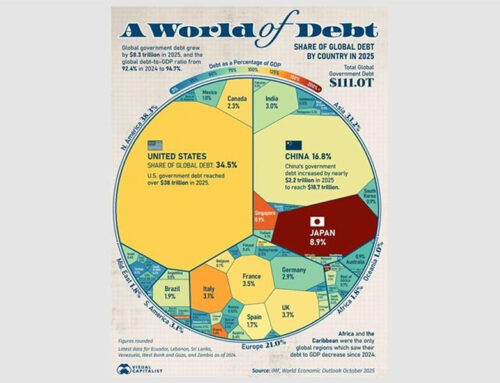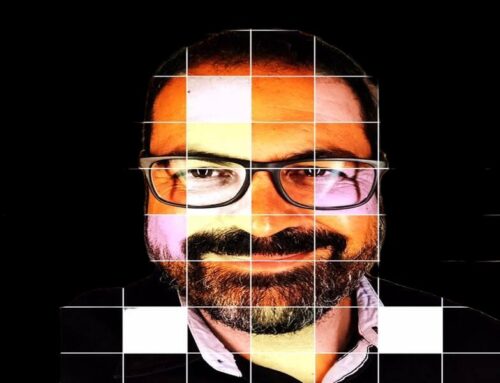O Brasil tem uma longa tradição histórica de aprisionar o seu horizonte de futuro político e socioeconômico à monocultura da produção primário-exportadora centrada no extrativismo. Até a primeira metade do século passado, o expansionismo exportador de commodities (madeira, açúcar, borracha, ouro, café e outros) combinou fases de bonança com longo tempo de decadência, conforme registra a história.
Toda a vez que o mercado exportador apresentava sinais de esgotamento, o país entrava em baixa, regredindo o padrão de vida do conjunto de sua população frente à ausência de impulsos endógenos para sustentar o crescimento pela via do mercado interno. Nos momentos de auge do extrativismo exportador, um contido segmento social enriquecia (proprietários agrários e em atividades do comércio externo) ao mesmo tempo em que parte da riqueza gerada era transferida ao exterior por conta da dependência da importação de produtos de maior valor agregado atrelados ao consumo ostentatório dos ricos.
Durante os momentos de recuo dos surtos extrativos exportadores, a economia local estagnava. Por consequência, o empobrecimento crescente da população era acompanhado também pela maior geração de força de trabalho sobrante aos requisitos da contratação no interior do sistema produtivo decadente.
Até a década de 1930, por exemplo, o Brasil experimentou três fases distintas de extrativismo, entendido por atividades de extração da natureza que atendem tanto ao autoconsumo como ao uso comercial e industrial diverso. A primeira fase extrativa resultou da prática do autoconsumo presente nos povos indígenas das florestas que ocupavam originalmente o território.
A segunda fase decorreu do sentido da colonização por exploração imposta pelos portugueses, responsáveis pelo encadeamento de ciclos de atividades econômicas (pau-brasil, cana-de-açúcar e ouro) assentados no comércio externo, monocultura, latifúndio e escravidão. Por fim, a terceira fase do extrativismo emergiu do modo de produção capitalista periférico que dominou o Brasil entre as décadas de 1880 e 1920, após a abolição da escravatura.
Pela lógica da acumulação de capital, a extração da natureza foi assumindo a condição de matéria-prima no interior do sistema de transformação manufatureiro mundial. Por conta disso, a inserção do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho se fez como produtora e exportadora de produtos primários, cujo dinamismo permitia algum vazamento de parte da riqueza do comércio externo para atividades produtivas internas orientadas ao mercado interno face às demandas do assalariamento em expansão.
Da década de 1930 até a de 1980, todavia, o extrativismo tradicional serviu à lógica da produção manufatureira interna, que se reproduziu durante o ciclo de industrialização e urbanização nacional. Mas isso somente foi possível enquanto perdurou a ordem política e social interna prevalente entre a Revolução de 1930 e a instalação do ciclo político da Nova República (1985-1989).
Pela forma como se deu a inserção na globalização neoliberal a partir de 1990, o Brasil foi se reconfigurando no interior da Divisão Internacional do Trabalho. Por força da transição da antiga condição de produção diversificada e exportadora de bens manufaturados para a de especialização reprimarizadora de sua economia, o país que respondia por três a cada dez produtos manufaturados do mundo em 1980 regrediu para a geração de apenas um a cada dez bens industriais produzidos no planeta em 2019.
A virada para o século 21 tem sido marcada pela consolidação do neoextrativismo em curso no Brasil. De modo distinto do passado, o extrativismo atualmente se apresenta ampliado e plenamente integrado à reprodução expandida globalmente, que articula esferas tanto da extração na produção de mercadorias quanto da sua própria realização e circulação monetário-financeira.
Nesse novo formato de expansão capitalista, prevalece a lógica da extração que predomina em todas as esferas econômicas, consolidando a condição de periferia mundial pela subordinação da natureza ao processo de just in time das cadeias globais de produção. Assim, a matéria-prima que resulta da exploração da natureza também se converte em ativo financeiro intermediado pelas grandes corporações transnacionais no interior do processo encadeado da extração da renda da terra e imobiliária, por exemplo.
Ademais, o neoextrativismo compreende a dependência crescente à conexão tecnológica (insumos agropecuários e sementes transgênicas) e às infraestruturas de logísticas e transportes, uma vez que o custo do capital fixo instalado exige o seu uso recorrentemente intensivo, capaz de evitar gastos sem receita (desvalorização do capital). Como os preços das commodities são definidos externamente, os complexos neoextrativistas buscam operar crescentemente sem regulação pública e com forte ação autoritária tanto nas relações trabalhistas como em relação aos movimentos sociais e povos originários.
Diante do predomínio privado, ao Estado cabe ancorar o curso hiperindustrial organizativo da produção neoextrativa em grandes escalas do agronegócio e da mineração articulada aos armazéns, corredores de transportes, agências de seguro, empresas trading na comercialização, bancos de financiamento e operações de câmbio, entre outras ações com certos paraísos fiscais. Por conta disso, o país convive com a heterogeneidade técnica e econômica crescente entre os ramos produtivos primários de exportação e os de subsistência interna, que se mostram incapazes de absorver a massa de trabalhadores, sobretudo nas atividades de maior produtividade, o que aprofunda o próprio subdesenvolvimento resultante do curso programático denominado uma ponte para o futuro.