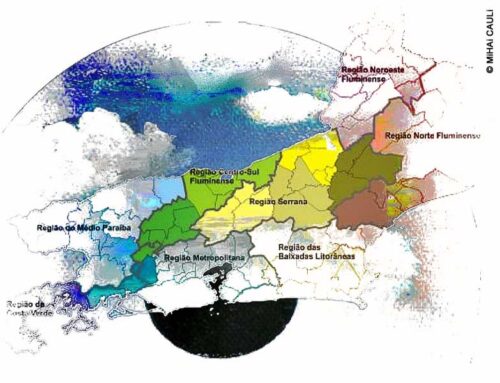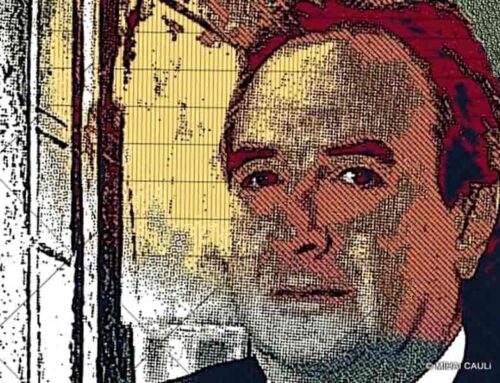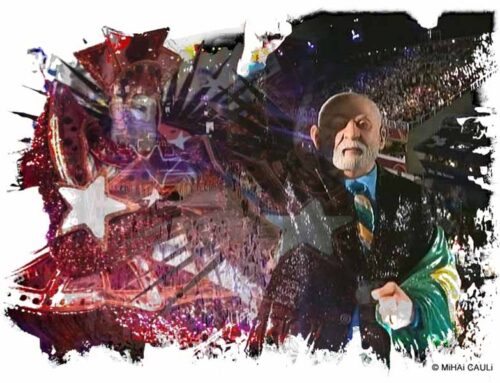Como afastar do poder um presidente da República que, pelo agravamento de transtornos mentais, já não tenha mais capacidade de permanecer à frente do executivo federal? Como fazer isso sem desrespeitar a Constituição Federal? Bem sabe o leitor que se trata de pergunta retórica, à qual nos dedicaremos a seguir por amor à pura especulação.
A hipótese, sempre teórica, é a seguinte: durante o curso de seu mandato um presidente da República é acometido de transtornos mentais (ou transtornos que ele já possuía se agravam) e ele não tem mais capacidade de permanecer à frente do executivo federal. Ministros, altas autoridades da República e a sociedade em geral reconhecem o agravamento do quadro, conseguem evitar ou neutralizar decisões mais perigosas, mas o presidente em questão (com o apoio de alguns apoiadores mais fanáticos) nega a existência ou a gravidade do transtorno (o que é comum em certas patologias) e, portanto, se recusa a reconhecer esta situação e a deixar o poder. Ou seja, a hipótese é de afastamento do presidente da República, contra a sua vontade, não porque tenha cometido um crime (comum ou de responsabilidade), nem por condenação da Justiça Eleitoral, mas sim pela incapacidade mental. O que fazer?
Não há resposta explícita na Constituição Brasileira. A única pista se encontra no artigo 79, segundo o qual “substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente”. Este “impedimento” é uma expressão (que não se confunde com o de impeachment) que abrange toda e qualquer situação na qual o presidente da República não pode, temporariamente, por qualquer razão, exercer o cargo. Este artigo, sem qualquer dúvida, se aplica aos casos de doença, mas nada diz – e este é o ponto – o que fazer quando o presidente se recusa a reconhecer sua situação de impedimento, embora sirva de fundamento para legitimar constitucionalmente a busca por uma solução.
Pois bem, outras constituições trataram explicitamente da hipótese, a começar pela 1ª Carta Política Nacional (de 1824), cujo artigo 126 autorizava o afastamento do Imperador quando este “por causa física ou moral evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das câmaras da assembleia, se impossibilitar para governar”. A “Constituição em sua sabedoria procurou prevenir todas as circunstâncias que podem colocar, e que algumas vezes já tem posto em perigo os Estados. Na hipótese deste parágrafo, que a providência removerá sempre do Brasil, o governo do estado não poderia certamente ser interrompido, nem continuar como uma direção anormal ou impossível”. O comentário é importante porque lembra um senso comum por vezes esquecido (não estamos livres do acaso, ou das Leis de “Murphy”) e tinha como objeto um cargo considerado sagrado e foi feito pelo mais conhecido comentador da Carta de 1824, em livro (BUENO, Pimenta. Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça, 1958, p. 64) que alguns acreditam ter sido escrito com a participação (ou ao menos a concordância) decisiva do próprio Imperador. Era o trono, reconhecendo que um dia podia falhar.
Mas a Constituição em vigor mais conhecida a tratar diretamente o tema é a Constituição dos EUA, que o incluiu em uma de suas últimas emendas, a 25ª. Essa emenda ficou conhecida pois permitiu a chegada de Gerald Ford à presidência, ao dar ao presidente dos EUA o poder para nomear um novo vice-presidente (a ser confirmado pelo voto da maioria das duas casas do Congresso) no caso do cargo (de vice) ficar vago (Gerald Ford não foi eleito vice-presidente na chapa de Nixon, foi escolhido por ele após a renúncia do vice-presidente Spiro Agnew acusado de corrupção). Na ficção – e para falar de outro personagem absolutamente alucinado – foi essa emenda que permitiu a chegada ao poder de Frank Underwood, personagem de Kevin Spacey no seriado House of Cards, que fez muito sucesso no Brasil até nos darmos conta de que nossa realidade era mais virulenta do que a ficção poderia sonhar.
Pois bem, naquilo que nos interessa o § 3º da Emenda 25 estabelece o procedimento para que o presidente se afaste do poder por iniciativa própria, o que se dá mediante simples declaração sua de que está incapaz de exercer suas atribuições. Tal declaração deve ser entregue ao presidente (Speaker) da Câmara dos Deputados e ao vice-presidente do Senado (o presidente do Senado nos EUA é o próprio vice-presidente da República que assumirá o cargo). Quando a incapacidade tiver terminado basta ao presidente entregar declarações às mesmas autoridades comunicando o fato e ele reassumirá o cargo.
Mas essa declaração de incapacidade também pode ser de iniciativa do vice-presidente, nos casos, presume-se, do presidente estar inconsciente ou se opor à iniciativa. Mas a Emenda exige que a declaração do vice-presidente seja subscrita pela maioria dos ministros (ou pela maioria de outra instituição que vier a ser escolhida por lei) o que é bastante engenhoso, pois o fato dos ministros terem sido escolhidos pelo presidente diminui as chances de uso do mecanismo para o afastamento do presidente que não esteja de fato incapacitado, ou seja, para um golpe.
Mas a Emenda 25 não para aí, ela prevê a hipótese do presidente se opor à iniciativa do seu vice. Nesse caso, ele transmite uma declaração (às mesmas autoridades) contestando a declaração do vice (não estou doido não!) e reassume o lugar. Ah, mas o vice ainda tem uma chance, ele pode dobrar a aposta (está doido sim!), apresentando nova declaração (com a mesma maioria de ministros) no prazo de 4 dias do recebimento da última declaração do presidente. Neste último caso caberá ao Congresso decidir a questão em caráter final, só podendo afastar o presidente pelo voto de dois terços dos membros de ambas as Casas.
Em suma, trata-se de procedimento cuidadoso e politicamente equilibrado. Um presidente, se não houver resistência do próprio, pode ser afastado por seu vice-presidente acompanhado da maioria dos ministros que escolheu. Se houver resistência do presidente, o que significa dúvida razoável sobre a existência ou não de base fática (a doença) para o afastamento, este só prevalece com apoio de ampla maioria do congresso, a mesma maioria que é requerida para o caso de impeachment. A comparação com a Constituição dos EUA tem uma relevância especial para nós. É que o impeachment previsto na Constituição Brasileira é claramente inspirado naquele previsto na Constituição dos EUA. Há diferenças relevantes (lá o presidente não é afastado mesmo após a acusação ser aprovada pela Câmara e recebida pelo Senado como acontece aqui), mas as semelhanças sem dúvida são enormes.
Também vale mencionar a Constituição Portuguesa, que prevê, de forma um tanto lacônica, a competência do Tribunal Constitucional para “verificar a morte e declarar a impossibilidade física permanente do presidente da República, bem como verificar os impedimentos temporários do exercício das suas funções” (artigo 223, 2 “a”), sem especificar o procedimento para tanto. Note-se que, em Portugal, não existe previsão constitucional de afastamento do presidente pelo Legislativo (este autoriza o início do processo, que, então, é remetido ao Supremo Tribunal de Justiça).
No Brasil, nos parece haver três soluções ao menos defensáveis: aplicar o processo de impeachment strictu sensu, aplicar o processo de impeachment com adaptações ou fazer algo próximo ao que prevê a Constituição dos Estados Unidos.
Vamos tentar explorar cada uma delas, ressaltando que o ideal é que sua adoção seja objeto de prévia regulamentação, seja por lei, seja, ao menos, por resolução do Congresso Nacional, e registrando que a novidade do tema justifica – assim esperamos – que o leitor nos perdoe se, desde já, não escolhemos uma.
Ambas soluções a favor da aplicação do impeachment são as mais conservadoras do ponto de vista jurídico. Reconhecem que na ausência de solução explícita da Constituição para o afastamento do presidente contra a sua vontade por razão de doença, deve ser utilizada – por analogia – a solução explícita da Constituição para o afastamento do presidente contra a sua vontade por cometimento de crime de responsabilidade. Na primeira versão dessa solução o procedimento de impeachment seria aplicado de forma estrita, o que pressuporia a efetiva ocorrência de um crime de responsabilidade. O problema é que pode não ter ocorrido nenhum crime de responsabilidade (que exige um mínimo de tipicidade e de dolo) e que não queiram simplesmente inventar um (ou dois, como em tempos recentes). Nesse caso, ou o afastamento-impeachment seria inviável (por ausência de crime) ou seria aplicado de forma inconstitucional (pela mesma ausência). Outra opção seria aplicar todo o procedimento de impeachment (ainda por analogia) mas substituindo a necessidade de imputação de um crime de responsabilidade pela imputação do estado de insanidade mental. A fase de prova seria mantida, permitindo inclusive a prova pericial (o exame de uma junta médica, por exemplo, embora permaneça o problema do que fazer se o presidente recusar até o exame). A vantagem dessa opção é dar ao presidente acusado de demente uma vasta oportunidade de provar sua sanidade. Ademais, para aqueles que sustentam o caráter eminentemente político do impeachment (dentre os quais não nos incluímos, como sustentado em nossa tese de doutorado, no prelo) e que sustentam, portanto, que, desde que respeitado o procedimento, a decisão da Câmara e do Senado é inteiramente livre (e jamais poderia ser denominada de golpista), não haveria grandes mudanças.
A terceira opção seria uma solução à americana. Seu fundamento jurídico seria a tese da completude do ordenamento jurídico, ou seja, a tese de que qualquer sistema jurídico deve necessariamente dar uma solução para qualquer problema. Na verdade, esta tese também sustenta as outras soluções, mas, neste caso, ela é levada mais ao extremo para dizer que essas outras soluções – ao impor o procedimento de impeachment que pode levar meses – não são de fato soluções, sobretudo para casos de grave insanidade mental (imaginemos um presidente que, no enfrentamento de uma pandemia, contra a unânime opinião médica, resolvesse adotar uma política que levasse à morte milhares de pessoas).
Seguindo essa linha, a solução americana seria defensável por uma espécie de analogia comparativa (na ausência de solução dada por determinado sistema jurídico tratemos de buscar uma solução dada por ordenamento que seja bastante próximo ao nosso quanto ao tema). Nesse caso, face à ausência de texto, seria inviável a possibilidade de afastamento do presidente por simples comunicação do vice apoiado pela maioria do ministério. Mas talvez seja defensável admitir que uma comunicação nesses moldes dirigida aos presidentes da câmara e do senado autorize o congresso a suspender o mandato presidencial desde que pelo mesmo quórum previsto para o impeachment e desde que aberta oportunidade para prévia manifestação e produção de prova pelo presidente. Ou seja, ainda haveria um procedimento a ser observado, mas bem mais curto do que o do impeachment. Trata-se da opção mais ousada e sem dúvida arriscada, mas talvez menos perigosa do que descartá-la inteiramente, permitindo a permanência de eventual louco furioso na presidência por mais tempo do que um país suportaria.
Não cogitamos a opção de afastamento do presidente por meio de decisão do Poder Judicial. Isso por diversas razões, mas, em especial porque, em sendo o presidente eleito, só um órgão também eleito, expressamente legitimado pela Constituição para remover o presidente em situações mais graves (cometimento de crimes de responsabilidade) ou para autorizar que seja eventualmente removido (no caso de processo por crime comum) seria, a nosso ver, legitimado para afastá-lo por incapacidade mental. Assim, considerar o STF legítimo para tanto, sobretudo um STF que vem cada vez mais aceitando decisões monocráticas (imagine a decisão de um único ministro afastando o presidente da República), equivaleria a retirar o tubo do princípio da separação de poderes, que entre nós, já respira por aparelhos faz tempo. Isso não significa que o STF não possa intervir – como já interviu (e deixou de intervir) em procedimentos de impeachment – para corrigir eventuais abusos no procedimento a ser escolhido.
O ideal, obviamente, é que o problema fosse evitado, ou que fosse objeto de normas específicas. Na verdade, existe uma urgente necessidade de reforma da própria lei do impeachment que é de 1950, portanto muito anterior à atual Constituição.
Mas, com ou sem norma, o afastamento de um presidente contra sua vontade por razões de saúde será sempre um risco, pela possibilidade de que se use a doença – tal como se usa o impeachment – apenas para retirar um presidente que perdeu o apoio daquilo que Ferdinand Lassalle chamava de fatores reais de poder.
Com efeito, na América Latina o impeachment e outras formas constitucionais (ou quase) de afastamento de presidentes passaram a ter uma importância que nunca tiveram. É que, como apontado por Pérez-Liñán, as elites civis latino-americanas compreenderam que os golpes militares tradicionais se tornaram, em grande medida, impraticáveis; passando então a experimentar o uso de instrumentos constitucionais para remover presidentes.
Com isso, o impeachment, de instituto esquecido, se converteu em traço distintivo do panorama político da América Latina. Essa utilização do impeachment veio acompanhada de uma característica muito positiva: a queda de governos deixou de representar o restabelecimento de regimes autoritários (malgrado o indisfarçável caráter golpista de alguns desses processos, como o de Fernando Lugo, presidente do Paraguai, destituído em 2012 em procedimento que transcorreu em menos de 48 horas), mas a integridade constitucional de vários destes processos é no mínimo duvidosa. Assim, a partir de 1992, diversos presidentes foram removidos do poder, seja pela consumação do impeachment, por sua ameaça, ou por alguma outra forma de crise institucional. De fato, estes instrumentos constitucionais não se limitaram ao impeachment. Também ocorreram casos de renúncias praticamente impostas (caso do presidente argentino Fernando De la Rúa, em 2001) e declarações de incapacidade mental (como o do presidente do Equador Abdalá Bucaram, afastado em 1997), procedimentos nos quais o risco de golpe é talvez ainda maior. Como lembra Pérez-Liñán, as normas sobre incapacidade de presidentes “fueron concebidas como una manera de reemplazar a un presidente que, si bien estaba con vida, era incapaz de llevar a cabo sus obligaciones. Sin embargo, palabras técnicas como ‘incapacidad’ y ‘ausencia permanente’ pueden tomar significados inesperados en medio de una crisis presidencial”. (PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009, p. 224, note-se que depois da publicação desse livro ocorreram mais dois impeachments consumados e ao menos uma tentativa).
Aqui vale lembrar Karl Loewenstein, para quem “uma instituição ou técnica política pode ser submetida na práxis de sua utilização a uma modificação completa de sentido que lhes retira o seu valor democrático” (Teoría de La constitución, 2ª edição, 4ª reimpressão. Barcelona: Ariel Derecho, 1986, p 526). Em minha tese (assim como durante o impeachment de Dilma), sustentei que um processo de impeachment para estar de acordo com a Constituição não deveria respeitar apenas as normas procedimentais; exigia – e exige – que um presidente só fosse afastado se efetivamente tivesse praticado com dolo um ato ou fato que correspondesse a um crime de responsabilidade previamente definido. Do contrário, sustentei (e continuo sustentando), estaremos transformando o presidencialismo em parlamentarismo pela porta dos fundos (sem qualquer graça), desrespeitando a vontade popular expressa em dois plebiscitos. Anos após o impeachment de Dilma vários de seus algozes admitiram publicamente que sua queda se deu pelo “conjunto da obra”.
Pois bem, o problema em se admitir o afastamento de um presidente por sua loucura é que esta pode ser apenas a nova forma de denominar o “conjunto da obra”. Lembrando o argumento que esgrimi com alguns naquela época: será que você aprovaria um afastamento pelo conjunto da obra se o presidente em questão tivesse seu apoio (“vento que venta cá venta lá”)? Vivemos tempos difíceis, mas o afastamento de um presidente pelo Congresso, se o momento chegar, deve ser tratado com toda a seriedade. Como dois erros não fazem um acerto, seja lá qual for a solução a ser dada para tal hipotética crise, ela deve partir de um entendimento que possa ser aplicado a qualquer hipótese semelhante e que, na ausência de texto expresso da Constituição de 1988, esteja o mais próximo possível dos fundamentos da Constituição, dentre os quais, por razões (“pandemicamente”) óbvias, vale destacar o da dignidade da pessoa humana e o do estado democrático de direito.
Em uma palavra: a legitimidade constitucional e política do afastamento concreto de um presidente por uma das formas cogitadas aqui será inversamente proporcional à gravidade da patologia que ele de fato tenha (ou não). O afastamento de um presidente meramente excêntrico sob o (nesse caso) falso argumento da loucura seria um grave erro (e um golpe), só igualado, ou talvez ultrapassado (por outro lado), pela incapacidade de afastar um verdadeiro psicopata.