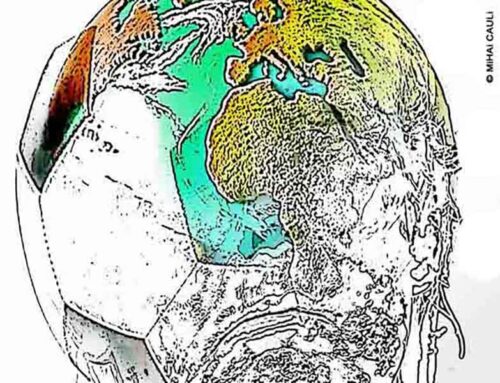Um dos fenômenos durante a epidemia do COVID foi a expansão das lives acadêmicas, iniciativa louvável para democratizar o acesso ao conhecimento. Em poucas semanas, professores universitários começaram a conversar e ensinar para um público maior do que aquele que até então frequenta a universidade. Todo aquele que tivesse tempo e acesso à internet, duas condições importantes, poderia escutar investigadores discutindo suas pesquisas com um público que não necessariamente sabe o que faz um historiador profissional. Foi uma explosão! Centros de pesquisa e departamentos começaram a divulgar várias lives sobre assuntos variados, seja a ditadura no Cone Sul, a memória da escravidão no Rio de Janeiro, o patrimônio cultural em Pernambuco, entre vários outros assuntos.
Os eventos online me permitiram conhecer o trabalho de novos pesquisadores, e/ou ver e ouvir velhos amigos, a quem admiro. É importante destacar que a historiografia brasileira é referência nos estudos sobre escravidão e vários colegas nos Estados Unidos comentam, publicamente, que a produção acadêmica no Brasil é excelente e influencia o trabalho deles.
As lives, no entanto, deixaram evidente como o mundo acadêmico é masculino e branco. Há anos os manels, como são chamados os all-male panels, os painéis onde todos os oradores são homens, recebem escrutínio nos Estados Unidos e são denunciados em redes sociais. Inclusive, há um site com sugestões para colegas homens, como o juramento de jamais aceitar participar de manels. Alguns cientistas, como Francis Collins, diretor da National Institute of Health, já declararam publicamente que não participamr desse tipo de painéis.
A exclusão de mulheres em cargos políticos e posições de poder tem consequências nefastas. Isso não quer dizer que toda mulher tem uma agenda feminista. Esse não é o meu ponto, e qualquer brasileiro sabe muito bem que eleger uma mulher como a senadora Ana Amélia Lemos (PP) representa poucos ganhos para as mulherel. Do mesmo modo, ter negros como o atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, em posição de poder não significa compromisso com a luta antirrascista. O problema é muito mais complexo que incluir uma ou outra pessoa, seja mulher, indígena, ou negra, para realmente ter um compromisso com desmantelar uma sociedade injusta, patriarcal, homofóbica e racista. A ausência de mulheres, particularmente de mulheres negras, nos eventos online é algo preocupante e que deveria causar, no mínimo, vergonha. O argumento da preocupação com a inclusão regional não pode servir como desculpa para excluir vozes.
Não estou interessada em apontar dedos para indivíduos, mas chamar a atenção para o fato que intelectuais constantemente silenciam vozes. Perdemos a oportunidade de expandir o nosso conhecimento e interpretação quando organizamos somente com homens brancos. Criticamos a Rede Globo quando organiza uma discussão sobre racismo com seis jornalistas brancos, em um país onde 54% da população é negra, mas organizamos lives somente com homens brancos. Esse não é um problema exclusivo do Brasil, como as feministas Fouzia Tua Alhassan e Safla Musah denunciaram sobre os programas de entrevistas em Gana dominado por especialistas homens.
Eventos e discussões que excluem mulheres, indígenas e negros sempre aconteceram. A questão é que eles agora são visíveis para um público maior, o que é ainda mais preocupante. As organizações acadêmicas, sejam nos Estados Unidos ou no Brasil, reproduzem a desigualdade racial, de gênero e regional dos países e de seus membros e acham natural, em nome de maior representatividade regional ou temática, organizar eventos onde somente professores homens participem.
O debate “Revistas em Debates: co-autoria na pesquisa de história,” um dos vários eventos organizado pela ANPUH (associação nacional de professores de história) contou com quatro professores universitários, todos homens. Reuniu editores de várias revistas especializadas, o que evidencia que são os homens que decidem quem publica e onde se publica, um problema que não é exclusivo do mundo acadêmico brasileiro. Outro evento, sobre como a escravidão influenciou o mundo do trabalho no passado e no presente, também excluíu mulheres.
Entrevistas com dois homens são comuns e eu nem vou entrar no mérito da escolha entre entrevistado e entrevistador, mas é importante notar a ausência feminina. O colóquio virtual “História das Américas – das conquistas às independências,” reuniu dois manels. Talvez seja o reflexo de uma comissão organizadora de seis pessoas que só incluiu uma mulher.
O problema afeta outras organizações. A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, por exemplo, organizou um evento, “Decadência, Atraso e Modernidade na História de Goiás: uma desconstrução,” com quatro homens.
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também organizou vários manels, como a mini reunião “A Situação da CT&I no Brasil,” com seis painelistas, inclusive com a o deputado federal Alessandro Molon (PSB), ou “Rumos futuros da epidemia,” que poderia incluir mais vozes além dos quatro homens brancos.
Não podemos fingir que esses eventos são exceções e devemos reconhecer que eles são a realidade nas universidades brasileiras, onde o corpo docente é majoritariamente branco e masculino. Como resultado da exclusão, A Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros organizou uma jornada de história das mulheres negras para mostrar que intelectuais negras existem.
A ausência feminina dos eventos online não é um “problema de mulher.” A falta de palestrantes negros não afeta só os pesquisadores negros. Afeta a todos nós que naturalizamos a produção acadêmica e os espaços de debate intelectual como essencialmente masculinos e brancos. A composição étnico-racial e de gênero destes eventos influencia como meninas e meninos são socializados e aspiram a carreiras. A representatividade (ou a falta dela) é algo que deveria preocupar qualquer cidadão que tenha um compromisso com a democracia e a inclusão social. Não dá para defender uma sociedade mais justa nas redes sociais ou nas ruas sem se perguntar como como perpetuamos exclusões. Perdemos todos como eventos sem mulheres e sem negros.
A exclusão feminina e/ou negra dos eventos onlines está alinhada com as políticas do governo atual, é retrograda e revela a falta de um compromisso sério com a inclusão. No Brasil, e nos EUA, não devemos aceitar como normal departamentos de história sem historiadores negros. Não podemos continuar acreditando que ter uma professora negra na UNICAMP, uma na UNB, uma na UFRJ e na UFMG, para citar alguns casos, está bom demais, afinal já temos tantos colegas (brancos) que ensinam sobre história da África ou história afro-brasileira e são aliados no debate sobre racismo. Precisamos urgentemente de mais intelectuais negras em cada departamento, ensinando não só história da África ou da escravidão no Brasil, mas Brasil República, América Latina, história da Europa, Ásia, teoria e metodologia etc. O corpo docente das universidades brasileiras deveria refletir a população brasileira.
A American Historical Association, a organização nacional dos historiadores nos Estados Unidos, usa a falta de diversidade de gênero como motivo para rejeitar paineis somente com homens. O requisito resultou em historiadores (homens) queixando-se em cartas e sites que as medidas são autoritárias e pouco flexíveis, mas o fato é que o número de propostas de manels diminuiu drasticamente desde 1986. Um dos argumentos para justifcar os paineis onde somente homens figuram é a ausência de historiadoras em alguns campos ou ainda a prevalência de vários paineis sobre gênero que só têm mulheres e que, portanto, também não prezam pela diversidade. Esse argumento é velho e permite empurrar o assunto com a barriga e deixar as coisas como estão.
Precisamos repensar quem citamos, quem lemos, quem escolhemos como autores nos cursos que ensinamos, quem convidamos para eventos e quem orientamos. Quantos textos de autoria de historiadorxs negrxs estão nos planos de cursos das disciplinas de história nas universidades? Qual a diversidade de gênero dos autores que são lidos nos cursos de graduação? Se o leitor é incapaz de lembrar o nome de especialista negro em determinado assunto ou acha que não existe (argumento muito utilizado também), procure. Aposto que tem uma pessoa que já escreveu sobre o assunto, que tenha passado desapercebido por não ser seu amigo, colega ou conhecido. Um bom lugar para começar a se informar é seguir a rede de historiadorxs negrxs. Assim, da próxima vez que organizar um evento, pode incluir mais vozes de especialistas negras em temas diversos, como teatro de revista carioca, cinema e representatividade, história dos povos indígenas, benzedeiras quilombolas, acesso à terra entre outros. Nos Estados Unidos, o movimento Cite Black Women, tem presença nas redes sociais e chama a atenção que intelectuais negras tendem a não ter seus trabalhos citados e reconhecidos por seus pares.
Os eventos online são uma oportunidade excelente para incluir mais vozes e democratizar o trabalho dos historiadores, principalmente em um momento em que a universidade pública está sob ataque do atual governo. Portanto, deveríamos ser mais cuidadosos, como somos com a nossa pesquisa e o nosso ensino, sobre quem convidamos para os eventos online. A inclusão de intelectuais negrxs deveria ser prioridade para mostrar que, realmente, as vidas negras importam. Talvez a exclusão não seja intencional, mas introjetada de tal modo que quem participa desse sistema de exclusão não percebe que, ao fazê-lo, colabora para perpetuar a exclusão feminina. O mesmo posso dizer dos eventos monocromáticos que perpetuam uma estrutura racista que exclui vozes negras.
Todo pesquisador quer que o evento que organizou tenha destaque nas redes sociais. Ao incluir mais nomes e vozes, os comentários serão sobre a qualidade dos palestrantes ou a temática e não sobre a homogeineidade dos oradores.