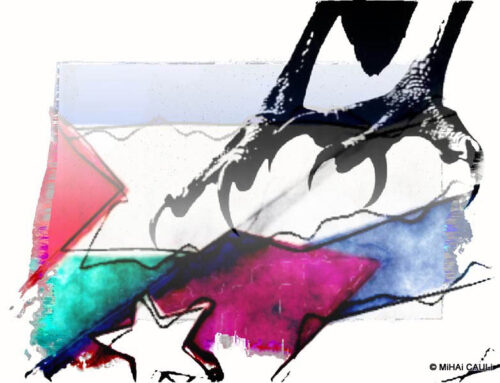A inviabilização da administração pública: a quem interessa?
Uma história kafquiana: a punição da eficiência
No final de novembro de 2005, o Secretário de Fazenda de um pequeno município da Baixada Fluminense, adentrou, exultante, na sala do prefeito:
– Prefeito! a campanha de aumento da arrecadação foi um sucesso; nos últimos meses a arrecadação subiu 20% acima do previsto.
– Que ótimo! Disse o prefeito.
– Que nada, disse o secretário de Planejamento, isto pode ser um desastre.
– Como assim?
– Simples. Pela Constituição o município tem a obrigação de gastar um valor mínimo com saúde e educação. Este valor é calculado sobre o total da arrecadação do município em determinado ano; se a receita crescer como meu colega está dizendo, nós teremos que gastar com saúde e educação, até o final do ano, muito mais do que estava previsto. Ocorre que, com os entraves da Lei de Licitações é praticamente impossível gastar esta diferença até o final do ano. E, se não conseguirmos cumprir o gasto mínimo, suas contas não serão aceitas, o município terá bloqueado qualquer repasse de verbas federais ou estaduais e o senhor estará sujeito à cassação!
Ou seja, ao ser eficiente (obtendo mais recursos), o gestor acionou o gatilho que impunha a ele gastar mais num período de tempo em que isso (ao menos com respeito à lei de licitações) seria praticamente impossível.
A cena acima é real e revela o tamanho da incoerência da legislação brasileira. Para atingir o objetivo louvável de garantir mais saúde e educação, a legislação cria uma situação na qual a eficiência (aumento da arrecadação que poderia gerar mais recursos para saúde e educação no ano seguinte) é severamente “punida” pois ou o gestor vai (i) correr para cumprir o gasto mínimo obrigatório com um “gasto” ruim ou desnecessário (pintar escolas que talvez não necessitem de pintura apenas porque contratar um pintura pode ser mais rápido do que outros serviços) ou (ii) não vai conseguir gastar o mínimo e será punido pessoalmente por isso.
Mas, dirá o leitor, este é um exemplo extremo, mas certamente raro.
Infelizmente não. A legislação brasileira tem um elevado grau de incoerência que tem (junto com outros fatores) levado a um grau de ineficácia da atuação estatal que é extremamente prejudicial à população.
Um pouco de incoerência faz parte. No entanto…
Composto por normas com origens, forças normativas e objetos distintos, o sistema jurídico carrega necessariamente (ao menos antes de ser “aplicado”) um grande volume de incoerências ou de contradições, ou, mais especificamente, de normas impondo ou proibindo comportamentos contraditórios; uma Lei “X” mandando fazer “A” enquanto outra Lei “Y” proíbe (ou, o que é mais comum, torna extremamente difícil) fazer “A”.
Até um determinado grau a incoerência faz parte do sistema jurídico de qualquer país, e encontrar solução para ela é uma tarefa corriqueira da área jurídica.
Mas o grau de incoerência ou, sob outro ângulo, a incapacidade de obter um mínimo de coerência no direito público brasileiro tem gerado situações de paralisia dos entes públicos.
Esta paralisia é, em boa medida, o resultado do conjunto de leis que rege a atuação da administração pública. Cada uma delas é redigida com um objeto delimitado: a higidez fiscal, a lisura das compras governamentais e das eleições, a proteção dos deficientes, etc. Os comandos destas leis, quando examinados isoladamente, podem ser revestidos de alguma coerência (às vezes nem isso). No entanto, quando analisados ao lado de outras leis geram situações de incoerência esquizofrênica.
O problema é que nunca, ou quase nunca essas normas são analisadas em conjunto. Em geral, o intérprete da lei eleitoral vê a norma eleitoral sob a ótica exclusivamente … eleitoral; o intérprete da lei de responsabilidade fiscal examina a LRF sob o pano de fundo da necessidade de proteger a … responsabilidade fiscal. Parece óbvio que assim seja certo? Em termos, pois essas leis (e várias outras) trazem normas que tratam, ou seja, que afetam, temas completamente distintos.
Três tipos de conflitos nos preocupam:
- (i) o conflito entre normas constitucionais e o restante da legislação;
- (ii) o conflito entre normas jurídicas instrumentais à atuação da administração e normas jurídicas finalísticas
- (iii) o conflito entre normas jurídicas finalísticas.
Por normas jurídicas instrumentais estamos denominando aquelas que estabelecem os meios (por exemplo a licitação) ou os requisitos (prudência financeira) a serem obrigatoriamente observados na atuação estatal mas que não constituem – ou não deveriam constituir – um objetivo estatal. Com efeito, o Estado não “licita” por “licitar” ele licita a construção de um hospital para cumprir o seu dever de garantir saúde a toda a população. As normas finalísticas são aquelas que estabelecem os objetivos ou responsabilidades do Estado, ou seja, aquilo que justifica a sua existência: prover saúde, educação, segurança, etc.
O Direito Constitucional ou: eu mando fazer e você “dê seu jeito”
É o direito constitucional – ou as normas constitucionais tais como vem sendo interpretadas por seus operadores – que impõe uma série de tarefas para a administração pública. Tais tarefas incluem: “construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Também vale menção ao rol de direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, que inclui educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e assistência aos desamparados. Trata-se de programa que não faria feio em nenhum congresso de sociais-democratas ou de socialistas europeus. Mas na Europa tais direitos foram garantidos muito mais na luta política do que nos tribunais. No Brasil é diferente.
Com efeito, segundo o direito constitucional brasileiro, qualquer pessoa pode, diretamente ou por meio dos diversos órgãos públicos legitimados, pleitear judicialmente quase (quase?) qualquer providência necessária à fruição de qualquer direito previsto na constituição (seja ele individual, social, difuso, ou da geração que for), sem importar o seu custo ou eventual impacto sistêmico. Apresentado o pleito qualquer Juiz pode ordenar ao Estado que tome tais providências em qualquer prazo e sem mesmo ouvir o Estado antes. Ou seja, do peculiar ponto de vista do direito constitucional brasileiro tudo já foi resolvido pela própria Constituição, basta cumpri-la.
Pois bem, não é o caso de retomar aqui as críticas que fizemos e mantemos à forma como o direito constitucional é interpretado pela maioria da doutrina e jurisprudência no Brasil. Ressaltamos que nossa oposição não é quanto à existência e extensão dos direitos sociais e sim quanto à forma como estes direitos têm sido interpretados no Brasil, como se tudo já estivesse solucionado aguardando “apenas” uma decisão judicial (não resistimos a lembrar que, se fosse fácil, bastaria uma decisão judicial determinando a extinção da pobreza e/ou a instauração do pleno emprego em 180 dias!).
Mas o essencial é registrar um fato: o direito constitucional impõe ao Estado um enorme volume das mais diversas, caras e complexas tarefas. Por exemplo, para prover educação, o Estado tem que contratar (e pagar) professores e construir escolas; para contratar professores ele tem que criar os respectivos cargos e fazer o respectivo concurso; para construir escolas ele tem que adquirir terrenos; licitar a construção da escola e contratar as prestações de serviço e o fornecimento de materiais necessários ao seu funcionamento (o que implica em distintos editais de licitação). Para ambas as tarefas (construir escolas e contratar professores) o Estado evidentemente deve dispor dos respectivos recursos financeiros.
O mesmo ocorre para prover saúde: também é necessário contratar profissionais, construir unidades de saúde e contratar os serviços e fornecimentos necessários. A diferença é que a complexidade na saúde é multiplicada pelos milhares de produtos, por exemplo medicamentos, a serem adquiridos, e muitos mais serviços a serem contratados.
Fazer tudo isso (fazer editais, contratar serviços, etc.) constitui o “dia a dia” da administração. Um “dia a dia” tão fundamental quanto pouco glamoroso. Um “dia a dia” que exige muito mais um conhecimento gerencial do que um conhecimento jurídico. Mas o direito estará presente, … para atrapalhar.
É que para “fazer tudo isso”, será necessário observar uma série de outras leis, que quase sempre colocam tantas dificuldades que, especialmente quando somadas, inviabilizam que se faça aquilo que o direito constitucional determina que seja feito. Esta é a primeira e mais importante incoerência do direito brasileiro, que consiste no seguinte: aquilo que o direito constitucional determina que se faça à montante do leito onde “corre” o direito público, é praticamente inviabilizado pelas demais normas de direito público que atuam à jusante da mesma corrente.
Já vimos o exemplo do gasto mínimo com educação. Vejamos agora o exemplo da lei eleitoral.
Para garantir a higidez das eleições … “Dane-se o resto”
A denominada “Lei Eleitoral” (Lei 9.504), foi sancionada em 1997 em grande medida como uma espécie de reação à emenda constitucional que permitiu a reeleição do presidente da república (e também dos governadores e prefeitos). Tal lei traz uma série de normas com o objetivo de minorar os possíveis problemas causados pela possibilidade de reeleição, decorrentes da possibilidade de uso dos recursos públicos pelo candidato à reeleição de forma a favorecer suas chances no pleito. Ou seja, tal lei tem o – indiscutivelmente nobre – objetivo de garantir a lisura das eleições.
Assim, por exemplo, seu artigo 75 estabelece que “nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos”. Que mal este dispositivo causa à população ou ao funcionamento da administração pública? Nenhum. Aqui – e em outros dispositivos – a lei acerta seu alvo … sem danos colaterais.
No entanto, além de tratar temas de direito eleitoral, a Lei Eleitoral trata de dezenas de condutas da própria administração pública (e não dos candidatos), ou seja, da União, dos estados e dos municípios, proibindo, por vezes durante todo o ano eleitoral, diversas ações administrativas essenciais para a prestação de serviços públicos, inclusive de saúde e assistência social.
Por exemplo, a lei estabelece que “No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior …”.
Note-se bem, o dispositivo na prática proíbe qualquer política de transferência de renda (por exemplo do tipo “bolsa família”) ou mesmo de entrega de bens materiais (cesta básica, leite, uniforme escolar) que se inicie em “ano em que se realizar eleição”, o que significa o quarto ano do mandato (de prefeitos, governadores e do presidente)!
Dirão os defensores da norma: políticas sociais podem ser usadas para favorecer um candidato! É verdade, tudo indica que o atual (des)mandatário está tentando criar mil tipos de vales para aumentar suas chances no pleito. Mas queremos chamar a atenção para o efeito colateral criado pela lei. Para evitar o eventual mau uso da distribuição de benefícios tão necessários à parcela miserável da população, proíbe-se simplesmente a distribuição.
Mas há outra “pegadinha” na lei. O que é ano eleitoral? No Brasil ano sim ano não é um ano eleitoral. Particularmente acreditamos que a restrição da Lei Eleitoral se aplica apenas aos entes da federação cujos agentes políticos serão eleitos naquele ano (municípios, em dado ano, estados e União dois anos depois). Mas esta posição está longe de ser pacífica, havendo quem interprete a proibição como sendo aplicável a todos os entes em todos os anos eleitorais. Com isso, a proibição em questão (novas políticas sociais) se aplicaria no 2º e no 4º ano do mandato!
Mas há outro exemplo na Lei Eleitoral igualmente grave. Segundo o artigo 73, VI, também é proibido “nos três meses que antecedem o pleito” “realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios”.
Qual a justificativa (igualmente nobre) aqui? Evitar o uso de apoios cruzados, com o governador, por exemplo, passando verbas a tal município apenas para favorecer seu candidato a reeleição. Para compreender o efeito do dispositivo é preciso lembrar que os estados e municípios brasileiros dependem, em enorme medida, de repasses (transferências voluntárias) federais (e estaduais no caso dos municípios) como condição para a execução das ações mais básicas em políticas públicas. Muito bem, e qual o efeito do dispositivo?
Em primeiro lugar, o dispositivo causa uma espécie de “corrida maluca” a partir de todo 2º trimestre de um ano eleitoral (ou seja … ano sim ano não), a fim de agilizar repasses de recursos eventualmente pendentes e o início das respectivas obras (início que a jurisprudência só considera efetuado após a 1ª medição) antes do referido prazo. Em segundo lugar, a obra que for desclassificada na “corrida” estará condenada a ficar suspensa até … pelo menos o início do ano seguinte.
Ou seja, a pretexto de garantir a lisura do pleito (e ignorando o prejuízo com as obras quase iniciadas), o legislador eleitoral “suspende” qualquer ação governamental que envolva o binômio “obra” (+) “custeada com recursos de transferência voluntária” por mais de um semestre por ano eleitoral (que, somadas as eleições em anos alternados, resulta em um período de suspensão de um em cada quatro anos)!
Demonstradas estas duas hipóteses de incoerência entre normas instrumentais e as diversas obrigações materiais da administração pública vejamos o outro problema: o conflito entre normas com objetivos distintos.
Antes, no entanto, dois registros. Nos limitamos aos exemplos acima por questões de espaço e por considerá-los especialmente absurdos. Mas existem dezenas de outros exemplos parecidos. Alguns na mesma Lei Eleitoral, outros na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Consórcios, na Lei de Saneamento Básicos, na Lei de Licitações (recentemente alterada) etc.
Além disso, há outra enorme incoerência no direito público brasileiro caracterizada pela abissal diferença no desenho institucional das instituições e carreiras que, por um lado, tem funções instrumentais e em especial de fiscalização, e, de outro lado, aquelas instituições e carreiras que tem por missão a entrega de prestações que compõem os grandes objetivos do Estado (saúde, educação etc.).
Com efeito, as primeiras têm orçamentos garantidos, duodécimos, excelente remuneração, tudo para garantir que as segundas – que não tem nada disso – façam o que talvez fizessem melhor se tivessem uma pequena parcela dos recursos que as instituições de fiscalização possuem. Com efeito, sem exagero, podemos afirmar que a maioria dos tribunais de contas e ministérios públicos brasileiros conta com mais (e melhor remunerados) especialistas ou assessores em finanças públicas, meio ambiente e educação, por exemplo, do que as secretarias de fazenda, de meio ambiente e de educação da maioria absoluta dos municípios e mesmo de boa parte dos estados que irão fiscalizar.
Tudo é prioridade, nada é prioritário, ponha-se a culpa em alguém
Embora por vezes antagônicos, os discursos jurídico e o político costumam compartilhar do mesmo defeito na apreciação isolada de questões relacionadas à atuação estatal. É que – quando vista isoladamente – é extremamente tentador maximizar a importância de uma área, seja ela educação, saúde, segurança pública, proteção à criança, etc. Todas essas áreas – não sem boas razões – são facilmente adjetivadas de essenciais, prioritárias, importantíssimas, indisponíveis, etc.
Dependendo da articulação política das pessoas dedicadas à defesa dessas áreas, cada uma delas terá várias (ou todas) das seguintes características:
- (i) dispor de algum dispositivo constitucional suficiente a explicitar sua importância;
- (ii) dispor de uma lei própria tratando das obrigações do estado quanto àquela área (em geral enunciados de forma vaga, com recursos a frases como “são objetivos e diretrizes do estado quanto a tal setor …”);
- (iii) dispor de todo um ramo do direito para cuidar dela;
- (iv) dispor de normas punindo o gestor pelo não cumprimento de obrigações da área (de preferência um “crime”);
- (v) dispor de alguma fonte “carimbada” de recursos para financiá-la;
- (vi) dispor de um órgão do estado destinado a cuidar apenas ou prioritariamente dela;
- (vii) dispor de um setor de órgão de fiscalização e do Judiciário destinado exclusivamente a ela.
Ocorre que cabe ao Executivo tomar decisões que – em alguma medida – atendam a todas estas áreas, na medida da importância intrínseca e/ou temporária (medidas de saúde no meio de uma pandemia) de cada uma e na medida das possibilidades financeiras e operacionais do Estado. Não é por outra razão que já dissemos que o que se espera do agente político no Brasil é apenas que seja “capaz de entregar a quadratura do círculo”, nada mais do que isso.
E então? O que toda essa incoerência gera?
Várias coisas. Ineficiência, frustração e uma oportunidade de chamar o judiciário para arbitrar decisões que deveriam ficar no campo legítimo da política. Essa última consequência – ao imputar toda a responsabilidade ao mau gestor –, parte do pressuposto de que o sistema (e o direito que o regula), é excelente, o único problema é o gestor. Com isso, sempre teremos uma esperança renovada de que o próximo gestor – por vezes um “outsider” com discurso “antipolítica” – irá resolver os problemas (que só não foram resolvidos pela desonestidade do anterior!). O pior – e que ajuda a legitimar este expediente – é que por vezes o gestor é, de fato, corrupto, e deve ser responsabilizado.
No entanto, o que queremos salientar é que o mais honesto e capaz dos seres humanos terá extraordinária dificuldade de “entregar” com qualidade parte expressiva do que a população merece se não nos dermos conta dos absurdos de nossa legislação.
Num mundo cada vez mais complexo, interligado e “arriscado”, onde as grandes narrativas – religiosas ou seculares – perdem força, cada vez mais o direito é chamado a “responder” aos mais diversos (e novos) problemas como se existisse solução jurídica para tudo.
Ora, é claro que a população deve poder fruir plenamente de saúde, educação, cultura, meio ambiente, etc., mas apostar que a única ou mesmo a melhor forma de garantir tudo isso é uma legislação incoerente (e não a mobilização, a participação e a luta política), nos parece um equívoco.
Em certa medida a incoerência é inerente à democracia. Cada lei é resultado da necessidade de adotar ou alterar normas sobre determinado aspecto da vida e é em torno dos interesses em jogo sobre cada tema que serão organizados os debates. Não se espera que especialistas em direito penal sejam chamados ao debate sobre um projeto de lei a respeito de educação, nem que especialistas em direito ambiental sejam chamados a colaborar na confecção de uma lei sobre contratos.
Mas as vedações trazidas por leis instrumentais, embora tenham por objeto bens jurídicos importantes – a higidez das finanças públicas e a lisura do pleito, por exemplo – não podem ser interpretadas de forma a levar à interrupção (ou mesmo ao adiamento por um semestre) da prestação dos serviços públicos de caráter essencial.
Não sei se alcancei o objetivo de demonstrar as incoerências do direito público brasileiro e a necessidade de uma reforma. Mas devo registrar que ele decorre de uma profunda convicção acerca do papel indispensável do Estado na superação das imensas desigualdades sociais brasileiras e de uma idêntica convicção de que o direito público brasileiro deve resolver suas esquizofrenias sob pena de inviabilizar o Estado (obviamente existem aqueles que perseguem exatamente este objetivo).
A manutenção dessa incoerência só serve para aumentar a frustração com a capacidade do Estado brasileiro de atender a seu povo numa democracia, uma frustração que serve de terreno fértil onde florescem movimentos de repúdio à política e de flerte explícito com o autoritarismo, com as consequências que estamos vendo à nossa frente.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Clique aqui para ler artigos do autor.