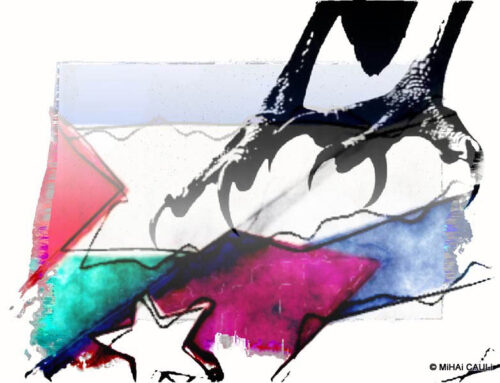Por que nossa geração pôde ter acesso a um infindável número de imagens (em filmes e fotografias) da Guerra do Vietnã? Por que os comandantes militares dos EUA e seus chefes políticos permitiram a presença de tantos quantos fossem os fotógrafos, cinegrafistas, repórteres interessados em atuar lado a lado com os soldados na linha de combate – não para matar, mas para registrar e levar aos olhos do mundo os horrores da guerra?
Quem sabe estivessem imbuídos da crença de que aquela guerra era uma emulação, numa escala menor, da II Grande Guerra, da qual saíram como paladinos do bem contra a bestialidade nazista. E que o papel que desempenharam lá atrás, elevado ao endeusamento pela propaganda antissoviética durante a guerra fria, era semelhante ao que estavam representando no Vietnã. E que aos olhos do mundo continuariam por toda a eternidade sendo vistos como os cavaleiros do bem no enfrentamento contra o mal. E que, embora numa dimensão diminuta, Ho Chi Minh, já que comunista – posto que apoiado pela URSS – era, tanto quanto os nazistas, a própria reencarnação do mal.
Seja qual for a razão pela qual permitiram o registro ao vivo da guerra, o fato é que as imagens dos horrores nos campos de batalha nos telejornais da noite foram uma das razões para a sua derrota. Mas dizer dessa forma é deixar-se levar por uma descrição imprecisa. O que, sim, modificou os humores de uma parte importante, ainda que não majoritária, da opinião pública dos Estados Unidos foi testemunhar os corpos despedaçados dos seus semelhantes. Por semelhantes entenda-se exclusivamente os soldados brancos, negros, latinos, mas ao fim e ao cabo estadunidenses – em nenhum caso a referência é àqueles pequenos e magérrimos seres humanos que habitavam a Indochina e que resistiam à agressão como se fossem gigantes.
Agora, será que os atuais conterrâneos (eleitores e não-eleitores) de Donald Trump são assim tão diferentes daqueles que elegeram Kennedy, Lyndon Johnson ou Richard Nixon? Talvez por saberem que não é que, desde a derrota no Sudeste Asiático, os chefes de comunicação e os publicistas do Império foram gradativamente interditando, sempre que lhes interessava, a difusão de imagens das guerras nas quais se metiam e das invasões que levavam a cabo.
Como se sabe, as imagens de pobre apanhando da polícia só muito excepcionalmente têm o dom de comover a sensibilidade do cidadão de bem, ou de alcançar suas mui superficiais noções de decência. Inversamente, quando o que vê são as tripas explodidas daquele que é a sua figura refletida no espelho, aí, sim, deixa-se inundar pelas próprias lágrimas e vibra de indignação.
É sobre o solo fértil desse deserto de decência que frutifica a bravura guerreira dos militares do Império e seus chefes políticos.
Nem os exércitos, nem aqueles que determinam seus alvos são estúpidos – os grandes interesses que estão por trás de suas ações são um vigoroso estímulo pedagógico. Rapidamente aprendem com os eventuais excessos de liberalidade e passam a condicionar as doses naturais da arrogância imperial às relações de força do momento. Não é que a lição do Vietnã os tenha tornado menos truculentos, mas os fez menos liberais quanto ao direito do cidadão à livre informação. Por isso, o tempo do irrestrito acesso aos campos de batalha foi definitivamente enterrado.
Dito isso, logo vêm à memória as ainda frescas imagens da invasão da Faixa de Gaza pelas tropas israelenses. E, como se tivéssemos voltado ao passado, foram abundantes. É que não houve meios para impedir que a população ali concentrada fotografasse e filmasse, ela mesma, a brutal extensão do massacre?
Ou é que, ao contrário, havia por parte dos próprios invasores a intenção de mostrar? Mostrar a título de exemplo, mostrar para comprovar a invencível capacidade punitiva dos seus exércitos, mostrar para ameaçar, mostrar para inibir – e para humilhar.
Apesar da indignada reação de parte da opinião pública mundial contra o massacre dos palestinos – da qual são prova os processos judiciais contra Benjamin Netanyahu na Corte Internacional de Haia por genocídio – o primeiro-ministro israelense seguiu atuando sem inibição de qualquer natureza e exclusivamente a partir do seu próprio arbítrio, considerando o contexto político interno de Israel e mais nada. Além dos israelenses, a única opinião que eventualmente poderia conter a agressão era a dos dirigentes da União Europeia (muito pouco) e, naturalmente, a do comando do Império. E esses eram e sempre foram cúmplices da empreitada.
Mas não se pode condenar somente os comandantes da tropa. Também para os cidadãos de bem da Europa e dos Estados Unidos as imagens dos israelenses sendo fuzilados a sangue frio eram as únicas capazes de tocar sua sensibilidade – afinal, eram eles os que podiam ser considerados, por raízes e cultura, como seus semelhantes. Foi essa identidade quase que automática, e não o ato em si do qual foram vítimas, o que tornou intolerável a indizível brutalidade cometida pelos militantes do Hamas – da mesma forma como, lá atrás, havia se tornado intolerável para os americanos assistir aos seus soldados sangrando destripados nos campos de arroz ou nas selvas do Sudeste asiático.
Tanto antes quanto agora, tanto no Vietnã quanto em Gaza, pouco ou nada importa a desproporção entre o número de invasores mortos e a dos agredidos, fossem esses palestinos, fossem vietnamitas. Porque, para aqueles cidadãos de bem, com o outro lado não havia como se identificar. Era como se fossem incapazes de conceder aos agredidos a condição de seres humanos – não eram e não podiam ser seus semelhantes. Eram simplesmente aqueles que podiam ser apagados da imagem.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "Tarifas, dívida e declínio: o crepúsculo do império norte-americano", de Maria Luiza Falcão.