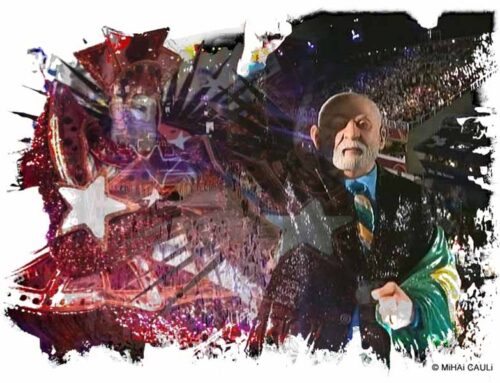A próxima Cúpula do G20, nos dias 22 e 23 de novembro em Johanesburgo, será histórica. Pela primeira vez, o encontro que reúne as maiores economias do planeta acontecerá em solo africano. A África do Sul, único país do continente membro permanente do grupo, assumiu a presidência com a bandeira de "Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade". O que está em jogo vai muito além da retórica: trata-se de recolocar a África no centro da governança global e de expor as fraturas de um sistema internacional em crise.
África protagonista e as marcas da exclusão histórica
Durante décadas, a África foi tratada como periferia, espaço de intervenção, exploração e discursos piedosos vindos do Norte. Hoje, essa lógica não se sustenta. A União Africana conquistou assento permanente no G20 em 2023 e, agora, em 2025, o continente assume protagonismo ao sediar a Cúpula.
O presidente da África do Sul é Cyril Ramaphosa, ex-sindicalista e hoje milionário. Na década de 1990, Nelson Mandela fez do jovem dirigente uma das figuras convocadas a negociar a transição política com o poder branco, por considerá-lo "um dos mais talentosos da nova geração". Hoje está em seu segundo mandato.
Mas o peso político de Ramaphosa fica ainda mais evidente quando contrastado com a forma como Donald Trump o tratou no passado. Em 2018, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o então presidente norte-americano não conteve o riso diante do sotaque de Ramaphosa, num gesto que escancarava o preconceito racista e desprezo pelas lideranças do Sul Global. Sete anos depois, já de volta à Casa Branca, Trump repetiu a encenação: em maio de 2025, recebeu o presidente sul-africano no Salão Oval e mandou projetar um vídeo alarmista sobre um suposto "genocídio branco" no país. A cena, descrita pela imprensa sul-africana como uma "emboscada diplomática", foi respondida com serenidade por Ramaphosa, que reafirmou que a violência atinge diversas comunidades e que a África do Sul não aceitará caricaturas racistas vindas de Washington.
O contraste entre a arrogância performática de Trump e a resiliência de Ramaphosa ajuda a explicar o simbolismo de Johanesburgo: pela primeira vez, é a África quem define a agenda e quem chama os outros a ouvir.
Quem é quem na Cúpula
É neste ambiente que os líderes devem chegar a Johanesburgo em novembro. Donald Trump com certeza desembarcará como um elefante em loja de cristal – hostil à ONU, à Organização Mundial do Comércio (OMC) e a qualquer tentativa de cooperação multilateral. Seu discurso de "America First ou Make America Great Again (MAGA)" é incompatível com a ideia de solidariedade anunciada pela presidência sul-africana e deve se traduzir em ameaças, divisões e bloqueios especialmente em torno de compromissos climáticos.
Xi Jinping, por sua vez, seguramente apresentará a Iniciativa de Governança Global (GGI, na sigla em inglês), anunciada em Tianjin, como alternativa a uma ordem internacional em colapso. Ao defender "soberania, respeito ao direito internacional, multilateralismo genuíno e ações concretas para o bem comum", o líder chinês buscará afirmar-se como parceiro confiável do Sul Global.
E Luiz Inácio Lula da Silva? Ao chegar a Johanesburgo, Lula não levará apenas a experiência amazônica da COP30. Ele pode também dialogar com a realidade africana, marcada por florestas tropicais como a do Congo, o segundo maior pulmão verde do planeta, habitado por comunidades tradicionais e povos originários que, assim como os indígenas brasileiros, enfrentam ameaças de desmatamento, mineração predatória e violência. Ao colocar lado a lado Amazônia e Congo, povos indígenas e comunidades locais, o Brasil e a África evidenciarão que a luta por justiça climática não é abstrata: ela se enraíza em territórios concretos, habitados por populações que preservam a biodiversidade há séculos e que agora exigem voz e respeito nos fóruns globais.
O presidente brasileiro vem insistindo que "a transição ecológica precisa ser justa, levando em conta as desigualdades históricas entre Norte e Sul e respeitando a soberania de países como o Brasil e as nações africanas". Johanesburgo pode ser o palco para consolidar a ponte entre Amazônia e biomas africanos, conectando lutas comuns em torno de biodiversidade, água, energia e desenvolvimento.
Narendra Modi também chegará à cúpula do G20 pressionado, em rota de colisão com Washington. A Índia foi alvo do tarifaço de Trump e, ao mesmo tempo, se recusa a cortar laços energéticos com a Rússia, o que gera atrito direto. Modi deve equilibrar sua posição entre afirmar soberania e não romper completamente com o Ocidente.
Vladimir Putin dificilmente comparecerá a Johanesburgo devido ao mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, mas isso não significa isolamento. Ao contrário: esteve esse ano em Anchorage ao lado de Donald Trump e em Pequim com Xi Jinping e Narendra Modi, reafirmando sua centralidade no eixo euroasiático. A Rússia continua presente, sobretudo no BRICS+, como ator militar e energético incontornável. Sua ausência física na África do Sul não elimina a influência que projeta sobre os debates globais. A encruzilhada, portanto, não é de uma Rússia marginalizada, mas de um Ocidente que já não consegue ditar sozinho os rumos da política internacional.
A União Europeia, dividida entre a submissão a Washington e a tentativa de manter canais com o Sul Global, terá em Johanesburgo provavelmente mais uma prova de sua fragilidade política: Alemanha e França tendem a defender reformas moderadas, enquanto países como Polônia e os bálticos seguem alinhados à Casa Branca.
Conflitos inevitáveis
As linhas de tensão estão bem desenhadas. Trump contra África do Sul, China e Índia; Europa dividida, enfraquecida e hesitante; Ramaphosa tentando transformar o encontro em afirmação de solidariedade; e, acima de tudo, um continente africano que se levanta contra o sistema financeiro internacional e exige rever as regras que perpetuam dívidas impagáveis e bloqueiam investimentos em saúde, energia e infraestrutura.
É quase inevitável que Johanesburgo se converta em palco de choques, e não de consensos.
O impasse do multilateralismo
O G20 nasceu em 1999 para lidar com crises financeiras e, em 2008, conseguiu evitar o colapso após a falência do Lehman Brothers. Hoje, porém, corre o risco de se reduzir a um espaço de discursos paralelos.
A presidência sul-africana, pelo que se tem auscultado, tentará reposicionar o grupo, aproximando-o das necessidades dos povos, não apenas dos mercados. Mas como fazer isso diante de um Trump beligerante, de uma Europa indecisa e de uma Rússia que, mesmo fortalecida em arranjos alternativos com China e Índia, permanece em choque com o Ocidente? Essa é a encruzilhada: ou o G20 se reinventa, ou perde protagonismo.
A hora da África
Johanesburgo não resolverá todas as crises, mas pode marcar um ponto de virada simbólico: o reconhecimento de que a África não é mais periferia, mas ator central do século XXI. Um continente que cobra reparações históricas, reivindica voz plena e se coloca como espaço estratégico da transição energética.
Esse protagonismo traz à tona a memória da escravidão, talvez a maior e mais cruel diáspora forçada da história moderna. Não foi apenas o Brasil que ergueu sua economia sobre a exploração de milhões de africanos. Os Estados Unidos, o Caribe, grande parte da América Latina e até nações europeias do próprio G20 também se beneficiaram dessa engrenagem de violência. Essa herança comum deixou marcas de desigualdade e racismo estrutural que atravessam continentes. Recolocar a África no centro da governança global é um chamado a encarar essa história compartilhada e discutir formas de reparação moral, política e econômica.
Nesse contexto, a presença de Lula em Johanesburgo ganha força adicional. Poucos dias após a COP30, em Belém, ele chegará levando o eco das demandas amazônicas por justiça climática, mas também a consciência de que Amazônia e Congo, indígenas e comunidades tradicionais de ambos os lados do Atlântico, enfrentam desafios semelhantes. Essa convergência pode injetar sentido político real num fórum ameaçado pela irrelevância, transformando o G20 em espaço de memória, reparação e futuro compartilhado.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "Admirável mundo próspero", de Halley Margon.