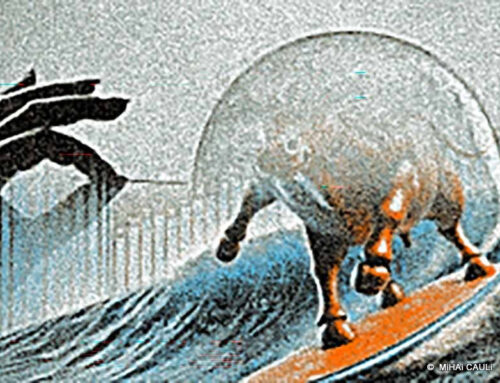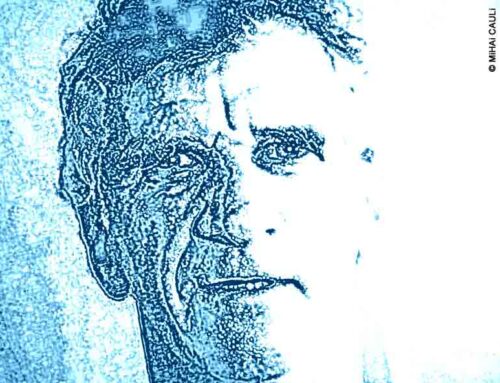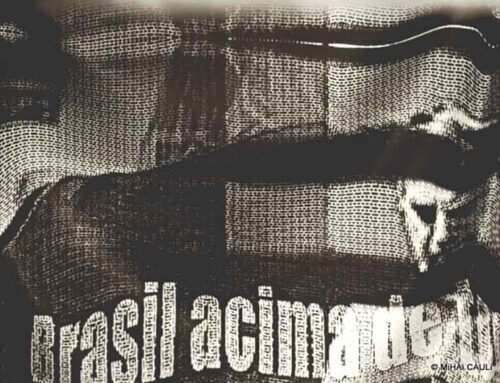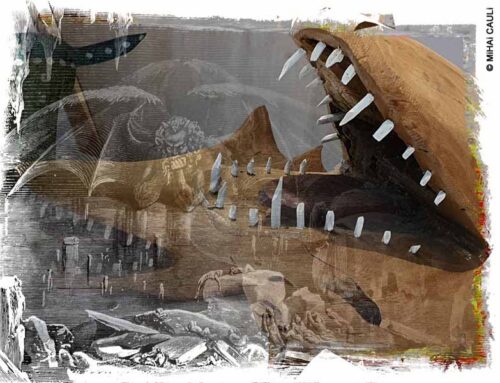O Banco Central brasileiro tenta administrar a primeira crise de seu curto período de independência. Na primeira reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, da nova instituição agora independente, reverteu um processo de queda da taxa SELIC iniciado em outubro de 2016 (quando a taxa baixou de 14,25% para 14%) e que seguiu sem interrupções até março desse ano (quando a taxa subiu de 2% para 2,75%). E isso em meio a uma poderosa crise econômica, na sequência de um ano em que a economia brasileira recuou mais de 4%. Portanto, não há demanda a ser contida pela elevação da taxa de juros nesse momento.
Entretanto, o Copom justificou que não tinha o que fazer dentro do programa de metas de inflação vigente desde 1999. A meta de inflação definida para 2021 é de 3,75%, com bandas de variação de 1,5 pontos percentuais, representando uma variação possível dentro do intervalo entre 2,25% e 5,25%. Para o ano de 2021, as projeções do IPCA, índice de inflação usado como referência ameaçavam superar o teto da meta de inflação. Assim, embora não tenha nada que ver com aumento de demanda, resta ao Copom subir a taxa de juros – a outra solução seria abandonar o instrumento “regime de metas de inflação”, mas isso nosso independente Banco Central não tem independência para fazer.
Os principais responsáveis pela inflação brasileira nesse momento são os preços dos produtos que se referenciam no mercado internacional. Isso envolve uma gama enorme de bens manufaturados importados, o que é consequência do longo processo de liberalização comercial da economia brasileira, que vem desde os anos 1990. Mas também dos produtos básicos de alimentação e outros, como soja e seus derivados, carnes, açúcar e álcool, petróleo e derivados, e muitos outros, que têm os seus preços “cotados” no mercado mundial, por serem bens exportáveis. Assim, seus produtores embutem nos preços internos os preços em dólar do mercado mundial, onde poderiam estar colocando os seus produtos.
Evidentemente, esses preços internacionais, ao se transformarem em preços internos, têm que ser convertidos pelo valor e variação dos preços internacionais, ou seja, do dólar estadunidense. E esse vem subindo sem dó, oscilando recentemente em cerca de R$ 5,70. Assim, a subida dos preços internos é explicada fundamentalmente pela variação do dólar.
A subida das taxas de juros internas, em outros momentos, poderia ajudar a baixar o valor do dólar, e por tabela, ajudar a baixar a inflação interna causada pelo câmbio, se isso servisse para atrair capitais externos. Nesse momento, três problemas contribuem fundamentalmente para que isso não aconteça.
Primeiro, a enorme aversão ao risco no mercado internacional, que vigora há algum tempo, e que faz com que exista uma tendência de saída de moeda estrangeira dos chamados “países emergentes”, o que inclui o Brasil, exatamente pela fragilidade das contas externas desses países.
Segundo, o desempenho pífio da economia brasileira desde 2015, com recessão, estagnação e nova recessão ainda maior no ano passado, e sem perspectivas de recuperação sustentável, dificultando assim a atração de investimentos internacionais.
Finalmente, um governo tresloucado, incapaz de passar confiança para qualquer investidor, mesmo em aspectos que pouco têm relação com características ideológicas de direita e esquerda, como a gestão da pandemia e a tragédia ambiental pela qual passa o país. Ou seja, para o investidor internacional, poucos atrativos, e enormes motivos para temores.
Assim, existem grandes dúvidas sobre a capacidade da política do Banco Central do Brasil em debelar o processo inflacionário recente através da gestão das taxas de juros. O próprio governo se movimenta em outros sentidos, por exemplo, quando se movimenta para interferir nos preços da energia e dos derivados de petróleo, em especial o diesel. O problema é que acaba passando ainda menos confiança aos investidores, por combinar um radical discurso liberal com uma intervenção prática no sistema de preços.
O fato é que vivemos um período curioso. Embora estejamos falando em patamares baixos de inflação, chega a ser irônico que dois dos principais elementos utilizados nos anos 1990 para baixar a inflação naquele período (aliás, não apenas no Brasil, mas por toda a América Latina, onde em pouco tempo a inflação que era um grande problema, deixou de ser problema), a liberalização comercial (e a entrada progressiva e crescente de produtos estrangeiros no país) e a liberalização financeira (com a entrada de capitais atraídos por altas taxas de juros e oportunidades oferecidas no país pelos processos de privatizações e concessões), agora funcione ao contrário, alavancando os preços internos e a inflação.
E, por outro lado, ficam todas as consequências nocivas desse processo de pouco menos de 20 anos, como a continuidade da desindustrialização e a vulnerabilidade do sistema cambial desregulado aos movimentos dos capitais internacionais que entram e saem.
***
Clique aqui para ler outros artigos do autor.