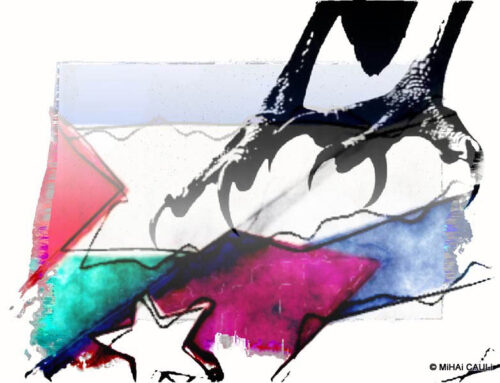A guerra nunca partiu, filho. As guerras são como as estações do ano: ficam suspensas, a amadurecer no ódio da gente miúda. (Mia Couto).
(i)
Costuma-se dizer que, nas guerras, a primeira vítima é a verdade. Na verdade – com o perdão da redundância –, esta é a segunda vítima da guerra: a primeira é, sempre, a razão. O conflito armado dá-se, primeiro, pela abolição de qualquer alternativa racional à decisão por sua adoção. Morre, pois, antes a razão, e depois a verdade – no sentido de que os contendores mentem, ou omitem, ou exageram, ou minimizam os fatos desastrosos que, necessariamente, acompanham ou resultam dos combates que travam.
Não se esqueça, porém, que antes, muito antes das vítimas abstratas das guerras, há os mortos e feridos concretos – pessoas, seres humanos reais, que perdem seu bem maior, a vida, ou sua saúde e integridade física e psíquica. E suas honras, suas pequenas liberdades, seus afetos básicos; sem falar nas coisas e valores essenciais à vida, seus trabalhos, suas casas e suas cidades. Morre, também, sempre, concretamente, pouco ou muito, a natureza, o ambiente – a água e o ar são poluídos, a terra é estuprada, asfixiada, torturada.
Por isso, o verso de Léon Gieco é tão preciso e doloroso, quando aponta que a guerra "…es um monstruo grande que pisa fuerte la pobre inocencia de la gente…".
(ii)
Há outra afirmação corrente, atribuída a diferentes autores, segundo a qual a guerra seria a substituição da política por outros meios. Parece, no entanto, ser justamente o contrário. Tanto lógica quanto historicamente, a guerra – isto é, a imposição do poder pela força bruta – precede a construção de consenso e coerção legítimos, pelas vias do convencimento e do acordo. Ou seja, a política e a diplomacia, que é sua versão nas relações externas entre Estados e Nações, substituíram ao longo da História a guerra, como forma de solução de conflitos de interesses.
Mas tal substituição, sabemos bem, é sempre difícil e precária, ao ponto de parecer provisória: numa visão cética, não haveria paz real e efetiva entre os homens – mas apenas armistícios e tréguas…
(iii)
Além de causar a morte e o infortúnio de suas vítimas diretas e indiretas – na maioria dos casos, senão sempre, entre a população civil; e de violar a razão e fulminar a verdade, as guerras produzem, também, a destruição do direito – como ideia e prática civilizatória.
O triunfo da "lei do mais forte" sobre a tentativa de fazer justiça baseada na razão atesta, ainda, em qualquer conflito armado entre países, ou dentro dos países, a falência do direito internacional, contingência decorrente, aliás, de sua impotência constitutiva. É que, ao contrário do que ocorre com o chamado "direito interno" – o ordenamento jurídico que, no âmbito territorial de cada Estado, e em relação aos seus habitantes, consagra o monopólio do uso legítimo da força – o denominado "direito das gentes", embora possua um corpo normativo de aparência jurídica – leis, tratados, convenções – é destituído do poder sancionador que lhe garanta efetividade. Ou, dito de outra forma, este conjunto de regras jurídicas internacionais serve, no plano duro da realidade, não mais do que como recomendações aos Estados-membros da comunidade internacional, que as seguem, negam ou interpretam de acordo com seus próprios interesses – sem que os órgãos supranacionais disponham de meios coercitivos capazes de tornar efetivos seus comandos e proibições. São, pois, regras sem sanção, sem poder coercitivo; e há quem por isso duvide, inclusive, de seu caráter propriamente jurídico – ao contrário do que se dá no nível interno de cada país.
Há ainda outro fator que contribui para a inocuidade das normas destinadas à prevenção e mediação de conflitos de interesse entre os países: a desigualdade formal – ou seja, "jurídica" – entre eles. É oportuno lembrar que a "isonomia" – isto é, a igualdade jurídica entre as pessoas – constitui o aspecto essencial da cidadania e, por isso mesmo, consiste em princípio vigente no direito de todos os países ditos civilizados. Sem ignorar as notórias diferenças, de ordem natural ou cultural, social ou econômica, entre os seres humanos – ao contrário, sempre atentando à sua diversidade – o preceito da igualdade jurídica entre eles significa que tais diferenças não podem importar em tratamento legal diferenciado – a não ser, é claro, para garantir os direitos decorrentes de suas peculiares condições pessoais ou situações de vulnerabilidade (crianças, adolescentes, idosos, enfermos, indígenas, e outros).
Cabe destacar, a propósito, que a abolição de status jurídicos diferenciados entre as pessoas é da essência mesma do conceito de cidadania: cidadão, cidadã, por excelência, são iguais entre si, em direitos e deveres.
Evidentemente, a atribuição de "igualdade perante a lei" (isonomia) não implica, ipso facto, o fim das desigualdades – que, infelizmente, ainda marcam e infelicitam a ampla maioria da população mundial. Mas a extinção de condições jurídicas diferenciais, estabelecendo privilégios e/ou desvantagens legais conforme a classe social, a origem étnica ou a religião, por exemplo, importa em um avanço civilizatório extraordinário, por influência do Iluminismo e como principal herança das grandes revoluções liberal-burguesas dos séculos XVII e XVIII, sobretudo da Revolução Francesa.
Pois, lamentavelmente, ao contrário do que acontece no plano do direito interno dos países contemporâneos – ou de boa parte deles, ao menos –, em nível internacional consagra-se a desigualdade "jurídica", isto é, formal, entre os membros da comunidade das Nações, reunida na sua principal organização, a ONU. Com efeito, nesta há países "mais iguais" que os demais: são eles os cinco membros permanentes de seu principal órgão, o Conselho de Segurança – a saber: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. A estes cinco Estados, tão somente, reserva-se o "direito de veto" às Resoluções da Organização, mesmo oriundas de sua Assembleia-Geral.
Assim, não bastasse a referida impotência conceitual do direito das gentes, esta consagração formal do poder incontrastável das principais potências do Planeta – derivada exclusivamente de seu poderio militar, econômico e político – a par de legitimar previamente sua condição de dominantes na órbita internacional, inviabiliza na prática a efetivação das regras enunciadas pela própria ONU, visando à prevenção e mediação dos conflitos. E disto, a recente retomada violenta do conflito israelense-palestino, é mais um eloquente exemplo.
(iv)
De fato, até o momento, tem-se mostrado baldados os ingentes esforços empreendidos pela ampla maioria dos integrantes da Organização – seja no Conselho de Segurança, sob a iniciativa brasileira, na sua presidência até o início de novembro; seja na Assembleia-Geral, sob a liderança incansável do Secretário-Geral, o português Antônio Guterres – no sentido de um cessar-fogo, ou ao menos, paralização parcial das hostilidades.
Com exceção de pequenos avanços obtidos, como a retirada parcial de civis, em geral estrangeiros, as medidas humanitárias propostas, mesmo as mais modestas, tais como instalação de corredores de saída de feridos, crianças e mulheres, esbarraram no exercício onipotente do direito de veto dos Estados Unidos – apoiador incondicional do governo de Israel, sob a alegação de que este tem o direito de se defender das agressões sofridas pelos ataques do Hamas no último dia 7 de outubro.
Mas, malgrado aqueles atos se revistam de caráter terrorista – segundo o conceito corrente, de recorrer à violência contra pessoas com a finalidade de infligir terror – tampouco se pode perder de vista que a reação excessiva e desproporcional desencadeada pelas forças militares israelenses, submetendo a indefesa população civil da Faixa de Gaza a intensos bombardeios e tiroteios, que acarretaram até o momento a morte de cerca de dez mil pessoas (!), configura-se, também inequivocamente, como criminosa. A este respeito, é interessante trazer a observação feita por Mauro Nadvorny, no dia seguinte aos atentados, de que o importante jornal Haaretz não teve dúvida em apontar o primeiro-ministro Netanyahu como o maior responsável por sua produção, na medida em que "… estabeleceu um governo de anexação e alienação…", colocando em cargos-chave lideranças da extrema direita religiosa e "… quando adotou uma política externa que negligenciou de forma arrogante a existência e os direitos dos palestinos…" ("Opinião do jornal Haaretz: Netanyahu é o responsável", em "A Voz da Esquerda Judaica, 08/10/2023).
Esta correta posição, ademais oriunda de fontes insuspeitas, foi também sustentada desde logo pelo respeitado periódico parisiense, "L'Humanité" que, em editorial de 12 de outubro passado, chamou a atenção para a situação humanitária insustentável de Gaza e Cisjordânia, como fruto da sabotagem pelas autoridades israelenses do processo de paz – causa direta do fortalecimento do Hamas, no vácuo da desmoralização da Autoridade Nacional Palestina. E, ao final, o Diretor Fabien Gay não deixou de anotar, com precisão: "… as potências ocidentais, ora mudas, ora cúmplices da política colonial israelense, não deixaram elas mesmas de incendiar o Oriente Médio por suas intervenções militares, propícias ao desenvolvimento do fundamentalismo religioso…" (em tradução livre).
Lamentavelmente, este componente de fanatismo religioso, que inspira as ações de grupos como o Hamas – e que tisna a justiça da causa que defende – também está presente na represália absurda levada adiante pelo atual governo de Israel, como foi muito bem destacado por Halley Margon, em recente artigo publicado por Terapia Política.
Efetivamente, com propriedade diz-se ali que: "… Não se trata apenas de exterminar o Hamas. Não é mais política. É de represália que se trata, de castigo e de vingança. De punição também contra a população de Gaza, porque na missão algo religiosa ou pelo menos mística na qual se veem investidos os que planejam e executam a reação contra o grupo terrorista, todos merecem e têm que ser castigados…" ("A Europa – de novo – se defronta com o massacre e se cala"; in Terapia Política, 24/10/2023, grifamos, itálicos do autor). Se alguma dúvida paira a respeito, basta lembrar as várias declarações prestadas por diferentes autoridades israelenses, não apenas ministros dos partidos fanáticos da direita religiosa, como até mesmo do próprio presidente do país, até então reputado como um político moderado, proclamando a responsabilidade de toda a população encarcerada em Gaza pelos atentados perpetrados.
O medonho panorama da chamada "maior prisão a céu aberto do mundo" pode ser mais bem compreendido à luz do conceito de terror, concebido na Filosofia Política como condição prévia e necessária a outra definição – a de terrorismo. Trata-se, o primeiro, "… do regime particular… ou instrumento de emergência a que um governo recorre para manter-se no poder", segundo o Professor Luigi Bonanate, da Universidade de Turim; e o segundo, "… se qualifica como o instrumento ao qual recorrem determinados grupos, para derrubar um governo acusado de manter-se por meio do terror…" (in "Dicionário de Política", organizado por Norberto Bobbio et allii, Ed. Universidade de Brasília, 1992, página 1.242).
Este é o conflito estabelecido – entre terror e terrorismo – há 75 anos – em todo o território em que vem sendo continuamente comprimido o povo palestino, não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia. Sem que a ONU tenha tido condições sequer para obter a concordância dos todo-poderosos – EUA e Israel – para a instalação de corredores humanitários destinados a retirar a parcela mais vulnerável da população civil.
(v)
No entanto, da impotência do sistema normativo internacional, revelada mais uma vez por sua incapacidade em deter o massacre absurdo praticado por Israel contra a população de Gaza e da Cisjordânia, não decorre sua irrelevância absoluta: o mundo, sem a ONU e os demais órgãos internacionais – sobretudo a UNESCO, a UNICEF, a FAO, ACNUR e outras agências – seria pior e mais inseguro ainda. Mas é preciso relativizar sua importância e, sobretudo, denunciar o caráter retórico e demagógico de muitas de suas ações e decisões, como ocorre a propósito da atual escalada do conflito no Oriente Médio.
E também com a condenação seletiva e unilateral de países adversários das potências ocidentais, silenciando em relação às invasões e bombardeios praticados, nas últimas décadas, pelos EUA e pela OTAN, no Iraque, Afeganistão, Líbia e Síria, com grandes e irreparáveis perdas humanas, sobretudo entre as populações civis destes países. Sem falar nos criminosos ataques aéreos da própria Aliança Atlântica na ex-Iugoslávia, na década de 1990; e na escandalosa omissão da ONU diante do massacre ainda em curso no Iêmen, de parte da Arábia Saudita, armada e apoiada pelos norte-americanos e europeus.
Ao encerrar estas despretensiosas notas, é preciso, portanto, referir outra das vítimas "abstratas" das guerras – e também desta, em particular: a inteligência, insultada diuturnamente pela ideologia maniqueísta veiculada pela mídia oligopólica ocidental, que incensa seus falsos heróis e detrata seus vilões preferidos, ao sabor dos interesses do poder financeiro, político e militar do Império. (*) Estas notas retomam e aproveitam partes de artigo publicado por Sul21, em 22/03/2022.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "A maior vergonha de Netanyahu", de Gidi Weitz.