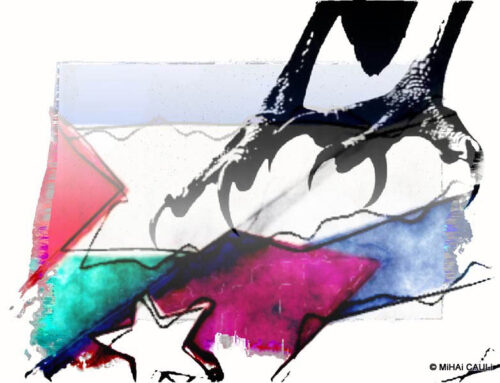É sustentável um país com a escala da China, mantendo um superávit em bens acima de 6% do PIB e uma moeda sistematicamente subvalorizada? Se a China ajustar sua moeda, como fica o Brasil?

Um superávit trilionário e a volta das velhas perguntas
A China acaba de ultrapassar, pela primeira vez, a marca de US$ 1 trilhão de superávit na balança comercial, em apenas onze meses do ano. Trata-se de um salto impressionante: em cinco anos, o saldo comercial chinês em mercadorias cresceu algo como US$ 800 bilhões, aproximando-se de 6% do PIB chinês e ultrapassando 1% do PIB agregado de seus parceiros.
Esse desempenho não é "milagre" nem mero reflexo da competitividade tecnológica chinesa. É resultado de uma combinação incômoda, do ponto de vista global: moeda subvalorizada, demanda interna fraca e estratégia deliberada de exportar o excedente industrial. Enquanto os preços ao produtor na Europa e nos Estados Unidos subiram mais de 25% em cinco anos, os preços industriais na China ficaram praticamente estagnados, num contexto de desaceleração, bolha imobiliária estourada e consumidores traumatizados pelos lockdowns da pandemia da Covid 19.
Ao manter o câmbio em torno de 7,1 yuan por dólar, em vez das 4-5 unidades que alguns economistas chineses estimam como condizentes com a paridade de poder de compra, Pequim barateia artificialmente seus bens e serviços quando medidos em moeda internacional.
O resultado é visível em qualquer comparação de preços: hotéis, eletrônicos, automóveis, fast-food – tudo parece "barato demais" na China quando convertido em dólares. Essa diferença não é um mero detalhe turístico. Ela é o sintoma de uma distorção cambial com efeitos sistêmicos: desloca cadeias de valor, pressiona indústrias em outros países, reaviva acusações de "manipulação cambial" e recoloca na mesa o fantasma das guerras comerciais.
Nos anos 2000, o debate sobre o "yuan desvalorizado" dominou o discurso de Washington e de parte da Europa. A crise financeira global e, depois, a pandemia pareciam ter deslocado o centro da discussão para outros temas. Agora, o superávit trilionário e a nova onda de exportações baratas recolocam a questão com força renovada – em um mundo muito mais polarizado, com menor margem para coordenação multilateral.
Estados Unidos e Europa: entre tarifas, dependência e impotência cambial
A primeira vítima política óbvia do yuan fraco são os Estados Unidos. Mesmo após anos de tarifas punitivas, inauguradas por Trump em 2018 e mantidas (com retoques) pelos governos posteriores, o déficit comercial bilateral com a China permanece elevado.
Em 2025, as exportações chinesas para o mercado americano caíram quase 30% em alguns meses, mas o superávit global chinês continuou a subir: Pequim diversificou parceiros e passou a vender mais para a Europa e o Sul Global, inclusive usando países do Sudeste Asiático como plataforma para "maquiar" a origem de alguns produtos.
Do ponto de vista de Washington, a situação é desconfortável. O Departamento do Tesouro, em seu relatório de junho de 2025 sobre políticas cambiais, evitou formalmente rotular a China como "manipuladora de moeda" – o que exigiria evidências claras de intervenção direta e sistemática. Mas o documento foi duro ao criticar a falta de transparência chinesa em relação às operações de câmbio e alertou para os "desequilíbrios crescentes" e seus impactos sobre a economia mundial. (U.S. Department of the Treasury+1). Washington sabe que há um problema, mas não tem instrumentos simples para "corrigi-lo", sem arriscar uma escalada que prejudique também a economia americana.
A resposta norte-americana tem, assim, três camadas. A primeira é tarifária: manter e redesenhar tarifas, principalmente sobre setores estratégicos (chips, energia limpa, equipamentos de telecomunicações). A segunda é tecnológica e regulatória: controles de exportação, restrições a investimentos chineses em setores sensíveis e esforços para reconfigurar cadeias produtivas ("nearshoring" e "friend-shoring"). A terceira, menos explícita, é monetária: aceitar um dólar mais fraco, que melhora a competitividade relativa das exportações americanas, mas eleva importações e alimenta tensões internas sobre inflação e custo de vida.
Se nos EUA o debate é antigo, na Europa ele ganhou um contorno dramático nos últimos dois anos. A União Europeia (UE) se descobriu no meio de uma pinça: de um lado, tarifas e subsídios norte-americanos que ameaçam parte de sua base industrial; de outro, um tsunami de produtos chineses – em especial veículos elétricos, baterias e painéis solares – em preços que muitos industriais consideram "predatórios".
Não por acaso, Bruxelas concluiu em 2024 uma investigação anti-subsídio contra veículos elétricos chineses e aplicou tarifas compensatórias de até 36%-37% sobre parte dessas importações, medidas que se tornaram definitivas a partir de outubro daquele ano e foram mantidas em 2025 (Relatório da Comissão Europeia).
Ainda assim, as exportações chinesas de automóveis para a UE explodiram, multiplicando-se mais de dezesseis vezes em cinco anos, segundo dados recentes. De acordo com o Financial Times, o superávit comercial da China com o bloco já ultrapassa 300 bilhões de euros, corroendo o parque automotivo alemão, a indústria de equipamentos da Itália e da França e setores intensivos em tecnologia em toda a Europa.
Diante disso, líderes como Emmanuel Macron, ensaiam um discurso mais duro. Em visita oficial a Pequim, em dezembro de 2025, o presidente francês chegou a ameaçar novas tarifas caso a China não "corrija" o desequilíbrio em relação à UE, que considera "insustentável" (Reuters). Mas a capacidade real de ação europeia é limitada: o bloco precisa dos componentes chineses para sua própria transição verde, depende do mercado chinês para exportações de luxo, automóveis e maquinário, e enfrenta, internamente, governos divididos entre atlantismo e pragmatismo econômico.
O contraste é brutal: a mesma desvalorização cambial que dá fôlego às exportações chinesas drena fôlego da base industrial europeia, numa conjuntura em que o continente ainda não se reergueu plenamente da crise energética pós-Ucrânia e do choque inflacionário pós-pandemia.
Sul Global: entre a bonança de preços e o risco de desindustrialização
Se EUA e Europa se queixam, o quadro para o chamado Sul Global é ainda mais ambíguo. De um lado, a expansão chinesa abre mercados e barateia bens de capital, insumos e tecnologias essenciais para o desenvolvimento. Mas esses ganhos de curto prazo convivem com riscos profundos de desindustrialização: nenhuma fábrica emergente consegue competir com painéis solares, carros elétricos e eletroeletrônicos produzidos em escala gigantesca e vendidos com preços artificialmente deprimidos em dólar.
Nos últimos anos, a China passou a vender mais de 50% a mais para o Sul Global do que para Estados Unidos e Europa Ocidental somados. Apenas três grandes regiões – Sul e Sudeste Asiático, América Latina e Oriente Médio – já respondem por cerca de US$ 1,2 trilhão de importações provenientes da China, contra algo próximo a US$1 trilhão dos EUA e Europa (S&P Global+1). Trata-se de uma reconfiguração silenciosa da geografia do comércio mundial, em que o yuan fraco funciona como combustível para uma ofensiva exportadora direcionada ao mundo em desenvolvimento.
Para muitos países africanos, latino-americanos e asiáticos, isso tem efeitos contraditórios:
- Ganhos imediatos: importação de máquinas baratas, equipamentos de energia solar e eólica, ônibus e automóveis elétricos, sistemas de telecomunicações e até infraestrutura pesada, frequentemente financiados por crédito chinês. Essa combinação pode acelerar a transição energética, expandir o acesso a bens de consumo e reduzir pressões inflacionárias.
- Perdas estratégicas: dificuldade de consolidar uma indústria nacional, sufocada pela competição de players chineses com escala, tecnologia e crédito subsidiado; aumento da dependência em relação às cadeias de suprimento da China; vulnerabilidade a choques políticos (tarifas cruzadas, sanções, disputas geopolíticas).
Isso é particularmente sensível em cadeias como têxtil, eletroeletrônicos, autopeças, máquinas leves e, cada vez mais, veículos elétricos populares, onde a diferença de custo torna quase impossível aos países do Sul competir sem algum grau de proteção, política industrial ativa e coordenação regional.
Ao mesmo tempo, a China se consolida como principal compradora de commodities do Sul Global – petróleo, minério, soja, cobre, lítio. Quando a moeda chinesa está fraca, o país paga relativamente menos em termos reais por essas matérias-primas, ao mesmo tempo em que exporta bens industriais de maior valor agregado. Isso tende a reforçar um padrão clássico de centro-periferia: o Sul exporta natureza barata e importa manufaturas baratas, porém estrategicamente sofisticadas.
O paradoxo é que, num primeiro momento, esse arranjo pode ser politicamente popular. Consumidores urbanos de renda média, em vários países, experimentam uma "desinflação chinesa": celulares mais baratos, carros elétricos acessíveis, eletrodomésticos e roupas a preços que o produtor local não consegue acompanhar. Mas, no médio prazo, a destruição de capacidades produtivas domésticas e regionais, somada à volatilidade cambial e a crises de balanço de pagamentos, cobra seu preço na forma de desemprego, informalidade e fragilidade fiscal.
Brasil no fogo cruzado cambial
Nesse cenário, o Brasil ocupa uma posição especialmente delicada. De um lado, é grande exportador de commodities para a China – soja, minério de ferro, petróleo – e se beneficia de uma demanda chinesa relativamente resiliente, mesmo num contexto de desaceleração. De outro, enfrenta uma concorrência avassaladora em setores em que poderia consolidar uma reindustrialização verde: equipamentos de energia renovável, veículos elétricos, baterias, química fina, máquinas agrícolas sofisticadas.
A desvalorização do yuan agrava três tensões estruturais para o Brasil:
- Reprimarização e dependência – Com a moeda chinesa fraca, a vantagem de custo dos manufaturados chineses aumenta, enquanto o ganho de preço nas commodities brasileiras é limitado. O risco é aprofundar um padrão em que o Brasil exporta produtos intensivos em natureza e importa equipamentos industriais e bens de alto conteúdo tecnológico, dificultando a construção de uma base doméstica de inovação.
- Espaço estreito para a política cambial própria – Se o real se aprecia, a indústria perde competitividade frente à China. Se o país reage com desvalorização cambial, alimenta pressões inflacionárias internas, encarece serviços e compromete a política de juros. Num mundo em que a China "terceiriza deflação" via exportações baratas e o Ocidente ainda enfrenta resquícios de inflação, o Brasil acaba preso em um jogo cambial de soma negativa.
- Dilemas da política industrial e da integração regional – Para responder à concorrência chinesa sem renunciar aos benefícios da parceria, o Brasil precisa de uma combinação sofisticada: acordos setoriais, exigências de conteúdo local, política de compras públicas, investimentos coordenados em cadeias como lítio-baterias-veículos elétricos e uma integração mais densa no Mercosul e no eixo Sul-Sul. Isso exige, porém, coesão política interna – algo sempre escasso quando interesses poderosos se articulam em defesa da importação pura e simples.
Os espaços multilaterais onde o Brasil tem voz (G20, BRICS ampliado, ONU, negociações climáticas) poderiam ser usados para recolocar o debate cambial em moldes mais cooperativos. Em tese, seria possível discutir mecanismos de compensação, linhas de crédito em moedas locais, reformulação de regras no FMI para tratar grandes superávits persistentes (não apenas déficits), e critérios de transparência cambial mais rigorosos. Na prática, porém, o cenário é de fragmentação: a própria China vê, na fraqueza de sua moeda, uma âncora para manter empregos industriais num momento de profunda fragilidade imobiliária, endividamento local e desconfiança dos consumidores.
O desafio brasileiro é não se resignar a esse papel passivo. Isso passa tanto por uma agenda interna de reconstrução industrial, quanto por uma diplomacia econômica que vá além do eixo Washington-Pequim, articulando posições com Índia, África do Sul, Indonésia, México, Argentina – países que também sentem a pressão da combinação "yuan barato + superávit chinês".
O que pode vir a seguir: deflação chinesa, tarifas e rearranjo monetário
A pergunta que se impõe é: esse arranjo é sustentável? Um país com a escala da China, mantendo um superávit em bens acima de 6% do PIB e uma moeda sistematicamente subvalorizada, inevitavelmente cria tensões. Essas tensões tendem a se expressar em quatro vias principais.
A primeira é a via comercial: EUA e Europa continuarão a responder com tarifas, investigações anti-subsídio e restrições setoriais. O caso dos veículos elétricos é apenas o início de uma disputa que se estenderá a químicos verdes, semicondutores, equipamentos médicos e, possivelmente, serviços digitais associados à indústria 4.0. A cada rodada de tarifas, a China responde com medidas próprias – de abertura seletiva de mercado a restrições em minerais estratégicos, como as terras raras (Reuters+1).
A segunda é a via monetária e financeira: se a percepção de que o yuan está subvalorizado em 20%-30% se cristalizar nos mercados, pressões especulativas podem surgir tanto no sentido de valorização (apostando numa futura correção) quanto de fuga (caso investidores duvidem do compromisso chinês com a estabilidade financeira interna). Pequim, até aqui, tem respondido com firme controle de capitais, intervenções parcialmente opacas e uma gestão "administrada" da banda cambial – o que alimenta justamente as críticas sobre falta de transparência.
A terceira é a via da deflação exportada. Ao despejar manufaturas baratas no mundo num momento em que muitas economias já lutam contra o risco de recessão, a China ajuda a conter a inflação, mas também comprime margens de lucro de empresas concorrentes e desincentiva investimentos produtivos fora de seu território. Em alguns setores como aço, painéis solares e agora automóveis, isso se traduz em fechamentos de fábricas, desemprego e reação política – terreno fértil para a extrema direita, que explora o mal-estar com uma retórica protecionista seletiva, sem tocar nos desequilíbrios internos de cada país.
Por fim, há a via institucional. O FMI, a OMC e o sistema de regras desenhado no pós-guerra nunca foram pensados para lidar com um caso como o da China: uma economia gigantesca, formalmente "em desenvolvimento", com regime cambial administrado, controle de capitais e superávits persistentes próximos de 1% do PIB mundial. Até aqui, a resposta tem sido tímida: relatórios, alertas, recomendações prudentes. Mas a pressão dos EUA, da UE e, cada vez mais, de países emergentes afetados pode forçar algum tipo de reinterpretação das regras sobre desequilíbrios externos, subsídios e transparência cambial.
Nesse cenário, uma valorização ordenada do renminbi (nome oficial da moeda da China) – algo na direção de cinco yuan por dólar, como sugerem alguns cálculos de paridade de poder de compra – poderia ter efeitos ambivalentes. De um lado, reduziria parte das tensões comerciais e daria algum fôlego a indústrias estrangeiras. De outro, poderia acelerar o processo pelo qual a China, medida em dólares correntes, ultrapassa os Estados Unidos como maior economia do planeta, reforçando o peso político e geoeconômico de Pequim justamente num momento de transição delicada.
Para o mundo, e em particular para países como o Brasil, o desafio não é escolher entre "ser pró-China" ou "ser pró-Estados Unidos", muito menos abraçar ingenuamente a deflação chinesa como presente. O desafio é pensar a arquitetura econômica global com base nos efeitos concretos dessas escolhas cambiais: quem ganha e quem perde com um yuan barato? Quem pode sustentar uma estratégia de desenvolvimento se a principal oficina do planeta opera com câmbio desvalorizado, crédito dirigido e capacidade quase infinita de absorver tecnologia estrangeira?
Enquanto essas perguntas não encontram respostas cooperativas, o que se vê é um mundo que flerta com a repetição de velhos erros: guerras tarifárias, retóricas nacionalistas, políticas industriais descoordenadas, improvisos cambiais. A diferença é que, desta vez, a disputa se dá em um planeta marcado pela emergência climática, pela transição energética e por uma revolução tecnológica que exige investimentos colossais.
Um yuan barato pode ser a salvação de curto prazo para fábricas chinesas, mas tende a se tornar, crescentemente, caro demais para a estabilidade econômica e política global. É nesse terreno minado que países como o Brasil precisam construir sua estratégia: com lucidez, sem ilusões sobre a neutralidade do câmbio, e com a consciência de que, na nova geoeconomia do século XXI, a batalha da moeda é também a batalha do desenvolvimento.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "Para além do dólar: um caminho para uma nova moeda internacional de reserva", de Paulo Nogueira Batista.