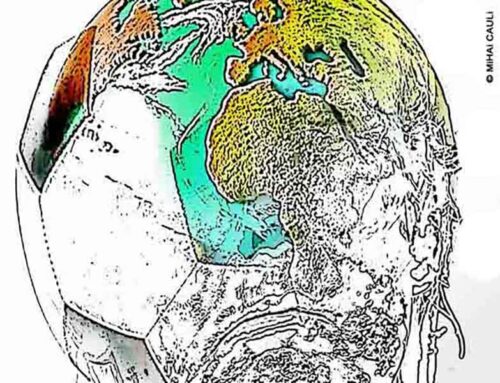O ano de 2026 começou com uma agressão militar dos EUA contra a Venezuela, fato inédito no continente sul-americano. O imperialismo (palavra que teve jornalista liberal viralizando tempos atrás afirmando que era um termo “cafona” da esquerda brasileira) volta à ordem do dia e reaparece no debate público. Ainda é cedo para apontar quais os possíveis desdobramentos desta violação da soberania venezuelana pelos EUA, mas é certo que seu desfecho significará mudanças profundas na Venezuela.
Antes de tentar esboçar algumas respostas para estas questões, convém advertir que não trataremos aqui de uma avaliação do que é – ou melhor, foi – o governo Maduro ou de uma caracterização do bolivarianismo, estes temas ficarão para um futuro artigo. Nossa discussão se centrará no que impulsionou a agressão dos EUA contra a nação sul-americana. Partimos conceitualmente do pressuposto que, para se buscar uma compreensão dos processos históricos em sua efetiva complexidade, devemos assumir uma postura crítica de desconfiar de respostas fáceis ou monocausais.
A gravidade do ataque militar dos EUA à Venezuela é evidente. Na madrugada de 3 de janeiro de 2026, forças especiais dos Estados Unidos realizaram uma operação em Caracas, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Ambos foram transferidos para solo estadunidense e passaram a responder a acusações federais nos EUA, incluindo acusações (descaradamente fantasiosas) relacionadas a narcoterrorismo. O ataque deixou dezenas de mortos (nenhum deles norte-americano) e grandes danos materiais, o que reforça a caracterização do episódio como uma ação de alto custo humanitário e político.
A operação – amplamente contestada por especialistas em direito internacional e objeto de condenações de vários governos e organismos multilaterais – quebrou um jejum de décadas quanto ao tipo de intervenção direta e em larga escala no território de um Estado soberano da América Latina, sendo este o primeiro episódio dessa natureza no século XXI. Situando historicamente essa ruptura, cabe lembrar a extensa cronologia de intervenções americanas na região. Em pesquisa fartamente documentada, Lindsey O’Rourke (2021) reporta dezenas de casos de tentativas de mudança de regime promovidas pelos EUA durante a Guerra Fria – um conjunto de ações que incluiu apoio encoberto a golpes em países como Brasil e Chile, repetidas conspirações contra Fidel Castro e mesmo a invasão do Panamá em 1989 para depor Manuel Noriega – e mostra como essas práticas, longe de serem acidentes da Guerra Fria, constituem parte de uma estratégia geopolítica contínua que frequentemente gerou instabilidade nos países-alvo. Esse repertório de intervenções voltou à tona, sendo necessário ler o episódio venezuelano à luz dessa tradição.
Ainda que seja um tanto chocante escutar o presidente Trump anunciar explicitamente que o petróleo foi o motivo central desta invasão, postura que, em si, possui implicações graves, talvez devêssemos desconfiar um pouco e fazer uma pergunta anterior: o que tornaria possível que um mentiroso contumaz como Trump, justamente em uma ação desta magnitude, não estivesse uma vez mais mentindo?
Muitas evidências apontam que é mentirosa a alegação de que a invasão da Venezuela foi por causa do petróleo. Afinal, se realmente o objetivo era obter o petróleo, eles tinham apenas que suspender as sanções que eles próprios impuseram ao regime de Maduro, ainda mais porque, aparentemente, vão comprar a preço de mercado e o mesmo dispositivo de poder chavista, que era considerado um empecilho, está sendo mantido intacto.
Se analisarmos esta questão sob o ângulo do funcionamento do mercado internacional do petróleo, fica ainda menos crível a versão oficial dos EUA. Embora seja verdade que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo bruto do planeta, estimadas em 303 bilhões de barris (17% do total global), ela produziu, contudo, somente 900 mil barris por dia em 2025 (1% do total global). A consultoria norueguesa Rystad Energy calcula que, para triplicar o volume atual, a Venezuela precisaria de US$ 183 bilhões. Cifras astronômicas que, até o momento, não parece haver investidores interessados em aplicar na aventura trumpista. A própria empresa petrolífera norte-americana Exxon, tida como potencialmente a principal beneficiária, já manifestou não ter interesse em ampliar seus investimentos na região, provocando a fúria pública do bufão que comanda a Casa Branca.
Uma das razões de fundo para este baixo interesse das petrolíferas, para além de inseguranças jurídicas inerentes a esta situação, se dá pela própria dinâmica do mercado. Como aponta o geógrafo Matthew T. Huber, o interesse maior das companhias reside em manter e reproduzir a escassez necessária para que os preços se mantenham suficientemente altos para uma acumulação lucrativa. No contexto atual de preços baixos, elas estariam mais interessadas em extrair o petróleo que já possuem e recuperar investimentos anteriores, do que de perfurar novos poços.
Quando Trump afirma que esta ação bélica foi para se apropriar do petróleo venezuelano, assistimos muito mais que um falso ato de sinceridade. Foi, na verdade, um ato performático para encobrir as reais motivações, que podem ser resumidas em uma curta palavra: poder. O mais importante nas declarações de Trump e de seu governo, é menos o conteúdo e muito mais seus aspectos simbólicos, com implicações políticas profundas. Ao abdicar de quaisquer justificativas sobre questões humanitárias ou democráticas, sempre um tanto hipócritas, como seus antecessores comumente faziam para justificar as guerras dos EUA, o governo Trump promove uma significativa (e grave) mudança na gramática das relações políticas globais. Esta retórica trumpista, não por acaso, guarda muitas semelhanças com o conceito alemão de lebensraum (espaço vital), utilizado pelo nazismo para a conquista de terras na Europa central e oriental.
Com esta ação unilateral, o país que foi um dos principais fiadores do multilateralismo neoliberal estabelecido com a globalização, escancarou sua obsolescência e proclamou, simbolicamente, o seu efetivo fim. Este seria mais um capítulo de uma emergente geopolítica da barbárie, onde a diplomacia e a política cedem espaço ao imperativo da força bruta direta. Essa guinada da geopolítica tem o seu, por assim dizer, “marco fundador”, na guerra de Israel em Gaza, onde uma ação genocida contra o povo palestino foi perpetrada. Como aponta Francesca Albanese, relatora da ONU para os territórios da Palestina, o número de mortos palestinos pode superar os 680 mil. Contando com apoio direto dos EUA e Europa, as tropas israelenses promoveram uma guerra com objetivos colonialistas mal disfarçados. Um massacre explícito, transmitido quase que em tempo real para todo mundo, não havendo espaço para as máscaras da hipocrisia ocidental justificarem o injustificável.
Despudorada e sem rivais, esta demonstração de poder imperialista pelos EUA é muito menos sobre o futuro da Venezuela, e muito mais uma espécie de declaração de uma guerra ideológica contra todos no mundo que sejam não-alinhados aos novos ditames de Washington. Afirmar que foi por causa do petróleo foi a forma de tentar expor alguma racionalidade num ato completamente irracional no todo. Foi influenciada por uma tentativa de levar adiante as ideias do filósofo Nick Land, defensor do que ele chama de Dark Enlightenment (Iluminismo das Trevas), que hoje ostenta muita influência nas hordas trumpistas. Os princípios igualitários contidos no Iluminismo, como o de que todas as pessoas possuem direitos iguais, passam a ser combatidos, em nome de uma desigualdade não apenas real, mas que deverá agora também ser formal.
Diante desse horizonte de uma geopolítica da barbárie, em que a força bruta substitui a diplomacia e o “Iluminismo das Trevas” busca sepultar definitivamente os princípios igualitários, a contenção desse projeto imperialista não virá das instâncias burocráticas ou de um direito internacional já declarado obsoleto na prática. Se o poder imperialista agora se move sem véus, também se expõe à rejeição frontal dos povos, não apenas na Venezuela, mas em todos os cantos onde a soberania e a dignidade são atacadas.
A solidariedade internacionalista, a mobilização das ruas e a denúncia incansável tornam-se, assim, os instrumentos urgentes de defesa. Enquanto as máquinas de guerra avançam, é na resistência organizada, nas trincheiras da sociedade civil e na recusa em aceitar a normalização da barbárie que se encontrará o freio, e talvez o ponto de reversão, deste projeto de dominação que, ao descartar até mesmo a hipocrisia, revela sua face mais frágil: o medo da união dos que nada têm a perder, senão seus próprios grilhões.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também “Como Washington vende a guerra com palavras”, de Maria Luiza Falcão.