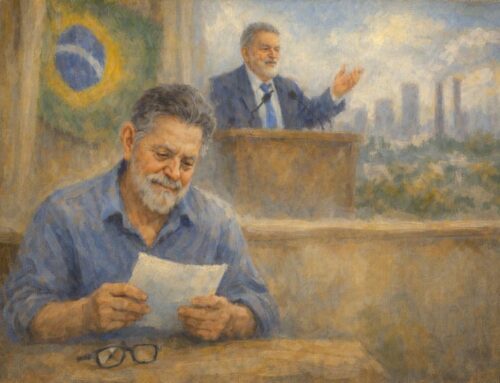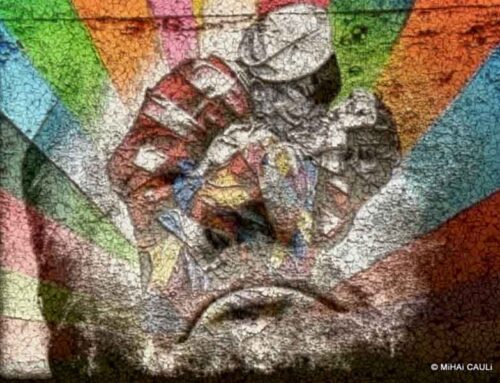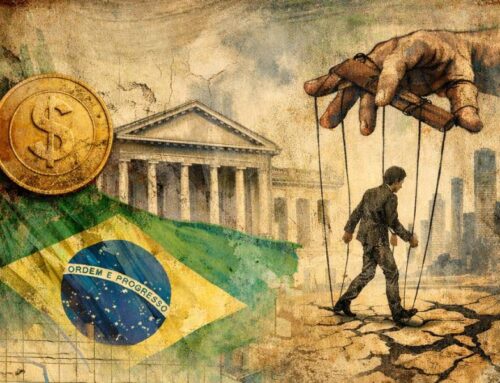A ciência, a tecnologia e os sistemas de inovação devem ser pensados como um caminho de política pública fundamental.

O Simpósio Latino-Americano de Ciências e Tecnologia acontece desde 2015 e se tornou o espaço privilegiado de apresentação e debate dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovações em Agropecuária (PPGCTIA), primeiro Programa de Pós-Graduação Binacional aprovado pela CAPES em 2008, vinculado ao comitê interdisciplinar desta agência de fomento tão fundamental para o Brasil desde a sua fundação em 1951, no governo Getúlio Vargas. O Programa tem como entidades parceiras a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e a Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC, Província de Córdoba, Argentina).
No simpósio, que espelha o Programa, são apresentados trabalhos representativos da diversidade temática, conceitual, metodológica que, de certa forma, buscam estabelecer pontes entre diferentes áreas do conhecimento. Numa palavra, buscam a interdisciplinaridade a partir de quatro áreas: políticas públicas comparadas, inovação e tecnologia, agricultura familiar e saúde animal. Sempre que ofereço a disciplina "Inovações, Internacionalização e Integração Regional" no Programa, assinalo que na história do conhecimento científico, até a emergência das revoluções industriais, o conhecimento foi mais integrado, menos disciplinar e eram poucas as áreas de formação e pesquisa mais específica. No século XVII, o filósofo Baruch (Bento) Spinoza (1632 / 1677), judeu sefaradi nascido na Holanda e de origem portuguesa, dizia que o conhecimento era como a água dos oceanos: uma coisa só, mas que estes espaços precisavam ser nomeados para sabermos onde estávamos. E o mesmo se dava com o conhecimento, que era uno, mas deveria ser delimitado para localizar o que buscamos.
A consolidação de uma cultura urbana, industrial e capitalista significou, entre outras coisas, uma busca incessante pelo domínio de novos processos, produtos e formas de gestão. Numa escala similar, deu-se também a busca pelo entendimento de fenômenos sociais e dos segredos da natureza, tudo isso motivado simultânea e paradoxalmente pelo melhor dos ideais iluministas, como também pela disputa de hegemonias e novas formas de dominação mais efetivas e sofisticadas. O conhecimento é poder e ocupa lugar.
Essa disciplinaridade materializada em novas áreas do conhecimento que ganharam forma permitiu avanços significativos até meados do século XX. Entretanto, nas décadas seguintes, algumas questões foram se revelando cada vez mais complexas e transversais. Como enfrentar, por exemplo, os desafios postos pela questão alimentar, energética e socioambiental, assim como pelas novas demandas sociais e individuais derivadas do alargamento da expectativa de vida? São apenas alguns problemas mais visíveis de nossa vida individual e coletiva que evidenciam os limites do conhecimento disciplinar para lidar efetivamente com a complexidade que o mundo apresenta.
Vale dizer que a interdisciplinaridade não é uma receita ou algo que se adquire simplesmente por adesão a uma metodologia. Mais que isso, é algo que se aprende, pratica e vivencia na busca de um diálogo em espaços integrados em vários sentidos. Tem havido avanços, mas evidentemente não é possível o retorno ao intelectual integral que existiu até poucos séculos atrás. Um Leonardo da Vinci do século XXI seria impossível, pois o conhecimento avançou muito. Nesse sentido, a época dos grandes pensadores acabou, pois os avanços nas pesquisas resultam do trabalho de equipes, redes e esforço organizado que depende de financiamentos. Por isso mesmo, devemos estar atentos aos riscos do autismo originado na especialização excessiva e da monocultura do conhecimento que gera o efeito "torre de babel". Aliás, a monocultura não é boa matriz para a natureza nem para sociedade, assim como para as formas de pensamento.
A postura interdisciplinar depende de vontade pessoal e institucional. Mas tem um DNA, que é a nossa formação. Na perspectiva de Paulo Freire, cada um de nós vê o mundo de sua janela. Então, buscamos a interdisciplinaridade a partir de algum campo do conhecimento para o estabelecimento do diálogo e a fertilização cruzada pela elaboração de metodologias em campos distintos. Dessa forma, é possível e necessária a constituição de área e a busca de interações que se estabelecem a partir de problemas em campos variados.
Para além dessas considerações, mas não menos importante e para que não haja dúvidas, as pontes do conhecimento devem estender-se também a algumas perguntas fundamentais que não têm a ver com domínio sobre a matéria ou produtividade. Mas podem tornar a humanidade mais sábia, menos manipulável pelo terraplanismo e mais feliz.
Para ilustrar a necessidade dessa perspectiva na busca da interdisciplinaridade, quero assinalar mais alguns pontos: o primeiro é o fato de que a agropecuária é uma atividade eminentemente territorial. Em que pese todo o avanço no conhecimento, os solos, o clima, a altitude e a variedade dos biomas, fazem com que o conhecimento e as práticas necessárias não sejam facilmente replicáveis em qualquer espaço como uma espécie de conhecimento deslocalizado. Tudo isso implica em levar em conta os condicionamentos da natureza, o que torna a configuração da agropecuária bem distinta das atividades industriais onde, havendo infraestrutura e energia adequadas, a organização da produção e do trabalho fica razoavelmente equacionada. E persiste sempre a necessidade de um contingente de trabalhadores adequados, com formação específica.
O segundo ponto que desejo assinalar é a natureza distinta da ciência e da tecnologia. A ciência, num denominador mais alto de abstração e por incrível que possa parecer, é mais acessível, generosa. O problema está em seu domínio, aplicações, aderência. Ou seja: na tecnologia que dá vida e materialidade às inovações. Ai reside o jogo duro das patentes garantidas pela Organização Mundial do Comércio.
Em terceiro, a questão das políticas públicas e suas institucionalidades. O que o Estado faz ou deixa de fazer são opções de políticas públicas. São elas que garantem o acesso à saúde e educação, por exemplo. O caso dos EUA é ilustrativo, pois se trata do país que mais realiza pesquisas científicas, possui mais patentes e prêmios Nobel e não há um sistema nacional de saúde pública acessível. Ao mesmo tempo, as encomendas da NASA e do Pentágono definem implicitamente boa parte da política industrial estadunidense. Para quem deseja conhecer as implicações pessoais e sociais dos serviços de saúde subordinados às lógicas de mercado e muito mais do que esse tipo de problema humano e social, vale assistir a premiadíssima série disponível na Netflix denominada "Breaking Bad – A química do mal".
Por fim, o jogo das regras e as regras do jogo: os desafios da ciência e da tecnologia e dos sistemas nacionais de inovação devem ser pensados e transformados em políticas tendo em conta o que o físico argentino Ernesto Sábato formulou nos anos 60 do século passado e ficou depois conhecido com o Triângulo de Sábato. Trata-se didaticamente de um triângulo onde seus três vértices representam a articulação entre o tecido produtivo, a infraestrutura de educação e pesquisa e o Estado e suas políticas. Posteriormente, embora isto não seja reconhecido, a derivação desta construção abriu caminho para outras formulações, como o modelo da tríplice hélice de inovação. O entendimento dessas formulações evita compreensões mais simplistas quanto ao poder da ciência por si só abrir caminhos num jogo de soma positiva.
As discussões dos dois últimos simpósios latino-americanos de ciências e tecnologia foram reunidas no livro Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária: diálogos interdisciplinares na América Latina, organizado por Cícero Augusto Prudêncio Pimenteira, Antônio José Alves Jr. e outros. A coletânea é só um primeiro passo a que desejamos dar sequência, fazendo mais e melhor.
Como cantou em verso o grande poeta espanhol Antonio Machado (1875/1939), "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar".
Boa leitura!
(Texto adaptado do prefácio do livro)
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Clique aqui para ler artigos do autor.