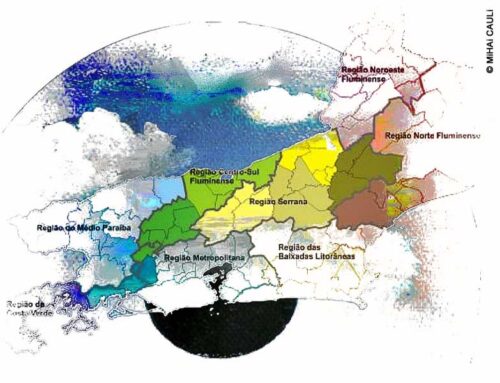O Brasil é um país partido em três: os que aprovam Bolsonaro, os que rejeitam e os que não aprovam, mas também não rejeitam. Portanto, é muito provável ter Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, contra um candidato apoiado pelo PT ou contra alguma liderança que consiga juntar os cacos do centro. Este é o cenário descrito por Marcos Nobre, em seu ensaio publicado na Revista Piauí de dezembro de 2019.
A preocupação deste artigo é antes formular questões do que oferecer respostas, foi escrito para duvidar da positividade de certos discursos que apresentam a esquerda como única realmente interessada em impedir o avanço do projeto autoritário, pois, argumentam, os partidos tradicionais da direita e do centro estão tolerantes com o ataque aos valores democráticos, desde que continue em curso o projeto neoliberal. Em parte a afirmação faz sentido, pois estes partidos não se identificam claramente como situação ou oposição, coisa elementar numa democracia representativa.
Estas observações servem para iniciar uma conversa, porém, para continuar a investigação, parece bem mais profícuo medir o quanto o pêndulo da sociedade, não dos partidos, se moveu no sentido esquerda => direita e o quanto ela, a sociedade, está disposta a aceitar mais autoritarismo e menos democracia. Os acontecimentos do passado recente apresentam pelo menos três enigmas a serem explicados: (a) a rápida expansão organizada da extrema direita; (b) a desorganização das forças de centro e, por fim, (c) a perda de capacidade aglutinadora do PT, para além do seu eleitorado.
Os movimentos sociais de junho de 2013, entre aspirações difusas, deixaram o seguinte recado: os políticos e os partidos não os representavam. As pesquisas do Data Folha ratificaram esta assertiva, e mostraram um aumento vertiginoso na desconfiança nos políticos, que em apenas quatro anos (2012 a 2015) passou de 54% para 69%. Escutar novamente estas vozes é um bom ponto de partida para compreender algumas mudanças no cenário político do país.
O sociólogo Manuel Castells, em 2017, no livro “Ruptura”, descreveu manifestações semelhantes em outros países e qualificou-as como uma crise de legitimidade dos sistemas de representação da democracia liberal. Para o autor, o mundo passou a buscar por uma “ordem para além dos políticos”, em oposição a eles, e o Brasil integra esta mesma onda que, como na maioria das democracias do mundo, o recado foi erradamente compreendido pelas lideranças políticas tradicionais, da direita, centro e esquerda.
O governo Dilma Rousseff, que detinha uma aprovação de 65% de bom e ótimo nas pesquisas, até março de 2013, interpretou as ruas como o desejo de mudar mais, na economia e na política, mas mesmo reeleita, não superou as pressões sociais e políticas.
O principal partido de oposição, o PSDB, por sua vez, entendeu que os movimentos sociais queriam o fim à hegemonia petista, portanto, que ele não era alvo do desencanto, ao contrário, era a porta de saída para crise. Fruto desta visão, equivocada e maniqueísta, assim que foi divulgado o resultado eleitoral de 2014, o PSDB, primeiro, o PMDB logo depois, movimentaram-se para tirar o PT, a qualquer custo, inclusive arriscando comprometer o frágil arcabouço constitucional.
Sob o comando do Presidente do Congresso Nacional, Eduardo Cunha, lideranças políticas ligadas ao PMDB, principal apoio do governo, e do PSDB, principal partido de oposição, viram a oportunidade de chegar ao governo por tramas palacianas, brechas jurídicas, apoio dos partidos de centro e direita, além de senadores de alguns partidos de esquerda (PSB – 5 em 7 e PDT 3 em 3), e conseguiram o impeachment de Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer.
Contudo, a empreitada dos dois partidos se voltou contra eles, pois socialmente foi interpretada como a evidência de que a mudança na presidência era uma mera troca de guarda. A incompreensão dos gritos das ruas cobrou um preço alto ao PSDB, que nas eleições de 2018 reduziu sua bancada de 54 para 29 deputados, uma perda de 4,9 milhões de votos dos 7,5 milhões recebidos em 2014 (-65%). Seu candidato à presidência, em 2018, obteve apenas 4,8% dos votos, ao invés dos 48% recebidos por Aécio Neves, nas eleições anteriores.
O MDB, com 66 deputados federais, em 2014, viu sua bancada se reduzir a metade, em 2018, uma perda aproximada de 4,5 milhões de votos dos 7 milhões recebidos (-61%). O partido que detinha a Vice-Presidência e depois a Presidência recebeu pouco mais de 1% dos votos com Henrique Meireles. Sofreu o duplo desgaste, de ter participado dos quatro governos do PT e feito muito para afundar o barco com as pautas bomba, por exemplo.
É um pouco cedo para avaliar a profundidade deste enfraquecimento, é certo, porém, que a redução política do centro, resultante de seus erros, expôs ainda mais a fragilidade democrática do país e deu espaço para um distanciamento direita-esquerda, adubando o terreno para o crescimento de lideranças da direita autoritária.
Até recentemente, os partidos de centro no país ocupavam uma posição que Norberto Bobbio caracterizou de terceiro incluído, na qual o centro se situa no espaço entre os polos da direita e esquerda, amortece os choques e induz o surgimento de soluções negociadas. A partir de 2018, no entanto, o Brasil caminhou para uma situação de terceiro excluído, na qual desaparece o espaço de centro e as escolhas se tornam do tipo “ou…ou”.
Ser esquerda ou direita, de per si, não indica uma postura frente à democracia liberal, ambos, normalmente, são compatíveis com a democracia representativa. No Brasil, no entanto, há uma dupla ameaça ao sistema democrático, pois no plano político a situação é de terceiro excluído, combinada com o fortalecimento da extrema direita intolerante com o sistema representativo.
No Brasil, desde o final da ditadura militar, existe uma tendência a considerar toda direita como autoritária, por isto, até muito recentemente, havia certo constrangimento nas lideranças políticas se autoproclamarem de direita. Agora, diante de um governo de extrema direita declarado, a distinção é impositiva, até para que se possa identificar os aliados dos inimigos na defesa da democracia.
Poucos discordarão que Bolsonaro foi eleito pela soma de votos alinhados ao seu próprio projeto e daqueles que viram nele a alternativa viável para derrota do PT, ou seja, contou com boa parte dos votos do centro e da direita, muitos dos quais haviam votado na esquerda nas eleições anteriores. Este apoio, no entanto, não deve ser confundido com uma opção pelo autoritarismo.
No caso das eleições proporcionais, é mais fácil identificar as escolhas ideológicas. Segundo o Diap, os resultados mostram, por um lado, que os votos nos deputados de esquerda praticamente se mantiveram inalterados (em torno de 14 milhões), houve uma perda do PT e aumento em outros partidos, enquanto os votos do centro e da direita, em grande medida se moveram para o PSL, a face parlamentar do projeto Bolsonaro.
Castells dá algumas pistas para compreender este fenômeno, e mostra que em vários países os movimentos sociais que buscavam “novos” atores políticos nos quais fosse possível acreditar, se reuniram em torno de lideranças que dizem o que eles pensam, mas não podem dizer, dos que “sem rodeios, articulam um discurso xenófobo e racista (…) que simplificam os problemas”, junto à denúncia da corrupção por todo lado, embora eles mesmos, às vezes, façam parte dela.
Ilustrando suas conclusões, Castells faz uma pergunta quase retórica, mas importante: “Como pode ter sido eleito para a Presidência mais poderosa do mundo um bilionário tosco e vulgar, especulador imobiliário envolvido em negócios sujos, ignorante em política internacional, depreciativo da conservação do planeta, nacionalista radical, abertamente sexista, homofóbico e racista?” Ele mesmo responde: foi por isso que foi eleito, milhões se reconhecem em sua pessoa, recuperam as vozes apagadas pela monopolização da política, da economia e da cultura pelas elites. Porém, o autor alertou, não quer dizer que “os americanos são fascistas, nas duas eleições anteriores eles escolheram um presidente negro e progressista”.
Mutatis mutantis, a roupa veste bem no caso de Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, um militar de carreira medíocre, reformado precocemente por insubordinação, mal visto pelo alto oficialato das Forças Armadas, um ex-deputado federal, que ao longo de 27 anos no Congresso Nacional, apresentou apenas um projeto de lei.
E, novamente, mutatis mutantis, antes de ver na eleição do capitão um caminho natural dos brasileiros, recorde-se que poucos anos antes foi eleito e reeleito Lula, um sindicalista de esquerda.
Bolsonaro, além de incapaz para governar o país, é uma ameaça à democracia. A falta de força do centro pendular enfraqueceu as defesas da democracia e permitiu o avanço do autoritarismo. As fragilidades da democracia permitiram a Jair Bolsonaro ultrapassar os limites e, em um ano, provocar o recuo de décadas de sistema democrático. Além do mais, proporciona a Bolsonaro retroceder séculos e voltar a confundir Estado, religião e família. Lideranças religiosas se sentem perfeitamente confortáveis de saírem do culto para sentar na cadeira de ministro, onde ganham poderes para atacar os costumes liberais e seculares. Permite que generais quatro estrelas se sintam à vontade para sair da caserna e assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República, deixar suas funções de Estado, para assumir as deste governo. Os filhos do Presidente, por sua vez, transitam no palácio como se fossem príncipes herdeiros. E dos Estados Unidos, onde vivem seus dois principais estrategistas políticos, são enviadas as fátuas que guiam a ação do clã Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho e Stephen Bannon, ex-secretário de Donald de Trump, ex-conselheiro da Cambridge Analytics e estrategista da ultradireita no mundo – ver o documentário Driblando a Democracia.
Abusando do direito de ser o autor, é razoável supor um desejo da sociedade por um pêndulo mais centralizado, a partir da qual ele volte a oscilar entre projetos de direita e de esquerda – mais ou menos liberalismo econômico, por exemplo. Mas como já foi comentado, os núcleos de centro e da direita não autoritária têm se mostrado incapazes para aglutinar apoios. O comportamento dúbio das lideranças diante do governo de extrema direita, não mostra um rumo. No PSDB, onde João Doria se tornou a figura pública mais evidente, ele transita com uma naturalidade incomum entre oposição e situação. Rodrigo Maia, decisivo na condução da Câmara dos Deputados e na defesa do sistema democrático, entretanto, pertence a um partido que até recentemente ocupava nada menos do que a Casa Civil da Presidência da República do governo.
Este artigo acaba de ser escrito em meio à chegada do Covid-19, que lamentavelmente mostrou, mais uma vez, um governo incapaz de governar, que falou em reformas, mas não foi capaz de encaminhá-las ao Congresso, que falou em privatizações, mas limitou-se a dar andamento a projetos que já existiam, alguns desde o governo Dilma, outros do governo Temer. Mostra tal desarticulação, que não consegue formular uma política econômica que reduza os efeitos devastadores da pandemia sobre o desenvolvimento do país, e antes dela, para combater o desemprego e reverter o ciclo recessivo.
Mesmo assim, é praticamente certo que Bolsonaro permanece com apoio suficiente para estar no segundo turno das eleições de 2022. A dúvida é quem será seu opositor. Isto, no entanto, é menos importante, o foco deve estar na junção de forças dispostas a defender a democracia. Infelizmente os prisioneiros da caverna de Platão não irão mover as peças do tabuleiro se não houver uma pressão social para mudança de comportamento das lideranças políticas.