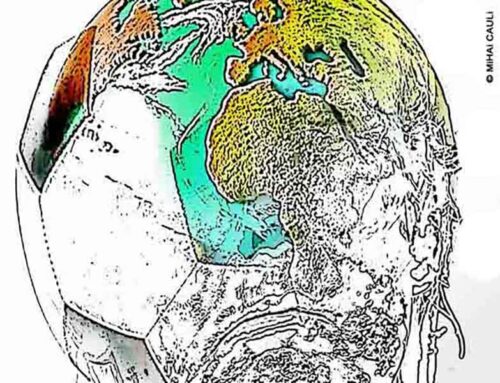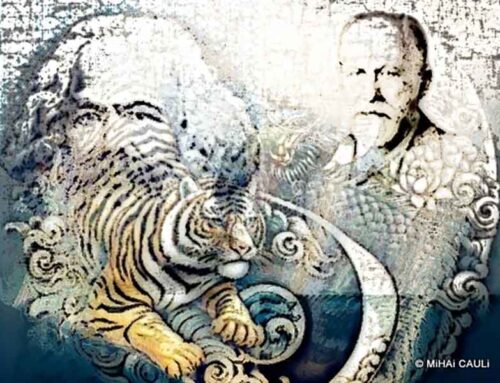Essa afirmação é óbvia e, por isso, devemos ir além para entender por que a atual Câmara dos Deputados e o Senado são vistos dessa maneira.

Este é o pior Congresso Nacional da história republicana, ou pelo menos o pior desde o fim da ditadura militar. Essa afirmação é óbvia e, por isso, devemos ir além para entender por que a atual Câmara dos Deputados e o Senado são vistos dessa maneira. Os atuais presidentes das Casas – o deputado Hugo Motta e o senador David Alcolumbre, respectivamente – são vergonhosamente desqualificados para os cargos. Em alguns momentos, chegam a parecer meliantes chantageando a nação. No entanto, eles não estão lá por acaso, foram eleitos. Motta com votação expressiva, e Alcolumbre após cumprir o tempo regimental para a reeleição. Portanto, são presidentes que servem à maioria dos parlamentares. Eles não tomaram as casas de assalto.
Passemos, então, ao conjunto dos parlamentares: 81 senadores e 513 deputados, todos eleitos pelo voto universal. Os leitores mais atentos dirão, corretamente, que parte significativa dos deputados não alcançou a vaga apenas por seus votos nominais, mas por consequência dos quocientes eleitorais. Embora isso sempre tenha ocorrido, as últimas reformas eleitorais eliminaram aberrações e tornaram obrigatório que o candidato tenha, no mínimo, 10% dos votos do quociente eleitoral para ser eleito. Contudo, se por um lado essa regra impede distorções, por outro, não se traduz em melhoria na qualidade dos deputados.
Esse cenário fundamenta um discurso antilegislativo: "eles não nos representam", "só estão lá para roubar", "não valem nada", perspectiva que culmina até na ideia de fechar o Congresso Nacional. O peculiar é que esse tipo de visão crítica ao Legislativo circula em todos os espectros da política brasileira, misturando um sentimento de vingança com pouco apreço à democracia.
Certamente, os parlamentares não nos representam integralmente como população, e é impossível que o façam. Isso só seria viável se fossem escolhidos por um recorte estatístico aplicado a todos os cargos e partidos, uma ilusão que beira o absurdo. Ainda assim, é inegável que os deputados e senadores de hoje são mais representativos do que foram há 50 ou 100 anos. Quanto mais organizada e demandante for a sociedade, e quanto mais próxima dos partidos políticos, maior será a possibilidade de uma representação mais paritária em relação a classe, gênero e raça.
Isso garante parlamentos melhores? Não obrigatoriamente. Poderão ser até mais justos em termos de representação populacional, mas não necessariamente melhores na defesa dos interesses atribuídos às classes populares, às mulheres ou os negros. Deve-se ter presente que esses interesses são demandados como legítimos apenas por grupos dentro desses próprios segmentos. Um exemplo contundente: o aumento do número de mulheres deputadas, uma grande conquista do movimento feminista, acabou por trazer ao parlamento um grupo de deputadas de extrema direita cujos pontos de vista são diametralmente opostos às demandas históricas do movimento.
Por que, então, chegamos a este momento em que as iniciativas do Congresso se concretizam majoritariamente em projetos corporativos ou que defendem os setores mais ricos e menos comprometidos com o bem-estar social? Embora o Congresso atual aprove projetos importantes, quase todos se originam no Executivo e vêm em troca de polpudas e pouco republicanas emendas parlamentares.
Talvez pela minha formação em História, entendo que, para explicar o Congresso atual, é preciso voltar ao período da redemocratização. É na Constituinte de 1987/88 que se constitui o Centrão, grupo que freou as propostas mais avançadas, composto por deputados e senadores politicamente ultraconservadores, próximos ao regime militar, que buscavam se apresentar como "democratas de centro". Naquela época, ninguém assumia ser de direita. Desde então, eles se mantiveram no Congresso.
Durante a hegemonia PSDB-PT no Executivo (que formavam grandes bancadas), o Centrão perdeu protagonismo, mas não a capacidade de articulação política. No governo FHC, eles atuaram como força auxiliar do PSDB, mas, mesmo assim, FHC precisou comprar votos para aprovar a emenda constitucional que permitiu sua reeleição. Aquele foi talvez o primeiro momento pós-ditadura em que o Centrão percebeu como usar o multipartidarismo para obter vantagens.
O subsequente "escândalo" do Mensalão, embora não desculpe o PT, foi uma repetição do que Cardoso havia feito. Poderia ter agido diferente? Teria sobrevivo? Tenho minhas sérias dúvidas.
Não se pode chegar ao governo Bolsonaro sem antes reconhecer o derretimento do sistema político partidário em 2013. Por cálculos políticos equivocados do PSDB e incapacidade do PT de ler os acontecimentos, o sistema entrou em colapso. Enquanto analistas apostavam que o "Petrolão" mataria o PT e revigoraria o PSDB, Geraldo Alckmin obteve menos de 5% dos votos nas eleições presidenciais de 2018 e o partido se desintegrou.
O fim do equilíbrio entre o PT e a centro-direita democrata desestruturou o sistema. O eleitor não-petista ficou órfão. A desqualificação da política ganhou combustível. Criou-se a tempestade perfeita para o falso outsider Bolsonaro se cacifar, sem o elitismo do PSDB ou o sindicalismo do PT, e sem qualquer ideia, a não ser estar contra o status quo e criar uma figura caricata e popular do tiozão de sandálias havaianas comendo pão com leite condensado.
O desarranjo levou não só ao aparecimento de figuras como o ex-presidente (atualmente preso por múltiplos crimes contra a democracia), mas também à diminuição do protagonismo dos dois grandes partidos. Ironicamente, na destruição do sistema partidário que se seguiu à criminalização da política pela Lava Jato, o único partido estruturado que restou foi o PT, justamente o que a ação de Moro e seus procuradores pretendiam apagar da vida política. Bolsonaro, com seu governo inábil, entregou de vez parte significativa do orçamento da União aos parlamentares via emendas.
O Centrão se agigantou em poder e em número. O resultado é o Congresso que temos: eleitos por partidos que se formam e desaparecem ao sabor das brigas internas do Centrão, agora incorporando a extrema direita como camarada inseparável. Partidos como o PSL (com uma bancada arrebatadora em 2018) praticamente sumiram e deram lugar ao PL, que tem hoje uma poderosa bancada, e ao Republicanos (com fortes ligações evangélicas), todos em busca de polpudas emendas individuais.
Os eleitos são, em sua maioria, aqueles mais capazes de responder a demandas menores, mais fáceis de serem atendidas e de impacto junto a uma população que, por mais de uma década, foi ensinada a odiar a política, a identificá-la com o que há de pior e a não acreditar em soluções coletivas. O grupo que se distingue é o dos eleitores do PT, historicamente correspondentes a cerca de 30% do país, uma parcela menor do que a dos apoiadores de Lula, uma grande liderança popular.
Termino pessimista, pois não há espaço para otimismo. Quem votou em Bolsonaro também elegeu candidatos legislativos reacionários, conservadores e autopromovidos como antipolítica. Quem votou em Lula, no entanto, não votou obrigatoriamente no PT ou em seus aliados de esquerda/centro-esquerda. Esta é a trama a ser decifrada. Talvez o que esteja ocorrendo é que a direita e a centro-direita, que comiam de garfo e faca, ficaram órfãs e se abrigaram sob as asas do quase neofascismo que caracteriza nossos tempos. Daí termos o pior Congresso Nacional pós-ditadura militar. Fechá-lo, jamais; desqualificá-lo como instituição, nunca. Entender o processo, lutar por sua requalificação e votar sempre. O voto é elemento fundante fundamental para qualquer esperança de uma democracia mais legítima e justa. (Publicado no Sul 21)
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "O bolsonarismo e as Brigadas Vermelhas", de Halley Margon.