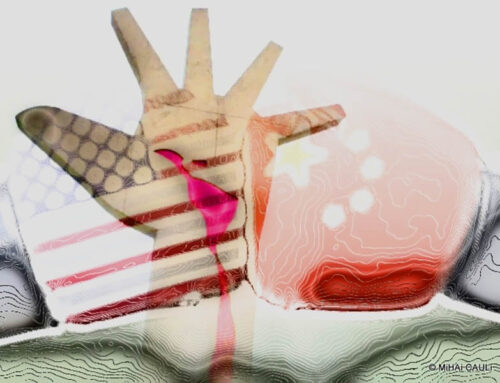Com o desenvolvimento recente do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com uma escalada de atrito de baixa intensidade para guerra em escala total, com todos os componentes – de blindados, bombardeios a milícias populares e coquetéis molotov -, parte da imprensa e alguns analistas começaram a se referir à situação como o início de uma nova guerra fria, o que considero ser, no mínimo, um erro.
(Spoiler alert: não vou discutir aqui as motivações e o desenrolar do conflito bélico em si, mas suas consequências geopolíticas de médio e longo prazos).
Não é uma surpresa que o ser humano, para entender os eventos que o circundam, se vale do vocabulário que conhece para descrevê-lo e da comparação com o passado para tentar entender o ocorrido. Combinamos, portanto, linguagem e memória. Este processo, comum em nosso cotidiano, não é diferente quando se trata da análise de fenômenos de grande impacto social, feitos por analistas especializados e com ampla formação acadêmica.
No entanto, se espera do historiador, sociólogo, cientista político ou mesmo do jornalista especializado em política internacional um conhecimento mais aprofundado da história do que do leitor leigo, bem como um uso acurado das palavras como conceitos imbuídos de um significado sustentado por teorias desenvolvidas ao longo dos séculos para entender o mundo em que vivemos.
O que foi intitulado de Guerra Fria se descreve como o enfrentamento pela hegemonia política mundial entre dois países, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como representantes de duas visões de mundo conflitantes, o capitalismo e o socialismo. Teve início com a política de combate à expansão da influência soviética no pós guerra, à época do presidente norte-americano Harry Truman. Embora os artífices das bases da política exterior americana no período tenham sido personagens como George Kennan, Dean Acheson e George Marshall, foi o presidente quem serviu para denominar a Doutrina Truman (embora um de seus fundamentos, o plano de reconstrução da Europa, fosse nominado como Plano Marshall).
Considera-se que a Guerra Fria teve fim como desmantelamento da União Soviética em 1991, o que foi interpretado por intelectuais como Francis Fukuyama como a vitória do capitalismo e o fim da história.
Durante algum tempo este triunfalismo levou os estadunidenses a pensarem a si mesmos como a única superpotência no mundo, destinada por forças superiores a guiar o mundo em direção ao progresso, interpretando como fazer que o resto do mundo fosse o mais parecido possível com a sociedade norte-americana.
Os últimos 30 anos mostram em um dos espelhos desta sociedade, o cinema de Hollywood, a busca desesperada pela identificação de um novo inimigo a ser derrotado nesta luta pela salvação moral do mundo por um herói vestido com as cores da sua bandeira. Este papel foi ocupado em diferentes momentos por máfias russas, iugoslavas, cartéis colombianos, árabes, chineses e extraterrestres.
A ilusão da vitória final do American Way of Life foi se desfazendo com o passar do tempo. A China desenvolveu-se nos campos econômico, tecnológico e militar, para se tornar a segunda economia mais importante do mundo, com possibilidades reais de suplantar os EUA em poucos anos. A exportação do modelo americano manu miltare provou-se de resultados duvidosos nos casos vistos como sucesso, como na Bósnia e em Kosovo, falha, na substituição de antigos ditadores por estados falidos no Iraque e Líbia, e com derrota fragorosa e humilhante na Somália e no Afeganistão.
O sucesso foi maior quando foi usada a diplomacia do investimento econômico, em aliança com a União Europeia. O fim da União Soviética permitiu a inclusão no bloco de grande parte dos países da Europa oriental. Paralelamente, a partir de 1999 foi sendo ampliada a OTAN. Mas não resolveu o problema de onde acaba a Europa.
A Rússia, sob o governo de Boris Yeltsin, foi incorporada aos foros internacionais, passando o G7 para G8. A economia planificada soviética foi desmantelada em privatizações, que criaram em pouco tempo novos magnatas, que incorporaram o capitalismo ostentação, comprando com a nova riqueza iates, obras de arte e clubes de futebol ingleses. Esta não é a Rússia de Vladimir Putin, no entanto. Quem já foi um dos maiores impérios e depois a segunda maior potência nuclear não poderia aceitar se tornar um parceiro coadjuvante, um mero artista convidado e não um protagonista.
Uma primeira palavra, cujo significado tem sido utilizado de forma inadequada no presente: a descrição dos bilionários russos como oligarcas. Talvez esta denominação fosse mais próxima da verdade na década de 90, mas não tem fundamento nas duas últimas décadas. Uma oligarquia, conforme define Platão em “A República”, é o governo dos ricos que, graças a suas posses, têm o poder do Estado. Na Rússia de hoje estes indivíduos mantêm seu dinheiro e investimentos desde que e enquanto o Estado permita. Não são eles que têm poder para manipular Putin. São meros gerentes de negócios autorizados pelo poder político, que está em outras mãos. Se considerarmos a definição do Manifesto Comunista de que o Estado no capitalismo é o comitê executivo que gerencia os negócios da burguesia, o Estado russo hoje não se enquadra. Quem manda é a burocracia. Sua elite vive de prebendas e não de lucro.
A aproximação entre Rússia e China, fortalecida por uma declaração comum há poucas semanas, antes da ampliação do conflito militar na Ucrânia, tem sido utilizada como argumento para os que veem surgir uma nova Guerra Fria. A similaridade estaria na divisão do mundo em dois blocos: de um lado, o ocidente, lutando pela preservação da liberdade e da democracia e, de outro, o oriente, ditadores buscando aumentar seu poderio sobre terras alheias. O maniqueísmo macarthista da luta da democracia contra o totalitarismo revisitado. A eterna luta do bem contra o mal.
Esta narrativa, presente em muitos meios de comunicação hoje, não se sustenta frente a uma análise mais apurada. O conflito dos anos 50 opunha blocos ideologicamente diferentes, com propostas de organização política e social conflitantes e um baixo grau de relacionamento econômico entre os blocos.
Os EUA e a URSS davam suporte a seus aliados, com dinheiro e munições, lutando em terreno de terceiros pela hegemonia, mas nunca olho no olho. O mais próximo que se chegou a isto foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, que poderia ter destruído o mundo. Ao se incorporar a esfera de influência de cada um dos blocos, cada país poderia obter os benefícios da ajuda correspondente, enviando suas elites para serem formadas em Harvard ou na Universidade Patrice Lumumba. A China mal contava política e economicamente até a visita de Nixon, em 1972. Quem ficava de fora dos dois blocos criou o Movimento dos Não Alinhados.
Hoje temos um mundo dependente da estrutura fabril da China e uma Europa dependente das exportações de petróleo e gás da Rússia. Estes dois países não têm nenhuma intenção de exportar sua forma de governo ou seu modelo de sociedade para o mundo, até porque, afora pela presença de uma visão nacionalista, pouco aproxima a China, que reverencia Mao, com a Rússia do Cristianismo Ortodoxo.
De outro lado, nenhum dos dois tem o monopólio do bem e do mal. As eleições realizadas na Rússia podem ser consideradas não totalmente livres, mas certamente é um país com maior liberdade política e de expressão que os diversos aliados dos EUA no Oriente Médio, as ditaduras religiosas da Arábia Saudita, dos diversos emires e generais do Egito. O ditador sanguinário de ontem pode ser o governo tolerado de hoje, como demonstra a reaproximação entre os governos de Biden e Maduro, alimentada pela necessidade de novas fontes de petróleo.
A mesma falta de convicção da existência de blocos opostos por diferenças irreconciliáveis se dá na diplomacia europeia de luvas de pelica, disposta a enviar armas à Ucrânia, mas sem se sujar de sangue, para não irritar o urso russo. Enviar tropas para a Coreia e o Afeganistão é uma coisa, arriscar a própria população para defender o vizinho, outra. A Ucrânia foi estimulada a provocar a disputa, com o aceno de uma aproximação com a União Europeia, o que levou ao golpe de 2014 e depois foi deixada à própria sorte. Na medida em que houver um acordo de cessar fogo, o gás russo continuará a alimentar os aquecedores alemães e estes, para aplacar a consciência, enviarão recursos para reconstruir Kiev.
Com exceção do povo ucraniano, verdadeira vítima do conflito, os demais são discursos cínicos que, detrás de grandes proposições, ocultam a simples defesa dos interesses pessoais ou nacionais em ambos os lados. Não estamos diante da criação de blocos estanques, que estarão separados por mais de 40 anos. Não haverá um novo Checkpoint Charlie. E os celulares, em sua maioria, continuarão a vir da China na próxima década.
Isto não significa que este conflito não vá deixar marcas duradouras na ordem mundial.
Quando fez sua análise dos anos 1900, Eric Hobsbawn denominou o período o Breve Século XX, considerando que este iniciou com a revolução russa e terminou com o fim da União Soviética. Quando for alcançado algum acordo de interrupção da ação militar que está ocorrendo agora – que pode ser do tipo ocorrido na Coreia, uma guerra que nunca foi declarada finda – o mundo globalizado que emergiu em 1991 terá desaparecido.
Não porque haverá um retorno a um modelo econômico autárquico típico da produção industrial do século passado. A internet e o produção industrial descentralizada não vão desaparecer. Mas haverá uma pulverização do sistema centralizado e integrado que se desenvolveu a partir de Bretton Woods.
Acelerando um processo que já vinha ocorrendo, países com importância econômica como a China irão buscar alternativas ao domínio do dólar, seja como reserva, seja como meio de pagamento. As criptomoedas já estão aí para oferecer uma saída.
A internet se tornará mais controlada, com o modelo do Great Firewall chinês se reproduzindo em outras partes. A perda de importância dos EUA como potência dominante pode ocorrer mais rapidamente. A ONU como espaço de debate e resolução de conflitos, que vinha pedindo urgentemente por uma reforma, na medida em que tentar reduzir o peso de russos e chineses pode se tornar irrelevante, repetindo o fiasco da Sociedade das Nações.
Contudo, o paralelo histórico que talvez ajude melhor a entender o que teremos pela frente talvez não seja o da Guerra Fria que, apesar de tudo, foi um período de relativa estabilidade, mas o do entre-guerras 1918-1939, com potências dominantes em declínio e potências emergentes tentando ocupar o seu lugar e as disputas resultantes deste processo afetando o mundo como um todo. Esperemos que esta nova transição que nos espera entre dois períodos históricos não acabe como a anterior. Senhoras e senhores, me atrevo a dizer que o século XXI começa agora.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Clique aqui para ler artigos do autor.