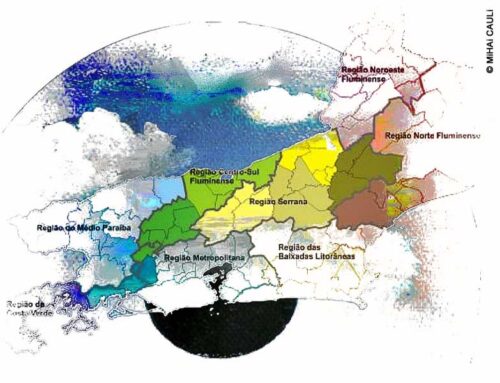O começo do mês de agosto trouxe à tona um debate sobre a política econômica adotada desde a formação do atual governo. A discussão envolve uma banda aparentemente mais ideológica – formada por uma coalizão entre liberais fundamentalistas e fiscalistas não menos fundamentalistas -, mas calçada fortemente em importantes setores do mercado financeiro. O outro grupo é mais pragmático e aparentemente “concedeu” o protagonismo aos primeiros no início do governo, esperando que eles talvez pudessem chegar a algum resultado positivo, mas na medida em que esses resultados não apareceram, cresceu e disputa pelo protagonismo na formulação da política econômica.
Depois de um primeiro ano sofrível, com a estagnação da economia seguindo na marcha dos dois últimos anos do governo Temer, ou seja, o PIB rodando a 1% ao ano, e com as anunciadas privatizações maciças e a venda de imóveis do governo federal que praticamente não aconteceram, o resultado foi um déficit nominal (resultado primário, diferença entre arrecadação e gasto, mais o desempenho financeiro, isto é, o pagamento de juros e amortizações) de quase 6% do PIB, com a dívida bruta do setor público seguindo em torno de 76% do PIB. Vale lembrar que durante a campanha, Bolsonaro e especialmente Paulo Guedes anunciavam que arrecadariam cerca de R$ 1 trilhão com a privatização, resolvendo magicamente os problemas do orçamento público.
Portanto, a equipe econômica anunciara que obteria resultados com a continuidade da política fiscal apertada e nada aconteceu. E o ministro Guedes, assim como anteriormente o Meirelles no governo Temer, anunciara que sua reputação e credibilidade, com a continuidade do fiscal-liberalismo ajudariam – pela captação de investimentos internacionais -, mas o resultado foi a saída de capitais. O prosseguimento da ortodoxia e da contração fiscal, ao contrário do anunciado, não levaram ao paraíso, muito pelo contrário.
Com a pandemia, o que já era ruim foi para o campo do péssimo. Os capitais fugiram ainda mais, em um quadro em que a aversão internacional ao risco (que acontece por todos os lados, especialmente nos chamados “mercados emergentes”) se somou à aversão internacional a Bolsonaro, com sua agressiva política hostil às causas sociais, aos povos indígenas e ao meio ambiente.
O resultado das queimadas do ano passado e da flexibilização de proteção a povos e territórios indígenas gerou cobranças e mais cobranças de fundos trilionários de investimento internacionais, preocupados com o risco reputacional de seus gestores no caso de qualquer sinalização de busca de oportunidades de negócios no Brasil. Isso obviamente dificulta muito a atração de capitais para viabilizar os investimentos privados em infraestrutura ou mesmo eventuais parcerias público-privadas com os quais o atual governo imaginava poder recuperar algum dinamismo da economia em um ambiente de estagnação.
Com o recuo do PIB, a arrecadação deve cair fortemente, e a queda da renda das famílias e do investimento privado deve se acentuar. Em um quadro em que o investimento público está reprimido e o comércio internacional na retranca, a continuidade das definições iniciais da área econômica do governo Bolsonaro levarão a um inevitável agravamento da situação econômica em que estamos metidos.
É nesse quadro da economia que dois movimentos no campo da política passam a impulsionar a disputa na área econômica. O embate é capitaneado por liberais e fiscalistas – os tais pragmáticos lá do começo do governo, que concediam protagonismo aos primeiros esperando por resultados, mas que não podem esperar indefinidamente, e seguir vendo a estrutura produtiva e a infraestrutura de integração nacional se desmantelarem, entre eles parte expressiva dos militares que participam do governo.
De um lado, temos as discussões a respeito de um eventual impeachment de Bolsonaro e sua consequente aproximação com o tal Centrão da política como forma de escapar da desidratação congressual que lhe vinha sendo imposta pelos que comandam de fato a política no Parlamento. Essa negociação, que é feita por meio da distribuição de cargos e espaços de poder, não faz nenhum sentido para os seus novos ocupantes se esse movimento não for acompanhado de alguma capacidade de fazer gastos, o que já implica de fato flexibilizar a austeridade.
Outro aspecto é o desastre econômico e social da pandemia que chamou a atenção do presidente para as possibilidades de efeitos eleitorais potencialmente positivos de programas sociais. Por exemplo, o “auxílio emergencial” em curso, ou um futuro “bolsa família” reempacotado sob nova roupagem no chamado “Renda Brasil”, ambos não escaparam de seu faro “oportunista” (aqui é importante um parênteses, não vai nenhum juízo de valor ao termo “oportunista”, que normalmente tem um sentido bastante negativo no campo da política, mas pode ter um sentido bastante positivo na linguagem esportiva, quando se faz referência, por exemplo, a um goleador oportunista).
Como na expressão política econômica, a política é o substantivo e cresceu a ponto de vir para as primeiras páginas dos jornais e websites com a disputa no interior do atual governo. Disputa que coloca, de um lado, o velho liberalismo (aqui associado aos fundamentalistas fiscalistas) com cada vez menos fôlego, mas ainda sustentados por expressivos interesses financeiros. E de outro lado, uma aliança de pragmáticos da economia e da política, que configurou o que talvez se possa chamar de um “bolsonarismo de resultados”. Resultados que precisam ser alcançados, até para tentar dar uma sobrevida ao governo, ameaçado por sua fragilidade especialmente entre os formadores de opinião e as forças políticas no Congresso. Essa é a disputa que vamos ver se desenrolar na definição política econômica no próximo período. E com ela, o futuro do atual governo e sua sucessão.