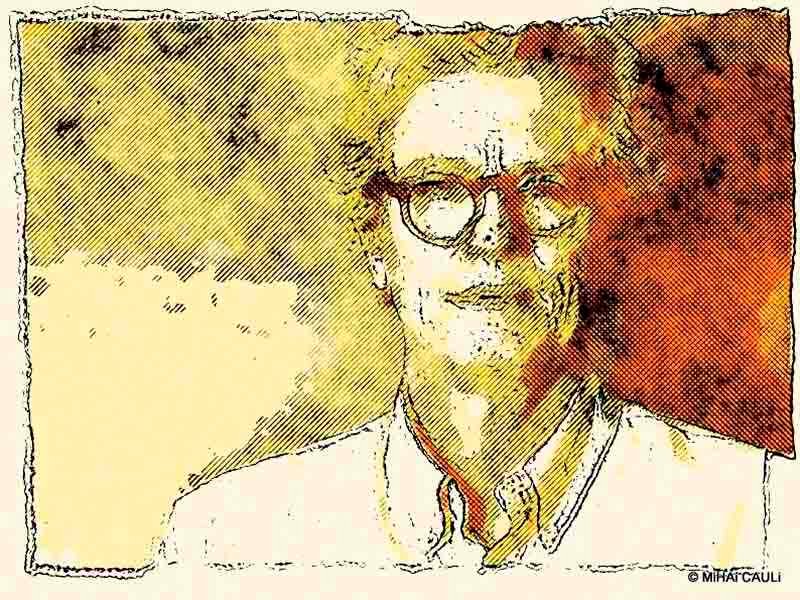
Volto a escrever sobre a extravagante política de juros do Banco Central. O assunto é vasto; vou me ater ao que parece mais relevante na atual conjuntura brasileira.
Começo com a divisão da diretoria do BC. Antes da mais recente reunião do Comitê de Política Monetária do BC (Copom), a mídia anunciou um combate de proporções épicas. De um lado, os conservadores, defendendo redução de 0,25 ponto percentual da Selic, a taxa básica de juro. De outro, os revisionistas, lutando por uma diminuição de 0,5 p.p. Prevaleceu o grupo conservador, com cinco votos, contra o grupo minoritário, os quatro diretores indicados pelo presidente Lula.
Mas foi, na verdade, uma Batalha de Itararé. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. A ata dessa reunião do Copom, como seria de prever, valeu-se do habitual “banco centralês” para apaziguar ânimos e restabelecer a concórdia entre os nove ilustres integrantes do colegiado.
Persiste o problema de fundo, entretanto. Em dezembro, termina o mandato do atual presidente do BC – o que é motivo de esperanças e temores. Esperanças para nós, que queremos uma mudança de orientação da política monetária. Temores para a turma da bufunfa, sempre agarrada à prática de juros exorbitantes.
O que quer o mercado? Idealmente, que Roberto Campos Neto continue ou, o que daria no mesmo, que seja substituído por outro funcionário graduado do sistema financeiro, daqueles que seguem o script e não ameaçam os interesses estabelecidos.
Não sendo isso possível, e por via das dúvidas, a turma da bufunfa tenta intimidar o governo, em especial o ministro da Fazenda. Faz sentir, de várias maneiras e por vários canais, que a escolha não pode recair sobre nome pouco palatável. Se o sucessor não puder ser um deles, que seja uma figura inofensiva e cooptável.
A mídia corporativa, que sempre ecoa as inquietações e interesses do mercado financeiro, prevê há tempos, sem muita alegria, que Gabriel Galípolo, será o próximo presidente do BC. Galípolo tem um perfil pouco usual – formação econômica heterodoxa, mas com passagem pelo sistema financeiro. Foi um dos quatro que preferia um corte de 0,5 p.p. na última reunião do Copom. Provavelmente liderou o grupo dissidente.
Parece-me, aliás, que montaram uma pequena armadilha para ele. Aproveitaram algumas declarações suas ligeiramente “fora da caixa” para estigmatizá-lo como um pouco irresponsável e sujeito à influência política do governo. Campos, em contraste, seria “técnico”, “responsável” e “independente”. Um disparate. Entretanto, o placar do Copom, 5 a 4, ajudou a dar alguma sustentação a essa narrativa.
Mas deixemos de lado esses movimentos táticos. Há questões mais fundamentais, entre outras a seguinte: por que o BC insiste tanto na política de juros altos? É possível justificá-la?
Os efeitos colaterais são muitos e desagradáveis. A política monetária prejudica as finanças públicas via custa da dívida governamental, dificulta o crescimento econômico e a formação de capital, provoca concentração da renda nacional. Os argumentos em seu favor teriam que ser muito fortes. E são? Vejamos.
A argumentação do BC tem essencialmente duas partes. A primeira é que a sua tarefa primordial, estabelecida em lei, é conduzir a política de juros de forma a alcançar as metas de inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Pela legislação vigente, o BC só deve se preocupar secundariamente com os efeitos da sua política sobre os níveis de atividade e de emprego. Em outras palavras, a lei brasileira estabelece para o BC um mandato dual, porém assimétrico. Na prática, o foco é na inflação.
A segunda parte do argumento é que os modelos macroeconômicos adotados pelo BC indicariam, supostamente com alguma segurança, que o elevado nível da Selic é indispensável para garantir a convergência da inflação às metas fixadas pelo CMN. Os efeitos adversos da política monetária sobre a atividade econômica, o déficit público e a distribuição da renda seriam o preço a pagar para manter a inflação dentro das metas.
Essa argumentação pode parecer sólida, ela conta com muito apoio no mercado financeiro, na mídia e nos meios acadêmicos tradicionais. E, no entanto, não é difícil perceber as suas fragilidades.
Omite-se, com frequência, o fato de que o BC não é simplesmente um executor de metas fixadas pelo CMN. O presidente do BC é um dos três membros do Conselho, sendo os outros dois o ministro da Fazenda e o do Planejamento. Este último tende a ter menos peso por estar distante dos assuntos monetários. Atualmente, como a ministra Simone Tebet não é do ramo, a influência do Planejamento é ainda menor do que a habitual. Além disso, o BC exerce a secretaria do Conselho. Como sabe qualquer pessoa experiente, quem exerce a secretaria de um órgão tem peso decisivo nas suas deliberações. Assim, repito pela enésima vez, o BC, em larga medida, fixa as metas para si próprio. Essa foi uma das questões “fora da caixa” levantadas por Galípolo pouco tempo antes da mais recente reunião do Copom.
Além disso, e talvez mais relevante, cabe a dúvida: será que as metas de inflação não seriam excessivamente ambiciosas, contribuindo para que os juros fiquem nas alturas? O presidente Lula fez essa pergunta publicamente algumas vezes. Ficou sem resposta convincente. Se o centro da meta de inflação fosse um pouco mais alto e o intervalo de tolerância (a distância entre teto e piso), um pouco mais amplo, não teria o BC mais raio de manobra para suavizar a política de juros?
A meta para 2025, por exemplo, é 3% com um intervalo de tolerância de 1,5 p.p. para cima e para baixo. Um ajuste modesto das metas estabelecendo, digamos, uma meta de 3,5%, com intervalo de tolerância de 2 p.p. para cima e para baixo, dificilmente traria risco de descontrole inflacionário e favoreceria a prática de juros reais mais civilizados.
Mas não é só isso. Que modelo ou modelos são esses que geram a necessidade de manter juros sempre na estratosfera? Todo modelo econômico envolve uma dose considerável de incerteza. Qualquer um que tenha experiência nessa área sabe que eles não são capazes de dar respostas unívocas às principais questões. Por isso, aliás, é que os BCs nunca se baseiam apenas em modelos e nas projeções deles derivadas. Para a tomada de decisões, observam todo um conjunto de variáveis, indicadores e informações.
Ora, muitos desses indicadores sugerem que seria possível, sim, flexibilizar mais rapidamente a política monetária. Dadas as incertezas que sempre cercam a questão, a polêmica é inevitável e tende a ser acirrada. Em favor da redução, pode-se alinhar as seguintes evidências, entre outras. A taxa de inflação corrente está sob controle e não apresenta tendência de alta. Para este ano e o próximo, as projeções de inflação não indicam grande diferença em relação às metas. A economia apresenta capacidade ociosa na indústria e taxas elevadas de desocupação dos trabalhadores (sobretudo nas definições mais amplas de desemprego). Existe, finalmente, muita folga no balanço de pagamentos, o que permite ampliar as importações com tranquilidade. A catástrofe no Rio Grande do Sul, como todo choque de oferta, pressiona a inflação e derruba a produção, mas não modifica radicalmente, até onde se pode enxergar, o quadro econômico nacional.
Má notícia para a militante turma da bufunfa: parecem duvidosos os argumentos em defesa das generosas taxas de juro que tanto apreciam e que tanto os favorecem. Boa notícia para os inconformados com a política monetária atual: os juros poderiam ser mais baixos, com impacto benéfico sobre a atividade econômica, o emprego, a dívida pública e a distribuição da renda. (Uma versão resumida deste texto foi publicada na revista Carta Capital.)
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Leia também “Austeridade fiscal e reconstrução nacional“, de Paulo Kliass.






