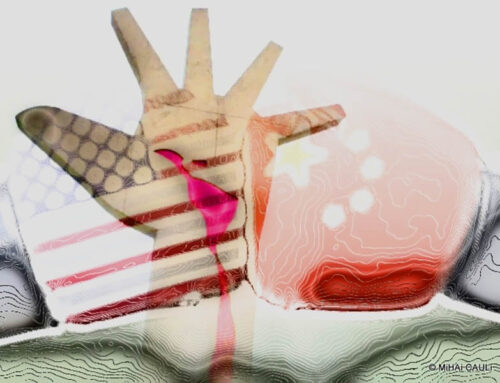Quando a peste negra assolou a Europa em meados do século XIV – causando a morte de 60% da população europeia, segundo algumas estimativas – a crença de que se tratava do final dos tempos se disseminou junto com a Yersinia Pestis. Grupos de peregrinos flagelantes surgiram em quase todos os lugares, causando tumultos, depredações e instigando o massacre de judeus, considerados responsáveis pela catástrofe. As desordens chegaram a tal extremo que, em 1349, o Papa Clemente VI – que sobreviveu à epidemia isolado num salão do Vaticano, cercado de piras ardentes – proibiu as seitas flagelantes declarando-as heréticas. No entanto, como se sabe, o fim do mundo não aconteceu; mas as consequências econômicas, políticas e sociais da peste foram decisivas para o fim da Idade Média e o início do Renascimento.
Hoje, enquanto o mundo enfrenta perplexo o Coronavírus, muitos especulam quais mudanças a pandemia trará para nossa época. Infelizmente, ainda é cedo demais para sabermos. No entanto, nesse momento, vale a pena olharmos para trás e tentarmos compreender em que condições estamos e como chegamos até aqui. Proponho nesse artigo focarmos nos aspectos econômicos do nosso sistema capitalista neoliberal e seus resultados para os países do Ocidente.
A mais relevante e essencial contribuição do liberalismo à civilização ocidental foi trazer à política a noção de indivíduo. Quando, no final do século XVIII, os revolucionários franceses trouxeram à luz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lançaram o marco fundamental, ao redor do qual, todo o pensamento político do Ocidente iria girar pelos próximos 230 anos (e sem perspectiva de mudança neste século XXI).
A própria democracia liberal ou burguesa (que, segundo Francis Fukuyama, havia sido coroada com o fim da história após o desmantelamento do socialismo real no leste europeu) ganha seus contornos peculiares em relação à democracia clássica graças ao reconhecimento do indivíduo como ser dotado de direitos fundamentais, naturais e inalienáveis, insuscetíveis de serem violados até mesmo por decisões da maioria.
A verdade de que a democracia liberal nasceu com forte vocação aristocrática – tendo tido seus limites expandidos basicamente pelos movimentos socialistas ao longo dos séculos XIX e XX, para incluir gradualmente a participação de trabalhadores, mulheres, jovens, analfabetos, etc. – não invalida o fato de que o individualismo representou um avanço importante na criação de um espaço privado, de liberdade individual, insuscetível de escrutínio pelo soberano.
O individualismo também foi elemento decisivo no estabelecimento do capitalismo como modo de produção dominante, ao proclamar a liberdade econômica e de contratos, estilhaçando o feudalismo (com seu mundo rigidamente estruturado em ordens e castas), criando o livre mercado, consagrando a livre iniciativa e disponibilizando uma massa de mão de obra apta ao trabalho assalariado. O potencial criador dessa “invenção” não encontra paralelo na História. Os próprios Marx e Engels, em pleno Manifesto Comunista, não titubeiam em reconhecê-lo quando afirmam que o capitalismo liberal “criou forças produtivas mais numerosas e mais colossais do que todas as gerações passadas em seu conjunto”.
Em O Capital no Século XXI, entretanto, Thomas Piketty demonstra que o capitalismo liberal, que existiu na sua forma mais pura, grosso modo, de meados do século XIX até os anos 1950, se mostrou incomparável na criação de riquezas e foi absolutamente incapaz de encontrar mecanismos endógenos para distribuí-la com um mínimo de racionalidade e justiça. Em outras palavras: o mercado, reconhecidamente o instrumento mais eficiente na alocação de recursos produtivos, não demonstrava a mesma capacidade quando se tratava de corrigir graves distorções e injustiças, estimulando a concentração cada vez maior de riqueza. Além disso, a tendência intrínseca à financeirização – vale dizer, o predomínio do setor financeiro sobre o setor produtivo da economia – magnificava as crises cíclicas, típicas do capitalismo, e tornava os custos sociais da “destruição criativa” cada vez mais intoleráveis.
A era keynesiana dos Trinta Anos Gloriosos representou o reconhecimento – ante a catástrofe da Segunda Guerra Mundial – de que era necessário estabilizar o capitalismo corrigindo as distorções do mercado, garantindo que o trabalho tivesse uma participação condizente nas rendas do capital e estabelecendo uma rede de proteção social – o chamado Welfare State – que proporcionasse condições dignas a todos os cidadãos. É bem verdade que, o espectro de uma União Soviética vitoriosa sobre o nazi-fascismo e a popularidade dos partidos comunistas no pós-Guerra, serviram de incentivo determinante para a virada keynesiana; mas, não obstante, é inegável que o consenso entre capital e trabalho, mediado pelo Estado, era que o capitalismo tardio (para usarmos um termo da Escola de Frankfurt) era o “novo normal” (para usarmos um termo hoje na moda).
A crise do capitalismo dos anos 1970 no entanto, – crise de acumulação de capital gerada pela fadiga do fordismo – levou por motivos variados ao rompimento deste consenso e conduziu, a partir de 1979, ao que Wolfgang Streeck chama de “Revolução Conservadora”, ou seja, a resposta ao colapso do capitalismo keynesiano não foi a criação de algo novo, mas o retorno ao antigo: o bom e velho liberalismo do século XIX, dessa vez epitetado “neo”.
Ao longo dos últimos 40 anos, governos neoliberais, à direita e à esquerda, lançaram mãos à obra. Esmagamento da organização sindical do trabalho, desmantelamento do Welfare State, privatizações generalizadas de serviços públicos, desregulamentação radical de atividades econômicas (sobretudo, serviços financeiros) conduziram hoje à concentração de riqueza mundial em patamares do século XIX e ao aumento dos níveis de empobrecimento generalizado (inclusive, das classes médias).
Ladislau Dowbor, por exemplo, em A Era Do Capital Improdutivo, após classificar a desigualdade existente como obscena, cita como exemplo o fato de que hoje oito indivíduos são mais ricos do que metade da população mundial (quase 4 bilhões de pessoas), sendo que desta, quase um bilhão estão abaixo da linha de pobreza. O professor da PUC-SP traz também o resultado de uma pesquisa sobre a “Pirâmide da Riqueza Global”, feita pelo grupo financeiro Crédit Suisse, insuspeito de qualquer esquerdismo, que mostra que “no topo, os adultos que têm mais de um milhão de dólares são 33 milhões de pessoas, o equivalente a 0,7% do total de adultos no planeta. Somando a riqueza que dispõem, são 116,6 trilhões de dólares, o que representa 45,6% dos 256 trilhões da riqueza avaliada”. A obscenidade maior, no entanto, está no absoluto cume da pirâmide, onde o 1% mais rico concentra mais riqueza que os 99% restantes.
Da mesma forma, e sintomaticamente, Piketty constata que a desigualdade na divisão das rendas entre capital e trabalho hoje “é apenas ligeiramente menor que no início do século XIX”, explicando que a partir de níveis historicamente baixos durante os Trinta Anos Gloriosos, com a eleição de Margareth Thatcher no Reino Unido e de Ronald Reagan nos EUA, tem início “o movimento de reconstituição do patrimônio” alimentado pela “globalização financeira e a desregulamentação dos mercados nos anos 1990-2000”. E conclui que “os níveis muito altos de capitalização patrimonial que hoje observamos nos países ricos parecem ser explicados, antes de tudo, pela volta de um regime de crescimento baixo tanto da população quanto da produtividade – combinados com uma conjuntura política que favorece claramente o capital privado”.
O Brasil, entre 2003 e 2015, parece ter andado na contramão da dinâmica neoliberal, mesmo assim, como demonstrou Laura Carvalho em Valsa Brasileira, “enquanto os 50% mais pobres aumentaram sua participação na renda total de 11% para 12% entre 2001 e 2015, os 1% mais ricos subiram a sua parcela de 25% para 28%”, sendo que, “quem perdeu com o processo de crescimento no período foi o meio da pirâmide: os 40% intermediários reduziram sua participação na renda de 34% para 32% naqueles anos”. Após 2016, com o polêmico impeachment de Dilma Rousseff, a adoção integral da ortodoxia neoliberal trouxe, além do recrudescimento da crise econômica já então instalada, baixo crescimento econômico e aumento nos índices de concentração de renda, desemprego e níveis de pobreza.
Não podemos esquecer, é óbvio, a espetacular debacle de 2008, quando o estouro da bolha especulativa com os subprime norte-americanos, mergulhou o mundo numa das maiores depressões da História, com um quadro de estagnação sem precedentes na renda derivada do trabalho, conforme demonstrou o estudo da OCDE, Employment Outlook 2018.
O panorama, portanto, da economia global sob a hegemonia do neoliberalismo produziu um cenário de altíssima desigualdade econômica e social, predomínio absoluto do capital sobre o trabalho, cada vez mais precarizado, e baixo crescimento econômico. Tudo isso com amplas repercussões sociais e políticas, não só nos países em desenvolvimento, mas, igualmente, nos EUA e na União Europeia. O reconhecimento de uma profunda crise de legitimidade na democracia liberal e os indícios claros de um esgarçamento do tecido social parecem, portanto, ter uma forte ligação com os desdobramentos destas quatro décadas neoliberais.
Voltando ao começo do nosso artigo: o surgimento da pandemia de CoVid-19, evidentemente, não aduz a este quadro qualquer elemento atenuante; pelo contrário, os impactos econômicos das medidas sanitárias imprescindíveis, segundo todos os prognósticos, serão indubitavelmente atrozes. Se produzirá mudanças que, como as causadas pela peste negra, nos conduzirão a alguma espécie de Renascimento, somente o tempo poderá dizer. Até lá, pelo sim, pelo não, arrependei-vos?