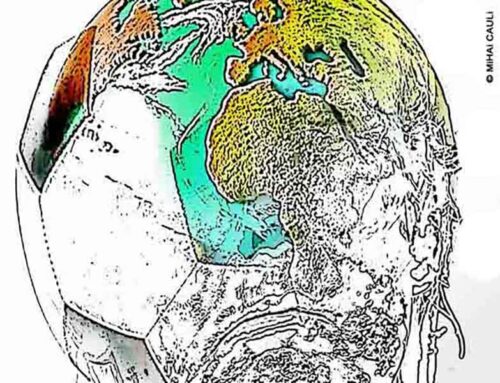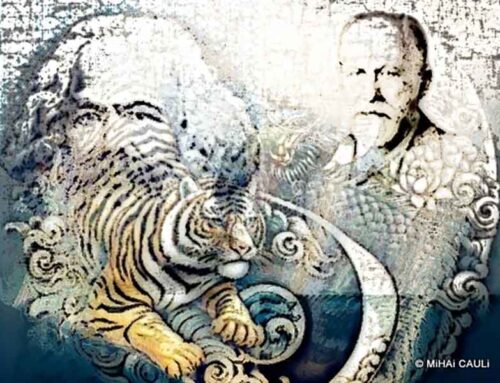É mais fácil desqualificar os eleitores de direita, principalmente os de extrema direita, do que tentar entendê-los. Vou resistir à tentação da primeira alternativa e ensaiar algumas ideias sobre a segunda.

Muita coisa pode ser dita depois das eleições de 6 de outubro passado, mas algo deve ser pensado antes de alardear pelos quatro cantos que houve surpresas nos resultados. Podemos tentar explicar um ou outro erro de escolha de candidatos e candidatas, ou erros de marqueteiros de campanha. No caso das candidaturas progressistas, é possível até mesmo acusar o presidente Lula de ter sido omisso para se preservar. Cada explicação colabora, de uma ou outra forma, para compreender os resultados, mas nenhuma possibilita entender o que está acontecendo com o processo político brasileiro.
Ouve-se repetidamente que a vitória nas eleições foi da direita, do chamado Centrão. Isto é verdade, mas não é uma novidade. O Centrão é constituído por um poderoso grupo de partidos de direita que não morre abraçado em seus princípios ideológicos, é fundamentalmente pragmático e está na política brasileira desde a redemocratização pós-ditadura militar. Precisamente, o Centrão se forjou na ditadura e foi o artífice da transição suave da ditadura para o regime democrático, que deixou os responsáveis militares e civis pelo regime de exceção vivido no Brasil sem nenhuma punição. Se observarmos com atenção, alguns remanescentes ainda circulam com poder pelos corredores atapetados de Brasília.
Isto posto, ao longo das décadas, experimentamos governos de centro-direita, centro-esquerda e extrema direita sendo tutelados, em maior ou menor medida, pelo Centrão, que não teve problema em se associar a qualquer destes grupos, desde que seus interesses fossem garantidos.
Os chamados partidos do Centrão nunca se preocuparam em ter candidatos à Presidência da República, sempre estiveram interessados em alianças e em grotões. Antes do atualmente insuflado PSD do Kassab, o PMDB, depois fantasiado de MDB, já fazia este papel. O Centrão dominava um enorme número de prefeituras, vereadores e alguns governadores de estados-chaves, mas não se candidatava à Presidência. Quando o fazia, abandonava com tanta facilidade seus candidatos que eles se transformavam em figuras patéticas. Sempre transitaram com grande naturalidade em governos de todos os matizes.
Apesar de sua existência perene, o Centrão não impediu que, por duas décadas, a democracia no Brasil tenha funcionado de forma bastante razoável. Havia dois grandes partidos capazes de chegar à Presidência da República, o que dava o tom da luta política no país: o PSDB e o PT. O primeiro governou por dois períodos; o segundo, por três e meio, até que o pacto se rompeu. O rompimento não decorreu de problemas dos governos – foi urdido pelas forças mais conservadoras e menos comprometidas com a democracia ou justiça social do país, que fizeram o PSDB capitular em nome do neoliberalismo econômico, da perversa e cínica pauta de costumes e contra a corrupção. O PSDB, que não havia conseguido vencer as eleições de 2014, achou que a única solução para chegar ao Planalto seria juntar-se à extrema direita para tirar a centro-esquerda do páreo, ou seja o PT. O lavajatismo imperou, um juiz de primeira instância tornou-se o paladino da lei, procuradores primários tinham espaços privilegiados nas TVs para apresentar PowerPoints escolares. E o PSDB achava que estava resolvendo seu problema. Houve dois lances que as forças de direita, sob a pretensa liderança do PSDB, julgaram serem garantias de paz: o impeachment da presidenta Dilma e a prisão do presidente Lula.
Deste complexo e disruptivo cenário, salvou-se o PT, por mais improvável que parecesse aos protagonistas da época, mas os efeitos desse acontecimento também foram perversos. Morrendo o PSDB, fez-se um espaço vazio na política, assumido imediatamente por um grupo quase mambembe à época: Bolsonaro, seus filhos, militares saudosos do poder e a escória do Congresso Nacional. O que fez o Centrão? Acoplou-se imediatamente à extrema direita e deu escopo para que pudessem se eleger e governar. Em 2022, perderam as eleições. Mesmo considerando todas as ilegalidades cometidas pelo bolsonarismo para impedir que as eleições presidenciais tivessem curso normal, não podemos desconsiderar que Bolsonaro teve quase o mesmo número de votos de Lula. A título de exercício, considerando que 10% dos votos dados à Bolsonaro foram comprados ou conseguidos de forma ilícita, ainda assim ele teria mais de 40 milhões de votos. Por isso é preciso levar em conta o outro lado da moeda deste processo: os eleitores.
É mais fácil desqualificar os eleitores de direita, principalmente os de extrema direita, do que tentar entendê-los. Vou resistir à tentação da primeira alternativa e ensaiar algumas ideias sobre a segunda, considerando duas premissas muito diversas. A primeira premissa é a de que, à exceção de eleições presidenciais, desde a redemocratização, o PP e o MDB sempre foram grandes ganhadores de eleições legislativas nos níveis municipal, estadual e federal. O PT, como maior partido de esquerda, e os demais partidos do mesmo espectro ideológico têm diminuído em muito seu quinhão neste vasto balaio de votos nas últimas eleições, mas nunca alcançou hegemonia, ou algo próximo disto, em eleições anteriores. Portanto, é impossível ignorar que há historicamente um voto conservador no Brasil que se expressa nos partidos que formam o chamado Centrão. Como eles, mormente o MDB, dançam conforme a música, pode até parecer que um voto emedebista seja um voto progressista. Nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, até o AVANTE se aproximou do PT.
A segunda premissa é bastante mais ampla e serve apenas como pano de fundo: há uma deterioração mundial do pensamento socialista e, portanto, de um projeto radical de esquerda. Uma ausência de utopia faz parte das discussões da esfera pública, o que joga a política do mundo nos braços da direita. Falo do mundo mesmo, do ocidente e suas franjas e dos países identificados como orientais ou, pelo menos, não ocidentais.
É neste cenário que precisamos pensar nos eleitores, e no aumento daqueles que se identificam com a direita e perigosamente com uma extrema direita. Eles não são mais os vetustos senhores e senhoras do Brasil profundo, mas são constituídos pela juventude dos centros urbanos.
Chamemos Pablo Marçal do que quisermos, mas 30% dos paulistanos que foram às urnas e escolheram algum candidato, votaram nele. Se não entendermos isto, também não entenderemos o voto bolsonarista ou a escolha do vereador mais votado de Porto Alegre, que se apresentava como "direita de verdade".
A explicação de que a esquerda não sabe usar as redes sociais é preguiçosa. Sim, a direita tem mais habilidade com os aparatos digitais, mas isso não explica tudo. Pouca gente acredita nas grandes mentiras que são jogadas nas redes sociais e reproduzidas a rodo. O importante não é acreditar, mas fazer crer que acredita. Este é um posicionamento ideológico, moral, de classe, anterior a qualquer fake news. A adesão é de outra natureza.
Em artigo clássico, "Ideologia e aparatos ideológicos do Estado", o hoje "lacrado" filósofo marxista Luis Althuser matou a charada da adesão de um sujeito a um discurso ideológico ao explicar, de forma muito simples, o conceito de interpelação, com o exemplo de um policial gritando na rua "Ei você aí" e a pessoa certa se virando. Uma grande quantidade de eleitores virava para a esquerda quando um candidato falava sobre o povo. As pessoas diziam "este sou eu", eram interpeladas pelo discurso. Para irmos mais longe na história, quando Getúlio Vargas começava seus discursos com "Trabalhadores do Brasil", o povo pensava: "ele está falando comigo". O mesmo ocorria com os descamisados de Juan Peron, na Argentina.
A pergunta que não quer calar frente a estes exemplos é: por que Bolsonaro interpela? Por que Pablo Marçal interpela? Por que o vereador "direita de verdade" interpela? Por que o prefeito de Porto Alegre interpelou as populações dos bairros que mais sofreram com as enchentes de maio, mesmo tendo uma atuação pífia como administrador à época? Por que Boulos não consegue interpelar as populações das regiões mais pobres da cidade de São Paulo, para as quais dedicou a vida lutando por moradia adequada para elas?
Estas perguntas poderiam se multiplicar, mas só cansariam os leitores. O que elas querem demonstrar é que há um desencaixe entre o que oferece a esquerda e as demandas dos eleitores. A resposta não é simples, mas apontarei duas novas características dos eleitores atuais que parecem contribuir para este desencaixe.
A primeira delas é consequência de todo o processo de desmonte da política levada a efeito pelos acontecimentos promovidos pela elite conservadora que pensava poder destruir o PT sem se auto implodir. Associando-se a uma parcela do judiciário de primeira instância (misto de ativismo político com poucas luzes jurídicas, para dizer o mínimo), pensou que sairia ileso da balbúrdia, o que não aconteceu. Partidos foram desmantelados, espetáculos burlescos e patéticos foram provocados diariamente com prisões espetaculosas. Os eleitores que, pelas condições de desigualdade social, racial, de gênero em que estão envolvidos, já se sentiam fora da política, passaram a ser contra a política, a verem má intenção em qualquer ativismo dos políticos.
A relação entre os eleitores e a política passou a ser de ojeriza. Isto explica que candidatos com partidos frágeis ou quase sem partidos se apresentem como antipolítica, ou antissistema e consigam fácil identificação com os eleitores. O que vem da política sempre causa desconforto. Por exemplo, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, os governos federal e estadual juntaram esforços para dar socorro às mais prementes necessidades e depois auxílio em dinheiro para a recuperação dos atingidos, dinheiro que caiu diretamente nas contas dos desabrigados. O presidente da República veio três vezes ao estado e criou um ministério de emergência para acompanhar a tragédia, mas o que ficou na memória do povo? "Se não fosse a ajuda voluntária, todos tinham morrido! O povo ajudou o povo!". O governo? Ora, o governo – me dizia um motorista de aplicativo, outro dia – escondeu 2.000 cadáveres, insepultos até agora! Não precisei de muito para fazê-lo pensar, fiz quatro perguntas: "1. Qual governo, o estadual ou o federal? 2. Que vantagem teriam os governos ao esconderem cadáveres? 3. Há lugares para esconder tantos cadáveres assim? 4. Estas 2.000 pessoas não tinham família, amigos, colegas de trabalho que reclamassem seus corpos, já que tinham desaparecido?" Resposta imediata do motorista: "Sabe, a senhora tem razão, esta história é um absurdo".
A este cenário se soma outro, talvez o mais sério. Os partidos progressistas, os partidos de esquerda estão tratando de interpelar um sujeito (eleitor) que não existe mais. Falam para o vento, pois nem do lado dos candidatos, nem do lado dos eleitores, existe uma utopia que amalgame um discurso coletivo. A inexistência de um projeto coletivo de futuro venturoso não é culpa nem de um, nem de outro, mas do momento histórico, como diria Antonio Gramsci: "o velho está morrendo e o novo não pode ainda nascer".
A partir da ideia de Gramsci, o que está acontecendo é que o velho coletivo, a velha ideia de solução coletiva morreu e uma nova ainda não nasceu. Impera neste momento um individualismo massacrante e ilusório para a maioria das pessoas, que pensam melhorar suas condições ao serem pequenos empreendedores, orando e pagando dízimos a Deus ou a influencers, apostando em loterias e jogos de azar. Muito esforço pessoal em qualquer destas atividades parece dar esperança às camadas populares mais excluídas pelas desigualdades sociais de todas as ordens.
Este é o conjunto de individualidades, esperançosas na solução quase milagrosa de suas ações, que os candidatos e candidatas progressistas precisam interpelar. Não se trata de adotar um discurso leve, meloso, semirreligioso. Quem é interpelado por este discurso vota na extrema direita. É preciso fazer uma interpelação que conjugue o sucesso individual a políticas públicas que vão otimizar estes esforços. Trata-se de interrogar todo o tempo o que ele conquistou como pessoa e enfatizar o que ele deixou de conquistar com governos neoliberais voltados para as populações ricas. Trata-se de perguntar por suas aspirações e de se comprometer com elas. Trata-se de responsabilizar quem não fez, aludindo a tudo que cada um poderia ter e não tem. Não adianta falar em 100 mil casas novas, ou acabar com a fila do SUS, garantir segurança, creche para todos ou saneamento básico. É preciso garantir a cada um água tratada e esgoto, o direito de ter casa, falar da cirurgia não feita de cada um. Da creche para cada filho. É disto que se trata.
O leitor cansado e já irritado deve estar me acusando de ser uma pessoa sem esperança. Não! Tenho esperança sim, e tenho razão para ter esperança, porque já vejo surgirem algumas manifestações cujos resultados futuros podem vir a ser surpreendentes, como a eleição de duas mulheres trans como vereadoras em Porto Alegre e muitas outras Brasil afora, assim como a eleição de vereadores e vereadoras das comunidades indígenas, de negros e negras por todo o Brasil… São exemplos de construções coletivas que conseguem furar a bolha do conservadorismo mesmo em um município como Porto Alegre, em que o último eleito para a Câmara se chame Tenente-coronel Ustra e se jacte de ser sobrinho do carrasco da ditadura com o mesmo nome.
A ideia de uma solução coletiva não pode ser desprezada, precisamos encontrar novos conteúdos para reconstruir as utopias. Tenho sim esperança de que consigamos construir uma solução coletiva, plural, socialmente justa e pós-capitalista. Só lamento não ter tempo para ser testemunha da mudança. (Publicado por Sul 21, em 11/10/2024)
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Clique aqui para ler artigos da autora.