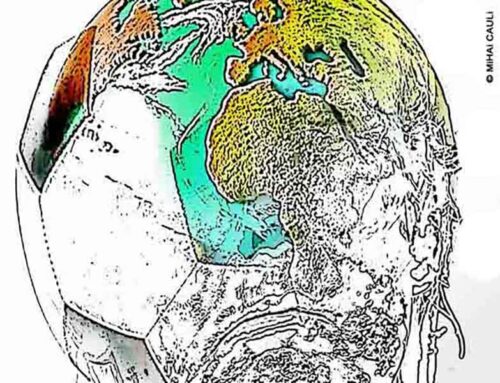Na obra “Além do Princípio do Prazer”, Freud introduziu em sua concepção da dinâmica do inconsciente a ideia de que temos dentro de nós impulsos destrutivos intransitivos. Esses impulsos não se direcionam seletivamente a objetos específicos, determinados segundo as contingências das evoluções psíquicas individuais; pelo contrário, dirigiriam-se a toda forma de estruturação orgânica, abrangendo, pois, toda modalidade de vida. Trata-se, ao lado da pulsão erótica, de um princípio dinâmico irredutível, não derivado causalmente de outros elementos mais primários. Assumida essa hipótese perturbadora, fugindo um pouco à ortodoxia psicanalítica, podemos pensar em suas implicações sociais.
De fato, a dimensão social parece replicar a dicotomia entre o eu e o outro. Nesse contexto, no entanto, se trata de um eu coletivo, composto por todos aqueles indivíduos que acreditam compartilhar minimamente determinada identidade social.
No plano social, a experiência histórica parece indicar que o eu sociológico desvia de si o próprio impulso destrutivo primário e o direciona a todos aqueles que o grupo coeso entende que não estejam ligados a si por semelhanças fundamentais. Caracterizada, pois, a diferenciação e o estranhamento, o impulso destrutivo não encontraria mais barreiras afetivas para sua plena satisfação.
Evidentemente a existência dessa pulsão representa uma ameaça severa à estabilidade das formações sociais mais amplas. Afinal, diferentemente nas organizações tribais, onde a individualidade quase se dilui em uma personalidade coletiva, nas estruturas sociais mais complexas a diferenciação é inevitável. Se a pulsão destrutiva se exercesse impunemente sobre o outro, identificado no diferente, o estado natural da sociedade seria o de uma permanente convulsão.
Qual o remédio que a civilização nos ofereceu, então, contra a violência caótica? Um sistema de valores éticos apoiados nos conceitos de justiça e de dignidade humana. O princípio de que, independente do maior ou menor grau das diferenças existentes, há uma semelhança fundamental e prevalecente entre nós, qual seja, todos compartilhamos uma condição humana que nos confere uma identidade comum essencial. Todos somos humanos e nossa condição humana inalienável nos garante uma base de direitos igualmente inalienável. Em outras palavras, pelo alargamento da identificação inibidora, o pacto civilizatório constrói uma estrutura moral que reprime as pulsões primitivas de destruição. Entretanto, se esse manto inibidor se rasga, será através dessa ferida que os impulsos destrutivos cegos serão desencapsulados. Eis aí o ponto!
Toda vez que o frágil manto moral da consciência civilizada se esgarça, o fascismo passa a dialogar diretamente com as pulsões destrutivas. Mais do que isso, diríamos que o fascismo se constitui exatamente na estratégia de instrumentalização da força cega dos impulsos de destruição para o cenário da luta política. São primitivas construções discursivas que procuram abrir canais através das estruturas de repressão, conferindo legitimidade moral ao gozo da destruição. Elege-se determinado subgrupo social como alvo, a partir da suposta percepção de uma anomalia insuportável neles presente. A alteridade tão radical lhes retira a condição humana comum e a base da empatia inibidora. Judeus, comunistas, petistas…, a história repete os padrões, alterando apenas os títulos. Sobre eles, a eliminação se reveste de legitimidade. Não há mais repressão, só o livre gozo da destruição moralmente legitimado.
No entanto, uma vez rompidas as amarras morais, ainda que de maneira disfarçada, essa pulsão destrutiva não se deixa mais inibir. Destruídos os primeiros objetos, reproduz-se o mecanismo, de modo a que se satisfaça sobre outros. O fascismo consiste em uma elaboração proto-racional, capaz de desencadear a erupção das energias de destruição e de conduzi-las em seu processo de satisfação. Muito mais do que uma formulação intelectual de modelos de organização social, o fascismo é a definição de uma estratégia. É práxis, muito mais que teoria!
Por isso, o fascismo é tão forte. Temos dentro de nós uma fera. É tarefa da civilização contê-la, pela sedimentação de um revestimento moral. O grau em que internalizamos essa censura varia em nível individual. Em muitos, o tecido se fragiliza. Haverá então a explosão do recalcado. Por isso erramos quando esperamos, por exemplo, empatia com o sofrimento diante de uma peste, ou que se tomem medidas contra seu alastramento. A peste, ainda que em uma forma própria da natureza, é um modo em que a destruição se exerce. O fascismo não pode deixar de lhe prestar seu culto. Há nisso um transe macabro.
Somente a reconstrução do superego social pode sufocar o fascismo. É preciso reconstruir um novo pacto civilizatório, reconhecendo o caráter absoluto da dignidade da vida humana. O fascismo é a consequência lógica de sua relativização. É preciso internalizar novamente uma ética de justiça, de direitos humanos e não se pode novamente permitir sua violação pelo reinado da “exceção virtuosa”. Ontem, o povo alemão enfrentava o vírus judeu, o brasileiro, a ameaça do comunismo; hoje, os males da corrupção. Em cada um desses episódios, a pretexto da guerra santa, desumanizou-se um tipo social, permitindo e louvando sua eliminação, quando não literalmente física, ao menos simbólica. Sustada a consciência moral na admissão das excepcionalidades, o mal se instala; ou melhor, se liberta.
Trinta e cinco anos atrás, com alguma euforia, o país reinternalizava os valores da vida democrática. Precisaremos recomeçar.