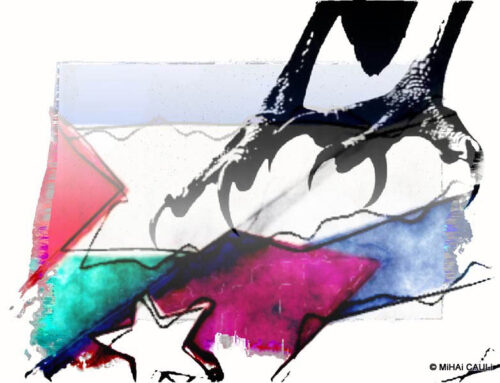A política do porrete, à margem da lei, ainda que levada a cabo pelas forças do Estado, já se demonstrou como absolutamente inepta e incapaz de produzir os resultados que supostamente almeja.

O artigo para este final de semana já estava pronto – e não tratava de trivialidades. Mas é óbvio que a ação da polícia do governador Claudio Castro do Rio de Janeiro cancelou todas as outras prioridades. A fotografia com a fileira de cadáveres – até agora, tarde de quarta-feira, já foram contabilizados mais de 120 mortos – pulou para o topo das primeiras páginas dos jornais daqui e do exterior, manchando mais uma vez a imagem do país. E a mácula é a da selvageria.
É óbvio também que não são poucos os que defendem a carnificina, a força bruta ao invés da inteligência, da investigação técnica e da atuação dentro da legalidade – por mais que essa política do porrete, à margem da lei, ainda que levada a cabo pelas forças do Estado, já tenha se demonstrado como absolutamente inepta e incapaz de produzir os resultados que supostamente almeja. Supostamente, porque a hipótese mais provável é de que o que pretende de fato essa política é manter o estado de guerra permanente para dela sacar dividendos políticos. Para seus defensores pouco importa. Há sempre muita gente disposta a se deixar encantar por essa pregação apelativa, que destina sanguinolência como bálsamo para todas as feridas, de poucos resultados práticos, mas alimentada por doses cavalares de testosterona.
Ainda não se sabe qual a identidade de cada um daquelas dezenas de mortos enfileirados numa praça da Penha. É possível que boa parte deles seja dos, assim chamados, soldados do tráfico. Mas ali, com toda a certeza, não está o corpo de nenhum dos chefes do crime organizado. Por isso, ainda que de perfis distintos, não é descabida a comparação com a recente ação da Polícia Federal contra a cúpula do PCC em São Paulo, onde nem um só tiro foi disparado e pelo menos meia dúzia de chefes da organização criminosa foi capturada.
Bandido mata de qualquer maneira e não precisa prestar contas a quem quer que seja, exceto ao próprio bando – até por isso, é considerado bandido. O Estado (a polícia), não – até por isso, é o Estado – aquilo que a sociedade moderna criou para proteger o cidadão. Ao Estado cabe fazer cumprir as leis – e, por conseguinte, ele próprio é aquele que primeiro as deve cumprir. É isso o que lhe garante legitimidade para agir e usar a força em defesa da cidadania – a força que o Estado, através da polícia, está autorizado a utilizar, no entanto, não é a de matar indiscriminadamente e sem justificativas legais.
A frase entrou para os anais da crônica policial e foi cunhada por um bandido que, por então, enfrentava uma polícia que, sem pudores, costumava agir à margem da Lei. "Bandido é bandido, polícia é polícia" – o que parece ser e é uma platitude precisou ser lembrada por um dos personagens mais conhecidos do submundo do crime no país, Lúcio Flávio Vilar Lírio, para denunciar a corrupção policial, a extorsão e as execuções cometidas pelo Esquadrão da Morte (é um dos ápices dramáticos do filme Lucio Flávio, o Passageiro da Agonia, dirigido por Hector Babenco e baseado no livro homônimo de José Louzeiro).
E precisou ser lembrada porque não era raro que a polícia de então atuasse como agora fez a polícia sob o comando de Claudio Castro. À época do famoso bandido – e também de um famoso policial corrupto, Mariel Mariscot, depois assassinado numa boate de luxo em Ipanema –, a polícia podia se dar ao luxo de dar pouca bola para as leis, inclusive à Constituição, agindo à sombra e sob a proteção do estado de exceção. A polícia — que atua para servir ao cidadão e que, por isso, conta com as garantias institucionais e a proteção das leis do Estado Democrático de Direito — não pode atuar como atuam os bandidos, não pode matar à margem da lei.
Na realidade, só em situações excepcionalíssimas está autorizada a se utilizar da força letal – se e quando fracassarem todos os outros mecanismos de defesa da lei e, é claro, da própria força policial. Quando isso desgraçadamente ocorre, é obrigada, por força das leis, a se submeter a um estrito processo de esclarecimentos à sociedade e ao próprio sistema policial. Se não o faz, corre o risco de deixar de ser polícia para se tornar um corpo organizado de assassinos – foi como assassino que o jurista Wálter Maierovitch caracterizou o governador do Rio de Janeiro, aquele que em última instância determinou e autorizou a ação que resultou na chacina da Penha de 28 de outubro de 2025.
O reordenador do universo
As iniciativas de Donald Trump desde o início desse segundo mandato – o tarifaço, a perseguição massiva contra os imigrantes, a reconfiguração das instituições do Estado e o aumento do poder do Executivo, a propalada paz em Gaza (após concluído o massacre dos palestinos), a interlocução com Vladimir Putin para o estabelecimento da paz na Ucrânia, a agressiva retórica e as ações contra a Venezuela de Nicolás Maduro ou Gustavo Petro da Colômbia, os ataques por mísseis contra barcos supostamente de narcotraficantes no Caribe ("Não se trata de uma missão antidrogas. Isso seria como usar um caminhão de dez toneladas para matar uma formiga", disse à New Yorker um "alto funcionário de segurança nacional que serviu no primeiro governo Trump"), etc – anunciam as intenções do presidente americano. Muito mais que Imperador (ou Nobel da Paz… quem sabe se no ano que vem), Trump parece estar querendo se apresentar é como reordenador do mundo.
Sob o signo da mentira
Na lista de cartazes que enunciavam os sinais de fascismo à vista no protesto de domingo, 19 de outubro, nos Estados Unidos estava escrito: "negar a realidade com mentiras constantes". Ninguém terá a temeridade de negar que o atual presidente americano é um mentiroso patológico, embora a mentira seja nele tão repetitiva que talvez nos enganemos ao considera-la patológica. O organismo já a assimilou, tornando-a natural, um membro ou um órgão a mais do próprio corpo. Em Trump, essa característica talvez tenha sido levada ao paroxismo – mas, dado o que temos visto acontecer nesse primeiro quarto do século XXI, seria aconselhável não apostar. O fato é que suas origens se perdem nos anais da própria história imperial.
Poderia e foi contada (ou ilustrada) por uns tantos narradores da cena americana, do repórter Seymour Hersh ao escritor Norman Mailer.
Mas um dos depoimentos apresentados no documentário Corações e Mentes (Peter Davis, 1974) – um dos marcos culturais dos anos 1970 -, o de Daniel Ellsberg, ex-analista militar da RAND Corporation (ligada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos) e autor dos famosos Papéis do Pentágono, tem a contundência dramática e a precisão documental que talvez melhor nos diga sobre a mentira como método de governo.
"Truman mentiu em 1950 sobre a natureza e o propósito do envolvimento francês na reconquista colonial do Vietnã, que estávamos financiando e encorajando. Eisenhower mentiu sobre os motivos e a natureza do nosso envolvimento com Diem (Ngo Dinh Diem, presidente do Vietnã após a derrota dos franceses em Dien Bien Phu, em 1954, depois – e logo executado – por um golpe militar em 1963 apoiado por trás dos panos pelos mesmos americanos que o elegeram). Kennedy mentiu sobre o envolvimento que tínhamos ali, nosso próprio envolvimento no combate direto e sobre as recomendações feitas para um comprometimento ainda maior. Mentiu também sobre o grau de participação na deposição e na morte de Diem. Johnson, é claro, mentiu e mentiu e mentiu sobre nossas provocações contra os norte-vietnamitas antes e depois dos incidentes no golfo de Tonkin, sobre os planos de bombardear o Vietnã do Norte(…) Nixon enganou e mentiu ao povo americano… sobre nosso bombardeio do Cambodja e do Laos, as operações terrestres no Laos, os motivos para a nossa invasão do Cambodja e do Laos(…)".
O público americano, diz Ellsberg, "foi enganado mês após mês por cada um desses cinco governos".
Agora, convenhamos, com uma sequência tão duradoura de mentiras oficiais aceitas como verdades sagradas, talvez seja razoável nos perguntarmos se não há, por parte do público americano, mais que uma propensão patológica para se deixar enganar, um verdadeiro gozo com o autoengano.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Leia também "O dólar digital do crime", de Tulio Kahn.