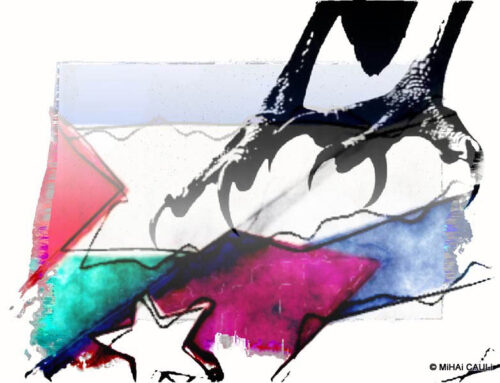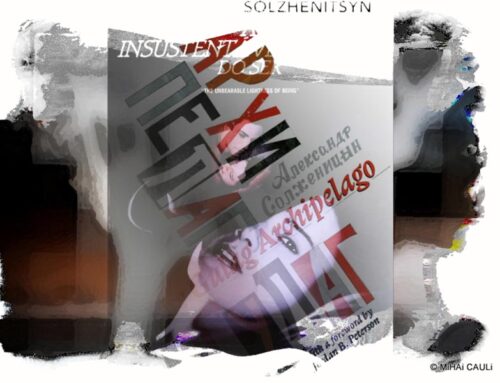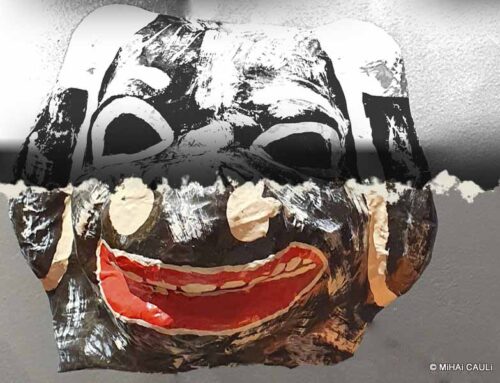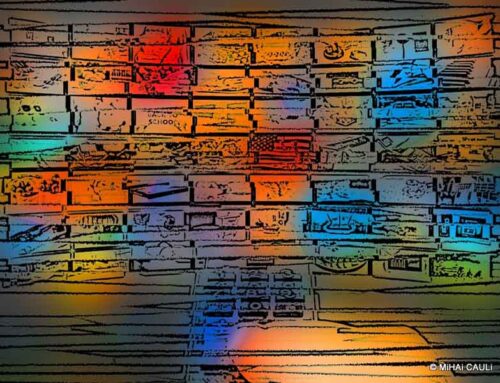Ouro, relíquia bárbara, foi uma expressão cunhada por Keynes para descrever o padrão-ouro. Lastrear a política monetária no ouro limitava a capacidade do governo de responder às crises econômicas através da expansão dos gastos fiscais. O lastro em ouro era uma restrição orçamentária. Era a austeridade.
A partir de 1971, com a desvinculação do dólar ao seu lastro em ouro definido em Bretton Woods, as moedas se tornaram fiduciárias, baseadas na confiança que a política macroeconômica, monetária e fiscal incutia nos agentes econômicos.
Na ausência da restrição do lastro monetário do ouro a partir dos anos noventa, com a vitória ideológica e política do neoliberalismo e com a adoção pelas organizações multilaterais (FMI e Banco Mundial) das recomendações de política econômica do Consenso de Washington, a convenção neoliberal se tornou o manual operacional corrente para combater toda e qualquer crise.
No Brasil, com o sucesso do Plano Real em controlar os preços, mas sem conseguir estabilizar a moeda – o Real –, o cardápio de soluções para as crises econômicas passou a ser superávit fiscal e alta taxa de juros para dar lastro à moeda recém-criada. Esse lastro, na realidade, ficou implicitamente determinado pela política monetária ao estabelecer a taxa de juro básica(1) da economia com um diferencial muito alto em relação à taxa de juro americana.
O superávit primário – a concepção estapafúrdia de poupança pública, ou a relíquia infame – é o principal responsável pelo aumento da desigualdade social e pelo cassino que virou o sistema financeiro.
A ideia de que a poupança precede e financia o gasto (investimento) é uma impossibilidade lógica e real, uma abstração sem base concreta para fechar os modelos da ortodoxia econômica – a famosa expressão metodológica non sequitur.(2) É uma falácia, um erro lógico, onde a conclusão não se segue às premissas, mesmo que as premissas sejam verdadeiras.
No mundo concreto em que vivem e produzem os trabalhadores e os capitalistas, de onde se constroem os conceitos abstratos em concretos (históricos), o gasto precede o lucro e a renda. Qualquer empresa primeiro gasta – pagando salários, comprando matérias-primas, máquinas e equipamentos,(3) energia, etc., e só depois tem o retorno, se tiver demanda. O mesmo acontece com o Estado: gasta primeiro, se endivida ao emitir moeda, para depois arrecadar quando os produtos e serviços intermediários e finais forem vendidos nos mercados.
A maioria dos trabalhadores não poupa. Quem poupa são os capitalistas e os seus profissionais de confiança que recebem altos salários ou são profissionais liberais.(4) Como disse Kalecki, os capitalistas ganham o que gastam. Os trabalhadores gastam o que ganham.
O argumento da austeridade é mais falacioso ainda quando aplicado ao gasto público. O Estado tem o monopólio da emissão monetária. Ele se endivida quando o Tesouro libera os pagamentos das obrigações contraídas pelo governo com os funcionários públicos, empresas fornecedoras de serviços e produtos e investimentos.
A dívida pública é um ativo privado. Quanto mais alta, maior é a riqueza dos seus detentores. Quanto mais alta a taxa de juros dos títulos públicos, mais elevada a renda recebida pelos "poupadores" privados (cidadãos de alta renda) e pelas empresas em suas operações de tesouraria.
A alta taxa de juros (Selic)(5) atrai a entrada de dólares para aplicação financeira (carry trade), valorizando o real, transferindo demanda para importação, diminuindo o investimento, reduzindo emprego e renda. A poupança aumenta, o rentismo cresce, o investimento cai pelo juro elevado. O déficit público aumenta, o sistema financeiro e os poupadores pressionam pela austeridade (aumentar o superávit primário, a "poupança" (sic) do setor público, reduzir o gasto – o que causa a redução da arrecadação, redução do PIB pela contração da demanda e aumento da relação dívida pública /PIB pela elevação da Selic, menor crescimento e arrecadação). Esse círculo vicioso tem sido o padrão da política econômica brasileira desde o Plano Real.
A Selic, mantida em valor elevado por longo período, gera a valorização do câmbio, aumento da importação de insumos e bens industriais e reduz o dinamismo da indústria, produzindo o atraso estrutural tecnológico e inovador. Quem vai investir quando é mais barato e seguro importar ou aplicar financeiramente a "poupança" das empresas, lucros brutos, e a pessoal?
Um título público de longo prazo, de dez anos, por exemplo, é um contrato entre o Tesouro Nacional e o detentor do título, em que o Tesouro se compromete a efetuar um fluxo de pagamentos com valor e prazos estabelecidos no contrato.
Quando o Tesouro emite o título, o seu preço é calculado como o valor presente do fluxo de pagamentos, usando os juros de mercado como taxa de desconto.
Se algum tempo após adquirir o título, o detentor quiser vendê-lo, o preço será dado pelo fluxo de pagamentos, como contratualmente definido (valor que não se alterou), calculado em valor presente pela taxa de juros de mercado no momento.
Se os juros se elevam, o valor presente do fluxo de caixa se reduz junto com a riqueza financeira e reduz o consumo. Se o Tesouro emite títulos com o rendimento indexado à Selic, quando ela se eleva, o fluxo de renda também se eleva, de sorte que o valor presente do título não se altera, independentemente da taxa de juros. Como uma parcela importante da dívida pública brasileira é indexada à Selic, este é o motivo principal da Selic estar permanentemente entre as mais elevadas do mundo.
Todos esses fatores concorrem para que o ciclo monetário no Brasil tenha uma amplitude maior e ajudam a entender o motivo da Selic estar em 15%.
A concepção de austeridade econômica traduzida operacionalmente pelo superávit fiscal garante a rentabilidade do ativo privado pela Selic elevada e a transferência da arrecadação tributária para os mais ricos, ao invés de propiciar a elevação dos investimentos em serviços públicos para diminuir a brutal desigualdade de renda no país.
Além de estimular as importações, o real valorizado relativamente ao dólar desestimula as exportações do país, já que encarece produtos nacionais. Esse processo contínuo de apreciação prejudica o desenvolvimento de novos setores industriais e impede uma maior diversificação de nossa estrutura produtiva, além de gerar desequilíbrios comerciais.
Por outro lado, desvalorizações do real têm péssimas consequências imediatas. Em quase todos os anos em que o real se desvalorizou desde o início do regime de metas de inflação em 1999, a taxa de inflação atingiu ou superou o teto da meta. O aumento do custo com insumos importados pelas empresas encarece máquinas e equipamentos, com possíveis repercussões negativas sobre o investimento. Valorizar o real também é péssimo. Quando o real está muito apreciado, os produtos nacionais ficam mais caros em relação aos estrangeiros e a indústria doméstica perde participação no mercado externo (o que reduz as exportações do país) e no mercado interno (pela compra maior de importados). O desmantelamento das cadeias industriais nacionais prejudica a trajetória de crescimento da economia no longo prazo. Não parece razoável supor que desvalorizar o real seria suficiente para que essas novas indústrias surgissem. A alta especialização e a decadência da indústria brasileira datam da liberalização comercial iniciada no final dos anos 1980 e foram aprofundadas em meados dos anos 1990. Mas tampouco é verdade que o dólar baixo vem sem custos, no longo prazo. A sobre apreciação do real inviabilizou mudanças mais profundas na estrutura produtiva do país.(6)
A dependência do cenário externo favorável e da apreciação do câmbio (do real) para o cumprimento da meta de inflação não se restringe a esse período. Desde a implementação do regime de metas de inflação em 1999, em quase todos os anos em que houve desvalorização cambial, a inflação atingiu ou ultrapassou o teto da meta. Já nos anos em que o dólar caiu, a meta, em geral, foi cumprida.(7)
Considerando que os títulos da dívida pública estão concentrados, sobretudo, nas mãos dos mais ricos, o alto pagamento de juros sobre esses títulos ainda contribuía para manter elevada a parcela da renda do 1% mais rico da população. Em suma, a maior arrecadação tributária e o menor grau de restrição externa, facilitados pelo boom de commodities, contribuíram para criar o espaço necessário para uma redistribuição de renda feita na margem.(8)
A dívida pública é um ativo privado. Quanto maior, mais rende, seja financeiramente, seja aumentando a riqueza. Cortar a dívida e ao mesmo tempo restringir o crescimento liderado pelo investimento não trará a sustentabilidade da dívida. Afinal, a crise da dívida é também uma crise de investimento – sem investimento, a capacidade produtiva não aumenta, tornando-os mais dependentes da entrada de recursos externos para manter o câmbio valorizado e seduzir os detentores da poupança interna a aplicar nas operações financeiras de arbitragem de moedas.
Repetindo, esse é o verdadeiro motivo da Selic alta. No sistema de metas de inflação, a taxa de juros é o único instrumento de política monetária. Como não temos moeda conversível e o câmbio tem forte impacto na inflação, o objetivo da política monetária é manter um grande diferencial de juros em relação aos juros internacionais. Isso atrai recursos externos, restringe a demanda interna (consumo, investimento e gasto público e exportação), desarticula as cadeias produtivas com a importação de insumos e equipamentos mais baratos, precariza o emprego e impede que os serviços públicos tenham a qualidade necessária para o bem-estar da população mais carente.
No entanto, dinheiro, crédito e produtos financeiros só podem ser totalmente compreendidos em sua relação com a indústria. O capitalismo é uma forma histórica concreta de reprodução social, na qual o capital regula autonomamente nosso metabolismo social e determina as relações entre nós e a natureza, com a financeirização mudou isso. A ancoragem cambial da era FHC controlou nossa inflação, mas desferiu um golpe quase mortal nas indústrias domésticas.
A financeirização envolve a extensão geral dos poderes autônomos das formas de valor (sejam elas dinheiro, crédito, ativos e outros instrumentos financeiros) e como isso assume um papel cada vez mais direto, mas ainda assim impessoal, na mediação de nossa reprodução social.
Uma teoria da financeirização requer precisamente a compreensão do processo de produção capitalista como um todo, mostrando as interconexões não apenas entre os processos "financeiros", mas também os produtivos.
As finanças são tipicamente associadas a formas de valor; isto é, dinheiro, crédito e instrumentos financeiros que operam dentro da esfera da circulação. Isso contrasta com a esfera da produção, onde a substância do valor, o trabalho social abstrato, é explorada para o lucro capitalista. Uma vez que a produção capitalista é uma forma social histórica na qual o metabolismo humano é regulado, qualquer discussão sobre finanças deve lidar com a conexão entre produção e circulação, pois ambas desempenham um papel no processo geral.
O desenvolvimento de relações de crédito, juros, securitização e similares são todas as maneiras pelas quais as relações sociais são ainda mais ossificadas, isto é, objetivadas em "coisas". Se o dinheiro, de acordo com Marx, vê o poder social se tornando poder privado, então a financeirização pode ser entendida como o desenvolvimento concreto e a articulação desses poderes, que se objetivam nas coisas como direitos do dono das formas de valor.
Isso não deve ser considerado como uma relação parasitária entre indústria e finanças. A produção de mais-valia relativa e absoluta ainda é o impulso e o meio pelo qual o capital alcança essa valorização. Isso também não significa que houve um movimento em direção a "mercados livres" abstratos. A financeirização é realizada em configurações concretas e relações entre o Estado, a política, as instituições, as empresas e as práticas cotidianas. Ao contrário, isso precisa ser entendido como a maneira pela qual a reprodução social por meio da acumulação de capital envolve cada vez mais processos complexos nos quais as formas de valor assumem formas e papéis mais desenvolvidos. A ossificação e a autonomização, os direitos absolutos dados ao dinheiro como poder social, não negam a produção, mas se desenvolvem ao mesmo tempo em que mistificam a relação entre produção e circulação como partes da produção capitalista propriamente dita.
As altas taxas de juros atuam como vetores de concentração de renda, já que as famílias que obtiveram acesso a crédito pagam juros sobre a dívida contraída e transferem esses valores para o setor financeiro da economia. Reduzir a taxa de juros no mercado de crédito exige atacar problemas mais estruturais, como o baixo grau de concorrência que caracteriza o setor bancário brasileiro e a própria dificuldade de reduzir a taxa de juros básica da economia para padrões internacionais sem levar a uma desvalorização do real e aceleração da inflação. A taxa de juros básica não apenas funciona como um piso para as taxas de juros que os bancos cobram sobre as operações de crédito, como afeta os juros que incidem sobre os títulos da dívida pública, de modo que a dificuldade em reduzi-la contribui para que o Estado transfira renda para os detentores de riqueza financeira.
Essa é a financeirização à brasileira. Não existe uma medida isolada para fazer com que ela fique restrita e produza menos malefícios. Ela é sistêmica e inerente ao atual ciclo de globalização e acumulação capitalista. A política para controlá-la tem que ser direcionada para alterar a institucionalidade do sistema de metas de inflação, romper com o consenso da austeridade fiscal e com as ideias dominantes do Consenso de Washington. Essa é uma tarefa de disputa da hegemonia política ou, se quiserem, de economia política.
Notas:
(1) A partir de 1996, a Selic
(2) A expressão latina significa "não se segue", indicando uma lacuna na conexão entre o ponto de partida e o ponto de chegada do argumento. Esse erro ocorre na estrutura do raciocínio, tornando-o inválido.
(3) Pode ser com recursos próprios, mas geralmente é com crédito, que é uma antecipação de gasto a ser liquidado depois, caso a produção se realize e tenha sucesso. Para fazer esta antecipação, as instituições financeiras exigem garantias.
(4) No Brasil, os pejotizados.
(5) A Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Ela funciona como um referencial para todas as outras taxas de juros do país, como as de empréstimos, financiamentos e investimentos. O objetivo principal da Selic é ser uma ferramenta de controle da inflação.
(6) Carvalho, Laura. Valsa brasileira. Todavia. Edição do Kindle.
(7) Idem.
(8) Ibidem.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Clique aqui para ler artigos do autor.