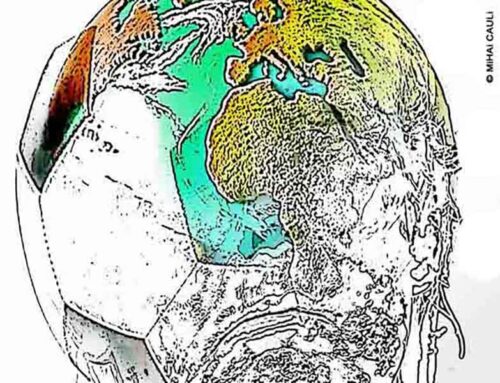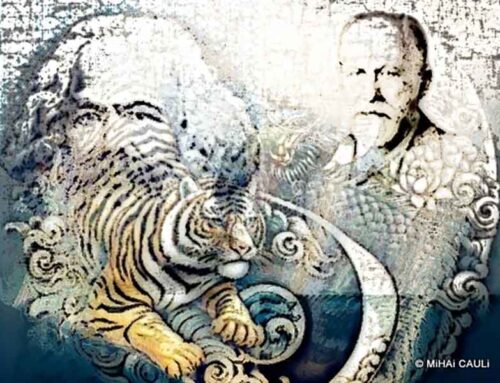O som do primeiro tiro ecoou pelas ruas já esvaziadas pelo medo. Os gritos eram contidos na boca. Gritos mudos de almas amedrontadas. Somente se ouviam os sons, os disparos e os comandos de quem atirava, como se não houvesse naquele lugar mais ninguém além dos soldados daquele estranho exército de crianças. "Todos tão novos!", espantava-se dona Carmem, anciã do bairro, sempre que via um daqueles meninos empunhando fuzis.
O tráfico por lá já foi coisa de adultos. Houve um tempo em que o chefe do morro era mecânico, açougueiro, taxista e até cabo do exército que nem Viriato. Eram duros, cruéis com os inimigos. Viam o tráfico não só como negócio, mas como resistência tanto deles quanto da gente de lá.
Resistiram ao desemprego, às injustiças, à dureza da vida num lugar onde pareciam ter nascido condenados à indigência. Impetuosos, insistiam em não aceitar os caminhos que aquela sociedade insistia em dizer que era o deles. Preferiam criar seus próprios caminhos tortos de violência, esburacados de balas, enlameados de sangue. Mas apesar de toda violência, havia neles algum ímpeto por justiça. Queriam justiça para eles e para a gente dali. Uma justiça à sua maneira. Com seus defeitos. Com seus ressentimentos. Com suas brutalidades.
Como também morre quem atira, aquela geração de Cabo Viriato, Coroinha, Zé Punhal e outros acabou morta ou presa. Foram-se um após o outro, tão depressa que não deu tempo de outros crescerem. Sobrou espaço para os jovens. Mais violentos ainda que os antigos, pela falta daquela sabedoria que só as tristezas e decepções da vida são capazes de ensinar. Os antigos queriam justiça, os novos só querem o poder.
A vida foi ficando esquisita. As mortes aumentaram. O medo também. Mas ainda eram jovens dali. Era o filho de Dona Candice que virou o Piolho; o neto de Amélia, melhor costureira da região, tornou-se o Batata e outros tantos que trocaram nomes de batismo por apelidos. Ainda cumprimentavam com respeito e até pediam a bênção quando cruzavam com Dona Carmem, que para eles parecia já ter nascido velha. Não havia neles justiça, sobrava intemperança e irresponsabilidade, mas ainda eram os meninos da comunidade.
Também morreram e foram presos tão rápido que a novíssima geração nem mesmo jovem é. São crianças. Ainda mais impetuosas. Voluntariosas. Não sabem nada da vida além do básico e o básico por lá é que é preciso ser rápido e cruel para conquistar e manter poder, senão roda.
Dona Carmem já não sabe dizer de quem são filhos ou netos. São estranhos àquele lugar. Invasores do espaço violento. Não pedem a bênção, exigem medo. Suas demonstrações de força são espetaculares, exageradas, monstruosas.
Algo se foi com as gerações que se foram. A comunidade, já perdida da vida comunitária pela violência, foi devorada. Desintegrou-se. Ninguém mais quer ficar por lá. Ninguém mais quer viver por lá porque lá não há mais vida. Só morte e medo. Muito medo.
Dona Carmem é, talvez, a última a resistir ali. Não tem para onde ir. Não tem outra casa. Nem dinheiro para morar em casa que não seja sua. Nem vontade. Nasceu ali. Quer morrer ali. Sabe que cedo ou tarde uma bala lhe acertará. Por acaso ou despropósito.
Dará seu último suspiro e, com ele, morrerá de vez naquele lugar onde tanta inocência foi corrompida. Onde a juventude morreu na esperança de que a brutalidade lhe daria a vida digna que os que vivem com dignidade nunca se dignaram a lhes permitir viver.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Leia também "A revanche da financeirização: por que a desigualdade resiste no Brasil", de Maria Luiza Falcão Silva.