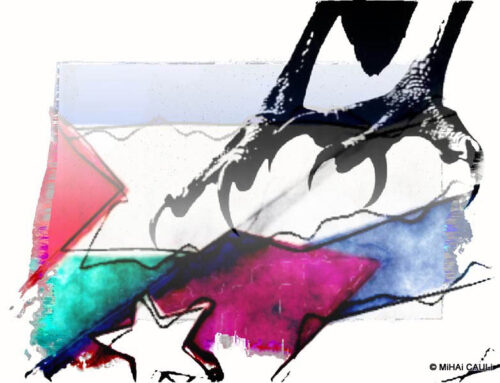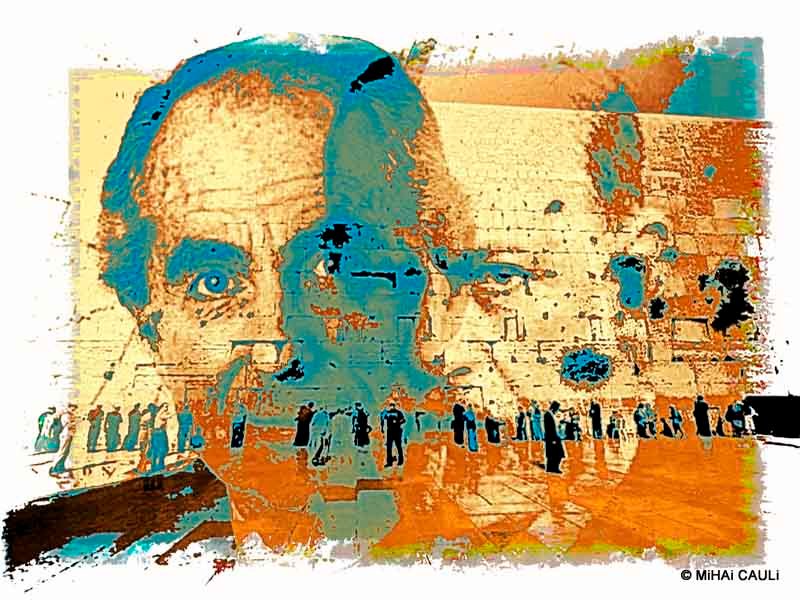
"A Terra Prometida… não se parecia com nenhum outro território. Não a rodeava nenhum muro e não tinha a menor necessidade de afirmar sua soberania… estava tecida de relatos, mitos, linguagem."
Elizabeth Roudinesco em Dicionário Amoroso da Psicanálise
I
No sábado, 25 de novembro, centenas de pessoas esperavam para assistir a uma palestra do historiador israelense Ilan Pappé. Nascido em Haifa, filho de imigrantes judeus alemães, é um dos nomes mais imporantes entre os chamados "novos historiadores". Hoje é professor na Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha. Setecentos conseguiram entrar no evento, o resto teve que ficar do lado de fora. A entrevista, realizada pela jornalista Chiara Cruciati, de Il manifesto, foi publicada originalmente na sinpermiso.info e republicada pela ctxt.es. (Tradução: Halley Margon)
Durante anos falou-se da "gazificação" da Cisjordânia: o cerco de Gaza como modelo de gestão das ilhas palestinas nas quais Israel dividiu a Cisjordânia. O oposto acontecerá agora? Gaza se tornará a Cisjordânia?
Não creio que Israel tenha um plano neste momento. Existem várias opções. Uma delas é a criação em Gaza de uma espécie de Área A- ou B+ [Os Acordos de Oslo dividiram a região palestina da Cisjordânia em três setores administrativos chamados Área A, Área B e Área C]: a ideia dos "moderados" é confiar um pedaço da Faixa à Autoridade Nacional Palestina e criar uma zona tampão de 5 a 7 quilômetros. É uma ideia ridícula: Gaza tem apenas 12 quilômetros de largura no seu trecho mais largo. A outra opção, a da extrema direita, é a limpeza étnica mais ampla possível, expulsando os palestinos para o Egito, ou pelo menos para o sul de Gaza, e levando os colonos para o norte. É demasiado cedo para saber o que irá acontecer, tal como é demasiado cedo para saber como o mundo reagirá, se haverá uma guerra no Norte contra o Líbano, ou se isto conduzirá a uma intifada na Cisjordânia.
Depois de negar a Nakba durante 75 anos, hoje o governo israelense a menciona abertamente, fala de uma Nakba 2023, da necessidade histórica da expulsão. Este abandono de toda moderação, mesmo verbal, ao propor a limpeza étnica como solução, de onde vem?
Aqueles que negaram a Nakba foram o centro e a esquerda. A direita nunca negou, muito pelo contrário: orgulhava-se disso. Portanto, não é de surpreender que usem esse termo. A outra razão é que Israel trata o 7 de Outubro como um acontecimento que mudou tudo. Já não sente que deve ser cauteloso no seu discurso racista, quando fala de genocídio e limpeza étnica. Considera o dia 7 de outubro como um sinal verde para agir.
O crescimento gradual, mas inexorável, da extrema direita israelense nos últimos 30 anos nos leva a observar uma evolução do sionismo de tendência religiosa. As declarações de membros do governo, a começar por Netanyahu, que invocam a Torá para justificar as atrocidades e políticas de Ben Gvir e Smotrich, são exemplo disso. O que é o sionismo hoje? Podemos ver um processo de implosão nesta evolução?
Mesmo antes do 7 de Outubro, já não se tratava de sionismo. Foi mais longe, rumo a um judaísmo messiânico. Estas pessoas, tal como os fanáticos islâmicos, acreditam que têm Deus ao seu lado. Esta é uma evolução ideológica que dominou o sionismo pragmático e liberal, arrastando-o consigo. Hoje enfrentamos uma ideologia judaica messiânica, racista e fundamentalista que não só acredita que a Palestina pertence apenas ao povo judeu (como afirmou Netanyahu com a Lei do Estado-Nação de 2018), mas também pensa que tem uma licença moral para matar e expulsar todos palestinos. Esta é uma evolução ideológica extremamente perigosa. Antes do 7 de Outubro, a sociedade israelense já vivia um choque aberto entre o sionismo secular e o sionismo religioso. Esse confronto ressurgirá e mostrará que a única coisa que mantém os israelenses unidos é a rejeição aos palestinos. Para o sionismo, este é o início do fim: um processo de 20 ou 30 anos em termos históricos. Isso acontecerá porque é uma ideologia colonialista num mundo que hoje caminha noutra direcção. Se o sionismo tivesse surgido há dois ou três séculos, provavelmente teria alcançado o objetivo de eliminar a população indígena, como aconteceu na Austrália e nos Estados Unidos. Mas surgiu numa altura em que o mundo já tinha rejeitado o conceito de colonialismo e os palestinos já tinham desenvolvido a sua identidade nacional.
Qual é a razão da virada à direita na sociedade israelita após o assassinato de Rabin e o impulso pacifista que anima um grande setor da população?
Ser um sionista liberal sempre foi problemático. Você tem que mentir para si mesmo o tempo todo, porque não pode ser socialista e colonizador ao mesmo tempo. A sociedade cansou-se disso, percebeu que tinha de escolher entre ser democrático e ser judeu. E escolheu a natureza judaica. Decidiu que a prioridade era estabelecer um Estado racista, ao invés de partilhá-lo com os palestinos. Era inevitável, uma consequência lógica do projeto sionista. Israel de hoje é muito mais autêntico do que o Israel dos anos 90.
O dia 7 de outubro representou uma ruptura traumática para a sociedade israelense. A questão palestina tinha ficado relegada ao segundo plano, "administrada", como diz frequentemente Netanyahu. Poderá essa convulsão levar a uma consciência da necessidade de uma solução política?
Isso levará algum tempo. O futuro imediato será marcado pelo ódio e pelo impulso de vingança. Será difícil falar de uma solução de dois Estados ou de um Estado. A longo prazo, porém, Israel poderá compreender que os palestinos não vão a lugar nenhum e não vão permanecer calados, independentemente do que Tel Aviv faça. Muito dependerá da Europa e dos Estados Unidos: se continuarem sem exercer qualquer pressão, será difícil que as vozes mais razoáveis de Israel sejam ouvidas. A sociedade civil não é suficiente. Precisamos que os líderes políticos mudem. Este tipo de processo leva tempo, mas é possível que algo positivo resulte desta terrível tragédia. Dependerá também dos palestinos, se conseguirão unir-se e se a OLP será restabelecida. Há também diferenças entre eles: aqueles que vivem na Cisjordânia querem o fim da ocupação e da opressão, não são a favor de um Estado. Mas aqueles que vivem dentro de Israel querem-no, tal como os refugiados da diáspora, para quem um Estado significaria que poderiam regressar.
A dura campanha contra Gaza e o desejo declarado de expulsar os palestinos provocaram uma reação massiva de protestos públicos em todo o mundo e nos países do Sul global, em contraste com as posições dos Estados ocidentais. Estaremos testemunhando uma mudança de paradigma global que terá efeitos a médio e longo prazo?
Estamos assistindo a um processo de globalização da Palestina: uma Palestina global que é composta pela sociedade civil, por cidadãos, por movimentos tão diversos como os movimentos indígenas, Black Lives Matter, feminismos: em outras palavras, todos os movimentos anticoloniais, que podem saber pouco sobre a questão palestina, mas sabem o que significa opressão. Essa Palestina global deve ser capaz de confrontar o Israel global, composto por governos ocidentais e pela indústria militar. Como fazê-lo? Conectando as lutas contra a injustiça de todo o mundo em uma única rede. Aqui, na Itália, significa lutar contra o racismo.
II
Philip Roth nunca foi lembrado para o Nobel de literatura e a lista dos entendidos que consideram esse esquecimento mais que uma injustiça deve ultrapassar de longe a lista dos laureados. De fato, pouco importa. Roth está entre os grandes do século XX e não necessita da autoridade de nenhum prêmio para se colocar ali. Quem o autoriza é a gigantesca dimensão da sua escrita. Mas, desde logo, o que tem alhos a ver com bugalhos? Como meter o autor de O Complexo de Portnoy no genocídio dos palestinos de Gaza? Quase 25 anos depois de O Complexo… Roth publicou Operação Shylock. Nos comentários da historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco sobre o livro de Roth, ela diz que o que pretende Moishe Pipik, o personagem do livro, é "resolver a nova questão judia do 'pós-sionismo' criando um movimento similar ao antigo sionismo: o diasporismo". Pipik quer levar de volta para a Europa todos os judeus asquenazes que viviam em Israel. O fundador do "grupo dos Antissemitas Anônimos" está convencido de que o Velho Continente "perdeu sua alma" ao consentir e participar no extermínio daqueles judeus e que esse retorno "ressuscitaria o gênio da história judia: hassidismo, judeidade… sionismo, socialismo, psicanálise, as obras de Heine, Marx, Freud, Spinoza, Rosa Luxemburgo, Proust, Kafka". Ao partir, deixariam livres as terras de Israel para que ali ficassem em paz e para sempre todos os árabes que quisessem, os judeus "sefarditas, instalados ali desde muito tempo, assim como os fanáticos, os racistas e os fundamentalistas: em lugar de celebrar 'O próximo ano em Jerusalém', diriam, 'O ano passado em Jerusalém', conscientes de ter conseguido por fim um triunfo histórico sobre Hitler e Auschwitz", porque "mais vale perder um Estado que perder a própria Alma", conclui Roudinesco.
III
Essa análise se encontra no verbete Roth, Philip do Dicionário Amoroso da Psicanálise (Zahar). O Dicionário é de 2017, em outubro último fez seis aninhos de idade. E ainda nesse verbete, Roudinesco diz que a pergunta que Roth tenta responder em Operação Shylock é: que desastre aguardam os judeus se o Estado de Israel não conseguir existir a não ser pela existência dos seus inimigos? "Em outras palavras, diz ela, Roth adere à maneira como Freud havia abordado em 1930 a questão da Terra Prometida: rechaçando a ideia da fundação de um Estado para os judeus".
IV
Freud não era exatamente um extremado comunista, muito menos antissemita, era um mui típico judeu europeu nascido na Mitteleuropa. Um "judeu da diáspora, não um judeu do território", escreve Roudinesco – como o Moishe Pipik de Roth. Recém-graduado, comeu o pão que o diabo amassou para abrir espaço e assentar seu consultório na capital dos Habsburgos. Longe de renegar sua identidade judaica, nunca deixou de se questionar sobre a questão judaica e a judeidade. Já quase ao final da vida, decidiu dar fecho a uma reflexão tornada pública pouco antes da I Guerra com O Moisés de Michelangelo (1914), publicando O Homem Moisés e a Religião Monoteísta (1939). Mas quando olhava para o passado e relia os textos bíblicos e as histórias que contavam das origens do povo judeu, Freud era ainda e sempre o dr Freud da Viena fin-de-siècle e, segundo sua melhor biógrafa, "não acreditava nem um pouco que o regresso a uma Terra Prometida 'real' pudesse aportar uma solução à questão do antissemitismo europeu" – e, em 1939, já era perfeitamente ciente do que estava se passando na Europa naquele momento. Muito pelo contrário, com sua intuição absolutamente visionária, antecipou, em 1930, que essa "solução" conduziria ao que hoje está escancarado à frente de todos como um trágico abismo do qual ninguém consegue sair e no qual, década após década, apenas parece se tornar mais assustador:
"Não creio que a Palestina possa chegar a ser um Estado judeu nem que o mundo cristão, ou o mundo islâmico, estejam algum dia dispostos a confiar seus lugares santos aos judeus."
Claro, é só mais um ponto de vista de um homem do século passado.
Enquanto isso, em Gaza… (atualização de 12/12/23)
Mortos pelo menos 18.205 palestinos, incluindo pelo menos 7.729 crianças e 5.153 mulheres. Feridos pelo menos 49.645, incluindo pelo menos 8.663 crianças e 6.327 mulheres. Desaparecidos, pelo menos 7.780. (publicado em aljazeera.com)
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "A vantagem de ser um humanista ingênuo – 57 dias de guerra", de Eduardo Scaletsky.