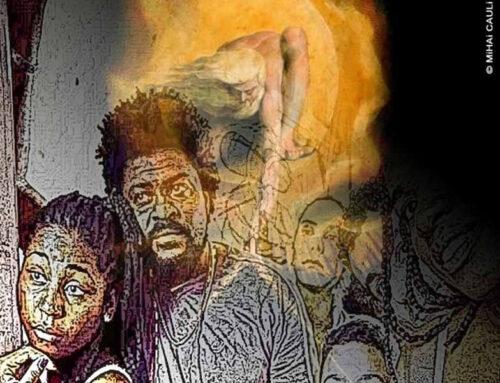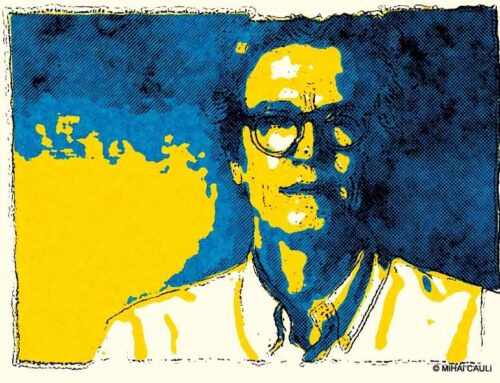A pandemia do COVID-19 vem atingindo praticamente todos os países do mundo, e todo o território brasileiro, indiscriminadamente. Seu enfrentamento exige um esforço hercúleo de todos os níveis de governo, das organizações sociais, da sociedade civil como um todo, incluindo os setores produtivos. Nesse quadro, que inclui a quarentena, com o afastamento social, a redução das atividades econômicas e governamentais, muitas demandas, propostas, projetos e ações vão sendo postergadas para um momento em que o conjunto das atividades produtivas possam ser retomadas.
Conforme apontou Eliane Brum, em artigo para El País de 15/04/20, “o futuro pós-coronavírus já está em disputa e… o pior que pode nos acontecer depois da pandemia será justamente voltar à normalidade”.
Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro – RMRJ, que concentra a maior parcela da população fluminense, esse cenário é especialmente dramático pois esta vem padecendo e tendo que enfrentar sucessivas crises, em diferentes campos que se sucedem e, pela magnitude de cada uma, vai deixando para trás e acumulando fragilidades que, por não serem solucionadas, voltarão a surgir mais adiante, em novas situações de risco.
Dedico-me, neste artigo, ao tema da (in)segurança hídrica, que ficou explícita com o episódio da geosmina, no qual a água fornecida pela Cedae aos quase 8 milhões de moradores de sua franja oeste da Baía de Guanabara, dependentes do sistema Guandu se tornou inadequada.
Se o episódio referido, da geosmina, foi aparentemente superado por ações paliativas e olvidado em função da pandemia do coronavírus, o cenário de vulnerabilidade no saneamento básico, e em particular no abastecimento de água permanece como uma espada erguida permanentemente sobre os quase 12 milhões de habitantes da RMRJ. Estamos falando da segunda maior aglomeração urbana do Brasil, terceira da América do Sul e 24ª do mundo.
Assim, é necessário compreender, ainda que de forma sucinta, como estão desenhados os sistemas de abastecimento de água na RMRJ e o quadro de fragilidades a eles inerentes, para apontar os desafios, tanto técnicos, como de gestão, que estão sendo postergados.
Praticamente todas as cidades, na medida em que vão crescendo, se adensando e ocupando novos espaços, são obrigadas a buscar novos mananciais e alternativas de abastecimento de água. Se, originalmente, foram fundadas e se situavam o mais próximo de locais adequados, até mesmo pela disponibilidade de água, no decorrer do tempo muitos desses mananciais se esgotaram, se tornaram insuficientes ou ficaram comprometidos pela poluição do mesmo. São Paulo, por exemplo, que por muito tempo contou com as represas de Guarapiranga e Billings para o abastecimento de parte da cidade, na medida em que, mesmo com a lei estadual de proteção aos mananciais criada para evitar a ocupação do entorno delas, não conseguiu evitar seu comprometimento, teve que buscar novas formas de abastecimento, cada vez mais distantes, como a Serra da Cantareira e até mais adiante. Los Angeles traz água de 650 quilômetros de distância; o estado da California não tem água e precisa trazer do Colorado ou do Oregon, a água viaja por canais ou por dutos de grande diâmetro.
Na cidade e na RMRJ a história do crescimento e da ocupação urbana também implicou na realização de grandes obras, em cada período. Começando com o famoso aqueduto da Lapa inaugurado em 1750, em sua conformação final, e que trazia as águas coletadas na Floresta da Tijuca, distribuindo-a através da Rua do Cano (atual Rua Sete de Setembro), até o Largo do Paço (atual Praça XV de Novembro), onde os navios vinham abastecer-se. O desmatamento da Floresta da Tijuca em função da produção de café levou à redução da disponibilidade de água, o que, associado à expansão da cidade, obrigou à busca de novos mananciais mais distantes, ao mesmo tempo em que levou a uma grande ação de reflorestamento naquela área.
Atualmente o abastecimento de água da RMRJ se dá por meio de dois importantes sistemas, que são o Imunana-Laranjal e o Guandu.
O sistema Imunana-Laranjal atende aos municípios do leste metropolitano, abastecendo as cidades de Niterói e São Gonçalo e algumas áreas da Ilha de Paquetá, de Itaboraí e uma pequena parcela de Maricá. A água é captada diretamente no Rio Guapi-Macacu, no município de Cachoeiras de Macacu, que provém das nascentes e encostas da Serra do Mar. Apesar da boa qualidade da água captada, pois as nascentes ficam em unidades de conservação, o sistema não possui barragens e depende do nível dos rios. Segundo a Cedae, a vazão média do sistema é de 6,5 mil litros por segundo, para abastecer 1,6 milhão de pessoas. Para Marilene Ramos, professora de gestão ambiental da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretária estadual do Ambiente, a captação não é suficiente para atender toda a população da região, da ordem de 3 milhões de pessoas. Para conseguir atender plenamente a região, seria necessária a vazão de nove mil litros por segundo, mas não há capacidade para isso. Também há eventualmente vazamentos nas tubulações do canal artificial do Imunana, que leva água até a Estação de Tratamento de Água de Laranjal. Enquanto isso, apenas 20% da população de Itaboraí recebe água encanada e parcela semelhante em Maricá, que é o ponto final do sistema de distribuição. Ou seja, o sistema já é insuficiente e essas limitações se fizeram sentir de forma clara durante o forte período de estiagem enfrentado em 2014 e início de 2015, com risco de racionamento para os municípios abastecidos. A recuperação florestal da bacia é uma medida fundamental, bem como a implementação de reservatórios que ajudem a regularizar vazões. Uma das alternativas para o sistema é debatida desde alguns anos e há um projeto de construção de barragem no Rio Guapiaçu, com obras orçadas em R$ 250 milhões pela Secretaria de Estado do Ambiente, mas há forte resistência de moradores da região já que implicará deslocamento de um grupo de produtores rurais. Outras alternativas na região estão sendo estudadas, como a implementação de represas menores na área de divisa entre Tanguá e Itaboraí, em parcerias com o município de Maricá, o mais afetado pelas restrições. Entre os municípios abastecidos pelo sistema, apenas em Niterói a distribuição é operada por meio de uma concessão privada, a empresa compra a água captada tratada pela Cedae no sistema Imunana-Laranjal em valores elevados, valores estes sempre objeto de discussão, pois se trata de uma oferta monopolizada pela companhia estadual.
O Sistema Guandu atende a 151 dos 178 bairros da cidade do Rio de Janeiro, e vários municípios da Baixada Fluminense (Nilópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Itaguaí, Queimados) com população da ordem de 8 milhões de pessoas. Utiliza as águas do Rio Guandu, que é formado pela junção das águas do rio Ribeirão das Lajes e dos rios Piraí e Paraíba do Sul, após estas serem utilizadas pela Light para a geração de energia elétrica. Trata-se de um sistema engenhoso que implicou inverter o fluxo original do rio Piraí, compondo uma transposição para captar parte das águas do Rio Paraíba do Sul. Por essa razão, o sistema é extremamente dependente da vazão das águas desse rio, e essa fragilidade ficou evidente durante a seca de 2014 quando se instalou uma crise hídrica que atingiu de maneira dramática a Região Metropolitana de São Paulo, a maior do país. Naquele momento, com as represas em nível crítico, o governo do estado de São Paulo propôs, como solução unilateral, captar as águas no início da bacia do Paraíba do Sul, trazendo-as para complementar os sistemas de abastecimento da área metropolitana. Essa solução comprometeria a vazão da bacia ao longo do rio, em diversas cidades, mas com efeitos dramáticos no sistema Guandu, que teria que reduzir o volume captado. Naquele momento, considerando a existência do Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul, bastante ativo, e envolvendo os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além da Agência Nacional de Águas, foi possível promover um diálogo técnico de alto nível e acordo entre todos os atores envolvidos e o Governo Federal, com definições, limites de outorga e soluções que não prejudicaram o sistema Guandu. Porém, esse cenário de risco pode se repetir, e quem pode garantir a mesma capacidade de diálogo e articulação frente aos cenários políticos variáveis e disputas federativas que o país enfrenta?
Já no chamado Baixo Guandu, onde se dá a captação das águas para o tratamento, outros fatores de risco se apresentam, nomeadamente a poluição resultante da ausência de coleta e tratamento de esgoto em partes dos municípios de Nova Iguaçu e Queimados, voltadas para a vertente desse rio, além de eventual poluição industrial. Associando a péssima qualidade da água captada no local e um problema operacional, foi deflagrada uma crise que afetou duramente o abastecimento dos moradores da Região Metropolitana do Rio no início de 2020. Por mais de um mês, a população dessas áreas recebeu nas torneiras um líquido com gosto e cheiro semelhante a terra. Em alguns municípios, a água teve cor turva. Segundo a Cedae, empresa que opera o sistema, a causa é um componente químico chamado geosmina, contido em algumas algas, que acabou entrando no reservatório.
A ETA Guandu é considerada a maior estação de tratamento de água do mundo em produção contínua (2007 Guinness World Records). Desde sua inauguração, em 1955, já passou por várias ampliações e melhorias técnicas, chegando a uma vazão de 43 mil litros por segundo, em tese suficiente para abastecer uma população de 9 milhões de pessoas. Para enfrentar o problema da geosmina, além dos enormes quantitativos de produtos químicos normalmente exigidos, a ETA Guandu passou a receber a adição de carvão ativado no processo de tratamento e de argila ionicamente modificada na lagoa próxima a tomada da água da estação.
Têm-se então, nesse sistema, fragilidades e riscos bastante contundentes que englobam a disponibilidade hídrica da bacia do Paraíba do Sul; a poluição na bacia do Baixo Guandu e o próprio processo de tratamento. À época dessa crise também ressurgiram velhas ideias como a construção de uma segunda estação de tratamento de água, ao lado da atual, o que, além de envolver recursos inexistentes da ordem de R$ 800 milhões, não alteraria o quadro das fragilidades apontadas.
O Rio de Janeiro conta com um Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERHI e também com um Plano Metropolitano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PEDUI/RMRJ, ambos elaborados recentemente por equipes técnicas extremamente qualificadas e com amplos debates e participação da sociedade civil, portanto bastante atuais e que apontam as fragilidades anteriormente indicadas, em termos de segurança hídrica.
O PEDUI/RMRJ utiliza bases e diagnóstico do PERHI e se aprofunda em um conjunto de proposições voltadas para reduzir essa vulnerabilidade e garantir melhor resiliência aos cidadãos da região metropolitana, destacando programas relevantes que envolvem a Implantação da Barragem de Guapiaçu; Enquadramento de Mananciais Prioritários e Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água. Também inclui os antigos e pequenos reservatórios já utilizados anteriormente pelos municípios, que devem ser preservados para serem utilizados, ainda que com limitações, em casos extremos.
Aponta que “…o grande problema a ser enfrentado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro se relaciona com a fragilidade da segurança hídrica, o que remete, de forma direta, à falta de resiliência do sistema”. E que essa fragilidade pode ser explicada pela falta de reservação de água bruta e pela forte dependência das águas do Paraíba do Sul, acrescentando que “os atuais sistemas de abastecimento, não são capazes de atender às demandas futuras, configurando uma necessidade de busca por novas fontes de captação e, também, dentro das restrições existentes, de ampliação dos sistemas atuais”.
Durante a crise da geosmina, um conjunto de professores da UFRJ que desenvolvem pesquisas em assuntos relacionados à ecologia aquática, recursos hídricos, saneamento e saúde pública emitiram uma nota técnica na qual recomendaram medidas que a Cedae poderia tomar para a resolução dos problemas. Sobre a falta de tratamento do esgoto nas áreas já citadas (parte de Nova Iguaçu e Queimados), indicam que “…esse problema crônico tem reflexos altamente negativos na economia e na saúde pública, e está diretamente relacionado com a perda da qualidade da água de nossos mananciais, aumentando o risco e a vulnerabilidade das populações humanas”, e que é necessário transparência sobre a situação da qualidade da água, modificações no sistema de governança de recursos hídricos e investimentos em saneamento básico.
Do ponto de vista institucional e político, as perspectivas não são promissoras: os organismos estaduais relevantes para reforçar a priorização desses temas estão bastante fragilizados. As limitações da Cedae como companhia estadual responsável pelo saneamento são históricas e por demais conhecidas. Mas além disso, por um lado, a Agenersa, agência responsável por regular os serviços concedidos, no caso, a própria Cedae tem sido omissa nesse papel. De outro, apesar do Instituto Rio Metrópole ter sido institucionalizado em novembro de 2019 como a entidade interfederativa que reúne o estado e 22 municípios e tem como missão pensar políticas públicas para a região, tendo como principais eixos de trabalho a mobilidade urbana, o saneamento básico e o urbanismo, é sabido que o corpo técnico da extinta Câmara Metropolitana, que coordenou a elaboração do PEDUI/RMRJ foi afastado dessas funções e o próprio plano ainda não foi aprovado formalmente.
Enquanto isso, o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana já aprovou a modelagem de concessão da Cedae apresentada pelo BNDES, que aponta agrupamentos de municípios metropolitanos e de outras partes do estado que seriam objeto de Parcerias Público Privadas – PPPs. Porém, mesmo após esse anúncio, novas ideias surgiram, como a manutenção da própria Cedae como fornecedora da água tratada aos serviços a serem concedidos, ou seja, responsável pelos sistemas Imunana-Laranjal e Guandu, anteriormente descritos, com todas as exigências de melhorias acumuladas.
Em síntese, assim que superadas as nuvens da epidemia do COVID-19, entre os inúmeros desafios a enfrentar, será necessário incluir nesse rol o tema da segurança hídrica e das formas de gestão dos sistemas de saneamento metropolitanos, sob o risco de que, se mais uma vez postergados, a omissão reverterá futuramente em novos desastres para a população.