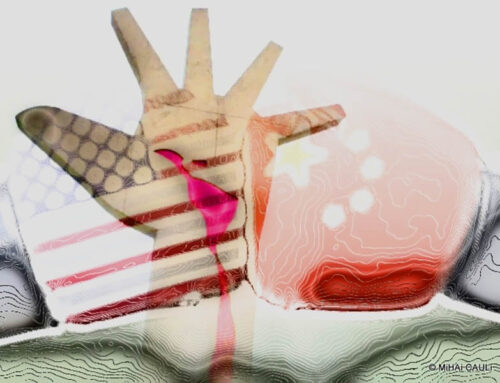Os brasileiros estão perplexos e sem esperança. As instituições políticas têm baixo nível de aprovação. Não é para menos. Os indicadores sociais são assustadores. Pobreza, saúde precária, desemprego, uberização, informalidade e outras mazelas, atingem a maior parte da população. As camadas médias sofrem com a violência urbana e a insegurança em relação ao emprego e à renda. A elite econômica se refugia em guetos disfarçados de oásis, cercados de grades por todos os lados. A falta de perspectiva, de emprego e de renda acaba atingindo todas as classes e camadas sociais, embora, como sempre, penalize com mais rigor os mais pobres.
É verdade que não somos um país atrasado do ponto de vista econômico. Mas também estamos longe do pleno desenvolvimento. Paramos no meio do caminho. Nesses últimos 40 an0s o crescimento da renda per capita foi de 0,7% ao ano. Um quase nada. Já no período anterior, entre 1930 e 1980, o PIB cresceu, em média, 6,0% ao ano[1]. Sem dúvida, uma taxa de crescimento chinesa. Não se pode dizer que não houveram progressos nas últimas quatro décadas. Entretanto, quando comparamos o Brasil com outros países que se desenvolveram recentemente, parece que ficamos parados. Mas afinal, quais são as razões para essa estagnação? Porque paramos?
Não existe uma resposta simples para essa pergunta. Este artigo pretende analisar algumas questões que, do ponto de vista institucional, podem ter sido decisivas para a formação do quadro desolador em que vivemos.
Já há algum tempo, a Ciência Econômica considera as Instituições de um país como uma peça chave no desempenho de sua economia. Nas últimas décadas, o estudo das relações entre as Instituições e a economia ganhou muito destaque e deu a Douglass North o Prêmio Nobel de 1993. Como escreveu North, em seu livro “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, “A História importa. Ela importa, não somente, porque podemos aprender com o passado, mas porque o presente e o futuro estão conectados ao passado pela continuidade das instituições sociais. As escolhas de hoje e de amanhã são moldadas pelo passado”[2].
Com base nos dados do último Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, pode-se caracterizar como países desenvolvidos aqueles que têm um IDH muito alto (maior que 0,8) e uma renda per capita superior a US$ 30 mil (em paridade de poder de compra). Com esse critério, 45 países estão nessas condições. Desse total, 38 são democráticos e a maioria esmagadora é parlamentarista ou, em alguns casos, semipresidencialista. As duas únicas exceções são os Estados Unidos da América e a República de Chipre, este, um pequeno e belo país numa ilha do Mediterrâneo. Ambos são presidencialistas. Deve-se ressaltar que a classificação adotada para países desenvolvidos é um pouco arbitrária, mas se tomarmos outras classificações como as do Banco Mundial ou do FMI a conclusão não será muito diferente: o regime político dominante entre os desenvolvidos e democráticos é o parlamentarismo ou uma de suas variantes.
Por sua dimensão, longevidade e proximidade com o Brasil, o sistema americano merece nossa atenção.
O presidencialismo norte americano
Nos EUA existe uma sólida tradição bipartidária que divide o país ao meio do ponto de vista eleitoral. Quando um presidente é eleito ele carrega consigo, no mínimo, algo próximo à metade do Congresso. Sua base de sustentação já começa com um número expressivo de parlamentares. Mesmo quando o presidente não conta com uma maioria no Congresso, a diferença em relação à oposição é muito pequena, o que facilita eventuais negociações.
Adicionalmente, a derrubada de um veto presidencial exige a expressiva maioria de 2/3 dos votos. A simples existência desse dispositivo lhe assegura um elevado poder de barganha nas negociações, já que os parlamentares sabem que o presidente usará o poder de veto em caso de derrota. E esse veto dificilmente será anulado pelos opositores, tendo em vista o equilíbrio entre os dois partidos.
Outro instrumento igualmente poderoso são as Ordens Executivas. Podem ser emitidas pelo presidente em uma vasta gama de assuntos. Kenneth Mayer em seu livro “With the Stroke of a Pen: Executive Orders and Presidential Power” relaciona oito categorias para as cerca de 5.800 Ordens Executivas que foram emitidas no período de 1936 a 1999. Criação, extinção ou transferência de atribuições de órgãos da administração, declaração de estado de emergência, criação, alteração ou extinção das áreas ou reservas públicas e política interna, incluindo energia, meio ambiente, direitos civis, economia e educação são algumas delas. Muitas trataram de segurança nacional e relações externas, como a que recentemente determinou o retorno dos EUA ao Acordo de Paris. Além disso, as Ordens Executivas dão ao presidente a capacidade de tomar a iniciativa quando algum assunto ainda não está regulado por lei. Quando o Congresso resolve legislar, os efeitos da Ordem Executiva já estão bem estabelecidos, limitando a ação parlamentar.
Essas características do sistema americano, notadamente o equilíbrio bipartidário, o alto poder de veto e as Ordens Executivas, criam condições para que o presidente, junto com o seu partido, cumpra o programa de governo que o elegeu.
Muito provavelmente, por influência cultural dos EUA a América Latina adotou o presidencialismo desde o nascimento de suas Repúblicas.
O presidencialismo brasileiro
Uma das principais diferenças entre o presidencialismo brasileiro e o americano, tem sido a proliferação partidária. O crescimento do número de partidos desde o término da ditadura militar é bastante expressivo. Logo após o fim do bipartidarismo, nas eleições gerais de 1982, concorreram cinco partidos políticos. Em 1994 na eleição de FHC já haviam 15 partidos, subindo para 28 na eleição da Dilma em 2014. Hoje estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral 33 partidos.
Além do aumento do número de partidos, o sistema tornou-se cada vez mais pulverizado. Como referência, vale destacar que em 1982 os dois maiores partidos detinham 84,9% da representação na Câmara, enquanto que com FHC esses mesmos maiores partidos foram reduzidos a 38,6%. Em 2014, com a Dilma, representavam 32,4% e hoje os dois maiores partidos detêm apenas 20,6%. Nessas quatro décadas o número de partidos aumentou muito enquanto a representatividade de cada um deles despencou. Nesse quadro, a construção de uma base parlamentar é bastante difícil, mesmo para presidentes com grande capacidade de articulação política. Para presidentes com baixa capacidade de articulação, essa tarefa é quase impossível. Não à toa, desde a democratização, dois deles sofreram impeachment e o atual, para evitar a queda, entregou a articulação política e a condução do governo aos líderes do Congresso. Formou-se uma espécie de presidencialismo-parlamentarista muito confuso e disfuncional.
Deve-se acrescentar que, no Brasil, os vetos presidenciais podem ser derrubados pela maioria dos deputados e senadores eleitos (maioria absoluta), em contraste com os 2/3 exigidos pelo sistema americano.
Mas isso não é tudo. Em termos de autonomia do presidente, a deterioração ao longo do tempo também é evidente. A Constituição de 1988 criou as Medidas Provisórias (MP) com a finalidade de dotar o presidente de uma certa liberdade, principalmente em situações de relevância e urgência. De 1988 a 2001 as Medidas Provisórias podiam ser emitidas praticamente sobre qualquer assunto, já que o texto constitucional era muito vago em relação ao significado de relevância e urgência. Eram válidas por 30 dias, mas para não perder a legalidade podiam ser renovadas indefinidamente. Esse período foi marcado por sete tentativas de conter a alta inflação herdada da ditadura militar. Por conta do combate à inflação ou pela facilidade de emissão e renovação das Medidas Provisórias, essa prática atingiu números absurdos. No auge, de janeiro de 2000 até setembro de 2001, foram editadas 134 Medidas Provisórias com mais de 1000 reedições.
Com a justificativa de conter a proliferação de Medidas Provisórias e suas reedições, o Congresso aprovou em 2001 uma Emenda Constitucional que restringiu os poderes do presidente. Esta Emenda Constitucional relacionou assuntos que não poderiam ser tratados por MP, proibiu a reedição e estabeleceu que se o Congresso não tratasse do assunto em 45 dias a MP trancaria a pauta de votações. Em 2009, uma interpretação do presidente da Câmara, referendada pelo STF, acabou com o trancamento da pauta, estabelecendo que em 120 dias a MP perderia a validade se não fosse apreciada. Na prática, a autonomia presidencial representada pelas Medidas Provisórias perdeu muito de seu valor.
Com a pulverização dos partidos, o menor poder de veto e a incerteza em relação às Medidas Provisórias, o presidencialismo brasileiro se afastou cada vez mais do modelo americano. Com o passar do tempo, o Poder Executivo foi perdendo protagonismo. No entanto, para a opinião pública o presidente continua a ser o principal responsável pelo sucesso ou fracasso das políticas públicas, embora o poder de fato tenha migrado progressivamente para o Congresso. Muitas vezes, o presidente eleito começa seu mandato com uma base de apoio bastante reduzida. A partir de sua eleição inicia uma peregrinação em busca de apoio parlamentar com negociações pontuais nem sempre muito republicanas, conhecidas popularmente como “toma-lá-dá-cá”, “troca-troca”, “balcão de negócios” e “orçamento secreto”. O resultado dessa má alocação de poder e diluição de responsabilidade está à vista de todos. Já há algum tempo, o país parece uma nau sem rumo.
Enquanto o Brasil se debate em uma evidente crise de identidade política, não sabendo ao certo se é presidencialista ou parlamentarista, vale à pena examinar com mais detalhes como se estruturam politicamente a quase totalidade dos países desenvolvidos e democráticos.
O parlamentarismo e o semipresidencialismo
No parlamentarismo, o chefe do Poder Executivo não é eleito diretamente pela população. Ele emerge da base de sustentação no Congresso. Forma-se uma maioria no parlamento com um ou vários partidos que se unem para governar. Essa maioria, estruturada após as eleições, escolhe o primeiro ministro e o Conselho de Ministros, encarregados da administração do país. A primeira consequência desse tipo de formação é que fica claro para a opinião pública qual o partido ou conjunto de partidos é responsável pelo sucesso ou fracasso das políticas públicas. Rapidamente a população percebe essa configuração e começa a dar muita atenção aos Partidos e às escolhas para deputados e senadores. De outro lado, os partidos políticos passam a entender que sua sobrevivência depende do sucesso do primeiro ministro e seus auxiliares diretos, escolhidos por eles.
Outra vantagem desse arranjo é a facilidade de substituição do primeiro ministro quando sua atuação não está atendendo às expectativas dos partidos ou da opinião pública. Em geral, neste caso, é necessário que a maioria dos deputados aprove uma Moção de Censura para derrubar o primeiro ministro. Em alguns casos, para que não haja descontinuidade, o primeiro ministro só cai quando se estabelece uma nova maioria capaz de substituí-lo.
Essa formação é acompanhada pela escolha de um chefe de Estado que é um presidente eleito pela população ou pelo Senado. Nas monarquias parlamentares é um rei ou uma rainha. Em geral, o chefe do Estado tem a função de dissolver a Câmara dos Deputados quando os parlamentares não conseguem estabelecer uma maioria para governar. Neste caso, o presidente convoca uma nova eleição, na expectativa de que os eleitores irão escolher partidos capazes de constituir uma maioria estável.
Na última metade do século passado, surgiram algumas variantes para o sistema parlamentarista que mudam um pouco a sua essência. A principal delas é o chamado semipresidencialismo. Neste caso, o presidente, além de poder dissolver a Câmara, tem outros poderes, como o comando das Forças Armadas e a administração das Relações Exteriores. Em alguns casos, divide a responsabilidade pela escolha do primeiro ministro com o Parlamento. França e Portugal são os melhores exemplos dessa configuração.
A mãe de todas as reformas
A Ciência Econômica e a experiência internacional, em grande medida, já dispõem de instrumentos para conduzir um país ao pleno desenvolvimento, com inclusão social e sustentabilidade ambiental.
Entretanto, esse caminho é necessariamente político, uma vez que exige um amplo acordo entre as forças representativas da sociedade em torno desse objetivo. E no quadro institucional em que o Brasil se encontra, esse acordo é muito difícil.
Na verdade, as Instituições americanas e de outros países desenvolvidos obrigam a composição política de partidos com proximidade ideológica e programática. Já o sistema brasileiro favorece a pulverização e o fisiologismo. O que o sociólogo Sergio Abranches chamou educadamente de “presidencialismo de coalisão” e FHC, com mais realismo, de “presidencialismo de cooptação”, nada mais é do que uma grave falha institucional.
Para aproximar o presidencialismo brasileiro do norte-americano seria necessária uma reforma constitucional profunda e de difícil execução, dando poderes ao presidente para realizar o programa que o levou ao cargo. Em contrapartida seria necessário que só se inscrevessem candidatos de partidos ou federações de partidos que aglutinassem uma parcela expressiva de deputados e senadores. Com essa restrição, haveriam no máximo dois ou três candidatos e o novo presidente iniciaria o mandato com uma sólida base no Congresso. Esse impedimento evitaria a inscrição de candidatos avulsos, sem sustentação partidária, e faria com que os eleitores dessem mais atenção aos partidos políticos.
Alternativamente, a reforma política poderia instaurar o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, como praticado na imensa maioria dos países desenvolvidos e democráticos. Este talvez seja o caminho de menor resistência, já que o enfraquecimento do presidente e o empoderamento do Congresso parecem irreversíveis. Talvez, para não ser entendido como casuísmo, o novo sistema devesse ser programado para ter início após as eleições gerais de 2030, quando a cláusula de barreira atinge o seu valor máximo (3%). Naturalmente, um amplo acordo político e o reconhecimento de sua importância poderia antecipar essa reforma. A verdade é que não nos restam muitas escolhas. Nenhuma delas é simples, mas como se diz em voz corrente “não fazer nada, não é opção”. (Publicado no Democracia e Socialismo, em nov/2021)
[1] Cardoso, Ricardo, Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último quarto do século XX, Editora UNESP, São Paulo, 2002.
[2] North, Douglass, Institutions, Institutional Changes and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2002.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Clique aqui para ler o artigo “Como afastar um presidente mentalmente incapaz”, de Rodrigo Mascarenhas.