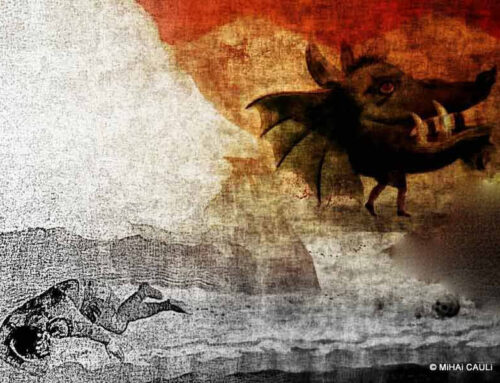O mundo recolocou na pauta a discussão da globalização comercial e financeira, o que pode abrir espaços para a retomada da industrialização como base para pensar o futuro do Brasil.

No início desse ano, a Organização Mundial do Comércio (OMC) completou 30 anos de funcionamento. Aprovada em 1994, representava o símbolo maior da liberalização comercial. Embora de fato sempre tenha sido relativa, a liberalização comercial, especialmente para as cadeias de bens industriais, representava a possibilidade de as grandes corporações produtivas espalharem as suas cadeias de produção pelo mundo, aproveitando ao máximo as vantagens de localização produtiva, estabelecendo as fases da produção nas áreas que pudessem representar menores custos. Por exemplo, um momento da produção mais intensivo em mão de obra se instalaria em um país de mão de obra barata, um momento intensivo em consumo de energia, em um país de energia barata, um mais gerador de impactos ambientais, em um país de menores exigências nesse campo, e assim por diante. Para isso, era fundamental a liberalização progressiva de tarifas, já que existindo tarifas, em especial em níveis altos, isso significaria um acréscimo de custo a cada momento que tivesse que ser cruzada aquela fronteira.
A OMC, entretanto, acabou não se limitando ao comércio de bens, propriamente. Ao se estabelecer a nova organização, toda uma agenda dos chamados "novos temas" foi a ela incorporada: a liberalização do comércio de serviços, questões relativas à propriedade intelectual, questões relativas a investimentos, regras de origem, defesa da concorrência (leia-se, em geral, pressão contra empresas estatais existentes) e outros. A pretensão da OMC era imensa, e até pelo menos 2008 funcionou como um gigante do sistema multilateral de regulação.
A questão tarifária, entretanto, sempre foi o centro do discurso oficial da OMC, mesmo porque a organização era uma sucessora direta do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), que ficou como paliativo a partir da não constituição da Organização Internacional do Comério (a OIC) para administrar o comércio internacional no imediato pós Segunda Guerra Mundial (aliás, por oposição dos próprios EUA). A OIC, se constituída naquela altura, completaria o tripé previsto pelas conversas de Bretton Woods, com o FMI e o Banco Mundial, para regular a economia mundial no pós-guerra, tomando em consideração que a guerra comercial e a instabilidade cambial e financeira a partir do fim dos anos 1920 até o fim da Segunda Guerra eram entendidas como o ambiente econômico que teria ajudado a levar ao conflito.
Esse sistema de regulação já tinha entrado em crise a partir das disputas financeiras dos anos 1960 e da posição do governo Nixon, nos EUA, no início dos anos 1970, de pôr fim ao chamado "padrão dólar-ouro", que estabelecia uma relação de câmbio entre as várias moedas em relação do dólar dos EUA e entre si que, além de uma certa banda de flutuação, só poderia ser alterada após consulta ao FMI, e um valor fixo de US$ 35 por onça (cerca de 28,35g) de ouro. E esse sistema previa que os países poderiam transitar livremente do dólar estadunidense para o ouro (ou seja, se quisessem, o governo dos EUA deveria converter para eles suas reservas de dólares em ouro). Isso já não era feito informalmente pelos EUA a partir dos anos 1960, e a partir de agosto de 1971 o governo Nixon (um republicano, como Trump) anunciou formalmente que os EUA não mais o faria. Tomou essa decisão, obviamente, de forma unilateral, ou seja, o que havia sido decidido por vários foi desfeito por um.
A partir daí, e especialmente a partir de 1973, com os fluxos internacionais dos chamados "petrodólares", recursos extraordinários acumulados pelos países produtores de petróleo começam a circular pelo mundo em busca de valorização, e a partir dos anos 1980 foram atraídos massivamente para os EUA pela política de juros estratosféricos do governo Reagan (outro republicano). Essa atração de capitais circulando na órbita financeira começou também a desfazer o sistema de controles de fluxos de capital estabelecido no pós Segunda Guerra; os capitais deveriam poder circular livremente para buscar sua máxima valorização. Essa era a chamada globalização financeira, que também avançou rapidamente nos anos 1990, junto com a globalização comercial.
Lembram-se do endeusado Plano Real, política anti-inflacionária adotada a partir de 1994 no Brasil? Tinha especificidades, mas na prática não diferia muito de outras políticas similares adotadas no mundo e na América Latina a partir desse momento. Na essência, não era tão complicado entender esses planos. Os pacotes para as crises vendidos pelas instituições de Washington (FMI e Banco Mundial) incluíam uma combinação de liberalização financeira e comercial. Ao liberalizar a movimentação de capitais e desmontar os controles, você abria para a entrada desses capitais que buscavam a valorização pelo mundo – especialmente se o país oferecia juros muito altos e oportunidades de ganhos com privatizações, por exemplo.
Essa entrada forte de capitais jogava o câmbio em moeda nacional para baixo, valorizando as moedas nacionais (lembram-se do real, no comecinho, valendo R$ 0,93 por dólar?). Os preços dos produtos em moeda estrangeira ficavam baratos, e com a liberalização comercial você podia importar massivamente, especialmente dispondo de moeda internacional que entrava fartamente. Os preços caíam, e estabilizavam. Foi assim por toda parte. O efeito colateral? Desindustrialização, com a avalanche de importados e a pouca competitividade dos produtos nacionais, que ficavam mais caros em moeda internacional, e especialização regressiva – os países não desenvolvidos se concentravam na exportação de commodities agrícolas, minerais e energéticas. E provocavam crises financeiras, porque os capitais que entravam massivamente podiam sair massivamente no momento seguinte (foi a situação corrente na segunda metade dos anos 1990: o Brasil passou por crises de balanço de pagamentos em 1998/1999, e depois em 2002). Temos até hoje a possibilidade de desenvolvimento industrial travada por esse passivo de 30 anos ao qual ainda nos aferramos.
Quando o governo Trump reinstitui a guerra tarifária como método de ação, mesmo que seja para negociar, está jogando, de certa forma, a pá de cal na política de liberalização comercial que foi defendida até então (mas que desde 2008 vinha sendo desconsiderada por vários países que tentavam proteger sua produção nacional de importados, a partir de medidas protecionistas na prática, e se proteger dos efeitos da crise internacional). Curiosamente, os vários governos pelo mundo, apesar de muitos na prática levarem adiante medidas abertamente protecionistas desde 2008, adotam o discurso da defesa da liberalização comercial e da globalização.
Estamos exatamente no momento em que o ambiente internacional dá as condições para que se possa refazer uma discussão politicamente complicada, mas que para muitos países como o Brasil, está na raiz da sua possibilidade de um desenvolvimento mais inclusivo e com forte componente tecnológico, que tenha a retomada da industrialização como base para pensar o futuro. Em especial, repensar a regulação do comércio mundial em prol do desenvolvimento da maioria. E voltar a regular os fluxos financeiros, evitando crises cíclicas e limites ao desenvolvimento.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Clique aqui para ler artigos do autor.
Relacionado: "Trump e sua estratégia de dominação".